#NósNão
por Bruno Cava
…………….
O interesse do último livro de Idelber Avelar, “Eles em nós; Retórica e antagonismo político no Brasil do século XXI”, está em expor, a propósito de um evento histórico preciso — a ascensão de Bolsonaro à presidência — os princípios que regeram o curso dos acontecimentos e que os tornam inteligíveis. Como foi que chegamos aqui? O que precisou acontecer, qual o grau de liberdade dos atores, as circunstâncias? Quais foram as transições imperceptíveis, os arrevesamentos, as reviravoltas, o que nos fez de repente acordarmos nesta situação em que nos encontramos hoje e na qual parecemos estar atolados?
……………………
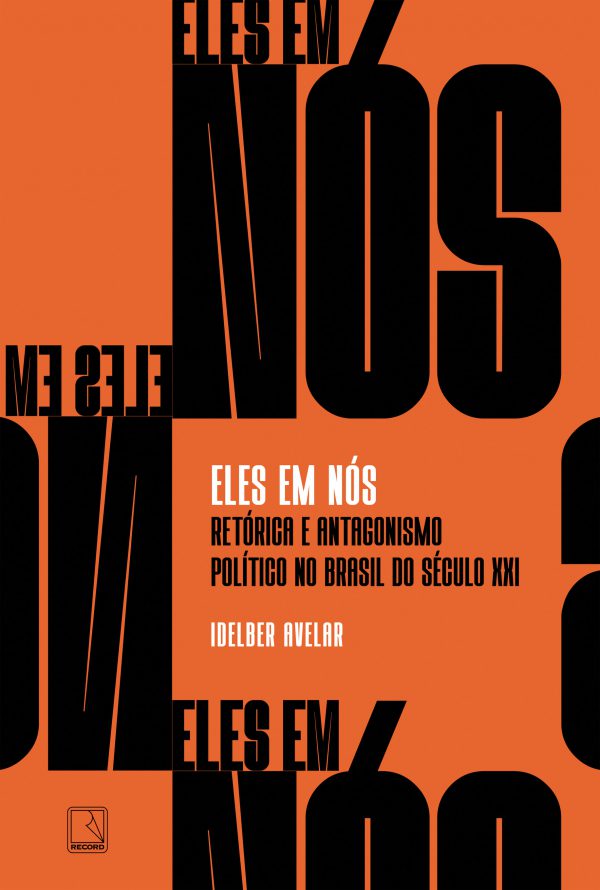
……………………
A originalidade do autor está, em primeiro lugar, em desviar da profusão de explicações reducionistas que, a pretexto de um vago engajamento pessoal, se poupam de fazer a análise histórica e material. Nestas, a legibilidade da atualidade brasileira é reduzida a primárias dicotomias entre o bem e o mal, entre os justos e os injustos, os inteligentes e os ignorantes. Destoando da bolsonarologia prêt-à-porter, abundante nas esquinas das redes sociais ou nas bancas acadêmicas, este é um livro materialista e histórico. Não assume o primado subjetivista do julgamento do autor a respeito da realidade em que está imerso, sem com isso ser relativista, pois situa continuamente a sua própria perspectiva no fluxo das situações. Com efeito, Bolsonaro é uma “devastação sem precedentes” — como Idelber não cansa de pontuar — mas não se pode falar de Bolsonaro sem falar de uma sequência longa de outros personagens e eventos que permearam as últimas duas décadas de história brasileira. Idelber fala do que nos aconteceu num passado bastante recente, o que está virando tabu devido ao cenário ultra polarizado de narrativas fechadas. Só por desinterditar o caminho da análise e despressurizar o ambiente de pesquisa já eleva “Eles em nós” a um patamar acima da produção corrente sobre os temas tratados.
Que o leitor não se engane pelo enfoque retórico, apresentado como método pelo professor de letras. A análise do discurso também é de infraestrutura e consiste num estratagema perfeitamente consciente para a aproximação e penetração na trama do real. Pois a linguagem aqui precisa ser entendida ao modo pragmatista, enquanto caixa de ferramentas ou modo operativo. A linguagem articula sujeitos e objetos num campo estratégico de práticas e saberes. Prevalecem na análise do discurso os seus usos e funcionamentos, quer dizer, para que serve e como funciona, no interior das teias de relações. O léxico opera como engrenagem em cadeias operatórias da realidade e, por isso mesmo, o assassinato de palavras é inseparável de práticas políticas. Mais do que intenções boas ou más, importa a situação concreta do enunciador, a sua latitude de ação e criação. Não existem campos semânticos absolutos, como que mirados do infinito de onde se buscaria depurar significados dicionarizados para as realidades de fato.
Mesmo os silêncios e as elipses têm uma função relevante na colocação em jogo das palavras e sentenças. Por exemplo, por que gritaram golpe? Para o autor, o imperativo estava associado, primeiro, a uma mania de longa data que é a tradição do apagamento, da desmemoriação. Por isso gritar e não falar golpe, como que para impor pelo volume contra qualquer objeção sensata ou mais elaborada. Berrava-se golpe para escamotear os fios emaranhados de eventos que levaram ao tombo do PT e à destituição da presidente. Golpe é uma palavra cujo uso não consistiu em instrumento de descrição para retratar o que seria um golpe de estado. Pois não houve, o último foi em 1964, como o sabem bem os que inventaram a tática discursiva. Mas gritar golpe foi funcional para esconder o longo rabo do petismo e driblar os porquês do tropeção dilmista. E assim brincar com a ideia que as contas haviam sido resetadas, nada mais a prestar.O caso da narrativa do golpe não era apenas se apressar para anular maiores elucidações sobre o complexo de fatos, como também intimidar que essas elucidações não fossem sequer cogitáveis. Afinal, seria fazer o jogo do inimigo maiúsculo e que nos redime a todos: Ele. Cogitar das razões e dos fatos sem pudores ou eufemismos, doa a quem tiver de doer, é uma das pegadas mais fortes deste livro.
O mérito da abordagem retórico-pragmática — que nada tem de superestrutural no mau sentido da expressão — reside em desvendar o bolsonarismo como processualidade em marcha, uma verdade detectável e uma experiência vívida para dezenas de milhões de brasileiros em todos os segmentos possíveis. Sem preguiça epistemológica, o livro se recusa a seguir a manada de cérebros que reduz o bolsonarismo à história de um erro, engodo, enlouquecimento ou ressentimento. O problema não é que o bolsonarismo seja fake. O problema é justamente que ele não é fake.
Bem diferente da literatura dita de Esquerda que recentemente abraçou o gênero das angeologias e demonologias. Os justos apenas erram e se enganam enquanto os injustos são sempre malignos de intenção. Os justos coincidem com seus propósitos declarados, enquanto há algo por trás dos injustos. No bate-bola entre anjos e demônios, o enredo só poder ser de teodiceia, em que o sofrimento da vítima perdoa-nos a ação ineficaz ou falta dela, já que no juízo final da História a justiça será feita. É todo um gênero de livros nos dispensam de encarar a liberdade, pois o cenário se move por si só com suas entidades sobrenaturais, cujo exemplo extremo se encontra na bem-sucedida obra de jouissance ideológica, assinada por Jessé Souza.
………..
.…….…….
…………
Apesar de não afrontá-lo diretamente, “Eles em nós” também traz uma contribuição ao debate global sobre o populismo. Na última década, as teorias sobre a razão populista vêm cada vez mais atraindo intelectuais e acadêmicos desiludidos com os resultados (ou ausência deles) do ciclo de lutas das primaveras e ocupas (2011-2016). A ponto de passarem a simpatizar e às vezes abraçar a ideia de um populismo do Bem ou de Esquerda. Um exemplo disso está em Pablo Gerbaudo (“A máscara e a bandeira; Populismo, cidadanismo e protesto global”, 2017), que depois de pesquisar acampadas pelo mundo afora resolveu arrematar o estudo com o anarcopopulismo. Em geral, nas formulações neopopulistas de esquerda, o populismo assume a missão de salvar-nos da pasmaceira pós-histórica do neoliberalismo. Seria um alvo de oportunidade dado pelas circunstâncias difíceis das lutas e pelas limitações encontradas pelo ciclo de ocupas, que aliás as Direitas foram sagazes em identificar e, tendo perdido o primeiro páreo, agora nos caberia correr atrás. Apropriar-se das oportunidades latentes do populismo — seja em suas versões apologéticas de aparelho partidário, seja na mais sofisticada de Ernesto Laclau — seria a tarefa organizativa pós-primaveras. Daí o estranho fascínio que figuras populistas como Trump ou Putin exercem nos autores neopopulistas, assim como episódios de reasserção da antiga soberania — como o não consumado Grexit de 2015, o Brexit de 2016 ou a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Segundo o raciocínio, apesar de tudo, teria se aberto uma brecha alternativa à globalização financeirizada. O diagnóstico é de um kairós populista que valeria a pena captar para então torcê-lo à Esquerda (ao Bem).
Indiretamente, porém de maneira engenhosa e prospectiva, “Eles em nós” intercepta a problemática. Façamos um breve excurso antes de retomar o fio da meada.
As raízes do pensamento político do populismo remontam à obra seiscentista de Thomas Hobbes. Poucas imagens são tão emblemáticas quanto o frontispício do “Leviatã”. Na ilustração do livro de 1651, o soberano é um monstro gigante composto pelos corpos amalgamados dos súditos. Os súditos têm rostos informes, são anônimos, permutáveis, mas a cabeça da criatura é a própria pessoa do rei. Um corpo físico que completa o corpo místico indiviso da soberania. O rei é a consciência da nação, a vontade una, a direção. Para Lênin, a cabeça passa a ser ocupada pela vanguarda revolucionária, aquela que vê e orienta o passo. Carl Schmitt, o jusfilósofo do nazifascismo, atualizou a doutrina da soberania de Hobbes em sua vasta produção sobre direito constitucional (“Teologia Política” , “A ditadura”, “O conceito do político”). O soberano confere unicidade e compacidade ao direito constituído, visto que, de fora, por meio de uma qualidade ao mesmo tempo imanente e transcendente, assegura a vigência do edifício normativo e roteia o jogo entre força e lei. Schmitt acrescentou à teoria hobbesiana da soberania a ideia do poder criador inerente à decisão do Líder acima do bem e do mal que, em estado de exceção, garante o Direito. É por isso que o elaborado constitucionalismo schmittiano é ao mesmo tempo positivista, pois bem assentado no império da Constituição, como extremamente decisionista, pois dependente de uma liderança bonapartista para servir-lhe de Guardiã — que, para C. Schmitt, descortinava a sua aurora com a ascensão do Führer (pelo menos até o jurista ser perseguido, em 1937, pelo regime de que participara).…………
Para Carl Schmitt, a decisão do líder restitui o princípio constituinte ao coração do direito e propiciando assim superar a decadência moral e a dissolução dos valores provocada pela sociedade aburguesada niilista que, na mitologia nazista, se confunde com o próprio Judeu atemporal. O judaísmo político contra o que Schmitt se bate na década de 1930 é a figura pré-histórica do que, meio século depois, será combatida renomeada como pós-modernismo ou neoliberalismo: o ocaso do Sujeito, da Metafísica, do Político, em proveito das forças impessoais e processos sem sujeito do Mercado. Com o argentino radicado no Reino Unido Laclau (“O fazer das identidades políticas”) e a belga Chantal Mouffe (“O retorno do político”, “Hegemonia e estratégia socialista”, o último em coautoria com Laclau), o antídoto ao ocaso da luta de classe em sua forma canônica, i.e., opondo capitalistas e proletariado, estaria na reposição do Político de uma maneira renovada. Na obra interligada, ambos os teóricos desligam de vez o antagonismo de uma ancoragem em última instância na infraestrutura, para assumir o combate pela hegemonia cultural de Gramsci sem, contudo, a contraparte marxista da luta de classe. A classe estaria superada pelo curso dos eventos, estilhaçada irremediavelmente nas múltiplas demandas que não encontram lugar representativo na ordem vigente. É preciso entrelaçar as diferentes demandas heterogêneas prescindindo de um termo comum que, outrora, derivada da leitura da contradição fundamental ou do antagonismo dos antagonismos (como em Engels, Mao ou Althusser).
Isso os leva a postular, ainda na década da viração de 1980, a necessidade da construção de uma unidade de novo tipo, não mais calcada no Partido ou na Ideologia em sua unidimensionalidade de classe. Inspirados historicamente pela experiência peronista na Argentina, a ideia de um líder populista reaparece na estratégia do neossocialismo como fator indispensável para evitar que os fragmentos soltos, desancorados, não fiquem a mercê das derivas pós-modernas e solvências neoliberais. Laclau desenvolveria essa linha de pensamento político às últimas consequências em “As fundações retóricas da sociedade” e “A razão populista” (2005). É preciso um líder para que o heterogêneo possa funcionar junto, é preciso um nome e uma retórica desenhada na construção de Eles x Nós, em suma, de um Ismo (chavismo, evismo, lulismo, bolsonarismo), para que os nacos desconexos do suco pós-moderno possam coagular e polarizar e, como tarefa do partido de novo tipo, confrontar a ordem vigente de representações (o neoliberalismo). Assim como no livro de Idelber, a análise do discurso num circuito comunicacional de alta voltagem é primordial para a fabricação de uma força política que processe os antagonismos.
Em síntese, o populismo do bem é uma aposta política na qual às manifestações, demandas e movimentos, seria necessário acrescentar uma unidade, mesmo que em sua modalidade pós-histórica ou pós-ideológica — unidade esta que, em vez de aplastar a diversidade e suprimir as divergências, busca instituir um sistema operativo de mediações que permita que ela opere combinadamente e juntos possam golpear, num front único e polarizado, a realidade da ordem posta.
………………….

…………….
Ocorre que Junho, expressão local de um ciclo global e expressão global de um ciclo local, demonstrou outra via em relação às saídas populistas (Lula, Moro ou Bolsonaro).
Sobre o primeiro nome próprio, Idelber converge com a formulação do André Singer em “Os sentidos do lulismo; Reforma gradual e pacto conservador” (2012) para logo depois divergir do mesmo autor em “O lulismo em crise” (2018). O modo de Lula é o oxímoro, isto é, é a junção dos mutuamente excludentes, a combinação dos incombináveis. Comparado ao Luís Bonaparte na leitura do Karl Marx do “18 de Brumário” (1851) por Singer, Lula teria conseguido superar a pasmaceira ao unir as massas desorganizadas às elites conservadoras, os movimentos sociais aos ruralistas e empresários graúdos, os intelectuais produtivistas ao projeto neoliberal de conscrição da força de trabalho precarizada, os campeões nacionais aos fundos internacionais de investimento e tutti quanti. Graças a Lula, sindicalistas da fábrica foram alçados a felizes gestores do capital financeiro, centrais sindicais viraram a ponta de lança da flexibilização das normas trabalhistas (terceirizando inclusive os protestos), e uma ex-guerrilheira se tornou a principal promotora do plano estratégico e nacional de desenvolvimento dos vencidos que a torturaram; entre outras esquisitices que costumam ser tematizadas na literatura tardia de (dis)formação nacional (F. Oliveira, R. Schwarz, P. Arantes) — tradição brasilianista rediviva na qual, aliás, o livro se inscreve de seu jeito singular e sempre incisivo, sem cair nos cacoetes da dialética.
O lulismo foi uma máquina retórica de assimilação dos antagonismos no interior do funcionamento retórico-pragmático do oxímoro. Isto resolveu a equação de como viabilizar o projeto neoliberal um país tão desigual e violento, mas não resolveu tudo. Nem todos os antagonismos foram pacificados e outros emergiram em meio à franja de pós-modernização do país. Algo aconteceu às costas do lulismo, como se Junho tivesse comparecido, do futuro, a se desencadear antes de junho. Por assim dizer, começou a tornar-se o que é, antes mesmo das condições de sua inteligibilidade. Nos anos FHC-Lula, a inclusão precarizante por meio do consumo teve por subproduto a formação de uma massa de empreendedores e empresários de si doravante equipada com ferramentas e capacidades que não existiam. Em 2013, o consumo foi às ruas, numa revolta sem partido, sem líder, sem unidade. Feita na amálgama, na deriva, na ausência de termo comum. A multiplicidade moída pelo maquinário de inclusão sob a política oximórica ressurgiu como antagonismo-amálgama, onde menos se esperava, pois de maneira radicalmente nova. Foi como se os animal spirits despertados pelo neoliberalismo tivessem sido ressubjetivados como antagonismo noutros termos — em relação inclusive às tradições do petismo ou do mais antigo nacional-desenvolvimento.
Singer derrapa, em “O lulismo em crise”, ao sustentar que a presidenta e sua equipe da esquerda petista teriam ensaiado um passo corajoso, que resgataria o sentido do antagonismo que o lulismo havia nulificado em sua gestão bonapartista. Ao populismo da aliança com as massas organizadas, os anos Dilma seriam de repolitização pós-neoliberal, agora com a reorganização através do fio da produção nacional, estratégica e planificada. Dilma era pra ser Geisel mais os sovietes. Foi um desastre de cabo a rabo. Singer atribui-o a erros e ingenuidades, mas não é capaz de perceber a fratura fatal que Junho desferiu sobre o lulismo e a sua própria aposta teórico-política na superação do lulismo de dentro, pelo dilmismo. Ofuscado por uma oposição de cartilha entre economia real e finanças, Singer passou ao largo do novo antagonismo que irrompia em 2013, além do Lula, além do populismo.
O que funcionava no lulismo — a pacificação do antagonismo — parou de funcionar com Junho. Em vez de superado por uma nova matriz que nunca saiu do conto de fadas, o lulismo era devorado de dentro para fora. Mesmo o mais avançado experimento institucional do governo Lula — a Comuna pós-moderna do MinC na era da reprodutibilidade digital — foi desmontado pela inflexão dilmista, em nome do lobby dos direitos autorais, dos burocratas petistas ansiosos por cargos e do buarquismo familista que depois viria a embalar musicalmente as missas brancas das passeatas contra o impeachment.
Junho não foi a multiplicidade mais a unidade do populismo que desfigura aquela. Junho foi operação subtrativa: a multiplicidade menos a unidade, para desfigurar a totalidade. À produção populista do conjunto supranumerário (n + 1), a multidão das primaveras, unida na diferença sem equivalências, foi (n – 1). Eis aí o trauma que fraturou o universo simbólico do PT e das esquerdas a ele discretamente (ou nem tanto) subservientes. Mais do que irrupção do inopinável, a multidão de Junho foi a intrusão de Real que enlouqueceu as esquerdas petistas, parapetistas e arquipetistas. A indigestão foi total. Em vez de autocrítica e aggiornamento, preferiram a comodidade da submersão num substrato fantasioso com jornadas heroicas e gloriosas, quando na verdade só havia uma farsa de personagens rebaixados. Plaft, um tombo cômico antes que queda trágica. Ao recalcar simbólica e violentamente Junho, o recalcado retornou do futuro para atormentar-nos a todos. Nenhuma retórica do golpe foi capaz de passar a borracha nele.
Idelber aponta que a Lava Jato não foi Junho, porém lhe aproveitou as condições produzidas. Novamente, desviado dos enredos admonitórios do bem contra o mal, Idelber reconhece como a Lava Jato foi uma verdade, como foi efetiva e mudou a paisagem. E mais: como a Lava Jato em toda suas múltiplas vertentes se baseou na exposição de uma verdade: os discursos heroicos, épicos, do Brasil finalmente reconciliado com a trajetória de seu destino maior não passavam de viabilizadores da safadeza de sempre. Se a ditadura desenvolvimentista de Geisel deixou como herança maldita a hiperinflação, o desenvolvimentismo ditatorial de Dilma legou-nos a hipercorrupção. É uma realidade histórica que não se apagará pela ação de panfletos partidários.
………….

………………
Se o lulismo funcionava ao modo do oxímoro, a figura retórica da Lava Jato é a tautologia. Tautologia que se inscreve, por sinal, na própria lógica de ativismo judicial que orientou as muitas linhas e fases da operação. Jacobinos de uma modernização por cima da política nacional, os lavajatistas passavam de prisão em prisão, num círculo autorreferencial cujo desaguadouro final estava nos efeitos de cena, que retroalimentavam o processo. Como citado por Idelber, o espetáculo da imolação pública dos corruptos que resultava sempre em mais um episódio, como a longa barriga de uma telenovela em 180 capítulos. O neoconstitucionalismo em guarda da Constituição que suporta o decisionismo como fundamento não deu conta de apresentar-se à sociedade para além da agenda do crime e castigo. Um populismo que não pacifica o antagonismo não poderia ir longe.
O que no livro talvez esteja subdimensionado no capítulo sobre a Lava Jato é como Moro ocupou o lugar de Lula, no âmbito das gigantescas manifestações do ciclo anticorrupção, entre 2015 e 2017. Era ele quem conferia um sentido de unidade ao todo informe de tendências. Moro foi a liderança populista capaz de fazer o diverso funcionar junto e, por isso mesmo, o movimento anticorrupção não conseguiu sobreviver à própria Lava Jato. Desde o começo, era reconhecido não somente como justiceiro das massas indignadas, como também como uma liderança capaz de peitar os inimigos da nação e tirá-la do mar de lama. O quanto não esteve à altura dessa tarefa peronista se mostrou com a aceitação do cargo em 2018. Foi nesta passagem — e não devido aos vazamentos do Intercept, cujos efeitos parecem estar sobredimensionados — que a Lava Jato ultrapassou o centro de gravidade de sua derrubada, no momento em que rompeu o círculo tautológico para assumir-se o que sempre fora: uma potência antagonista com pronunciada dimensão política, mas profundamente limitada nos métodos e estratégias.
O capítulo final de “Eles em nós” reconstrói o mosaico de disparates que propiciou a ascensão de Bolsonaro. Como a enciclopédia chinesa de Borges, a classificação dos atores que compuseram o patchwork bolsonarista não admite qualquer dimensão niveladora ou lógica simples de soma ou justaposição. Não é que os elementos sejam simplesmente diversos entre si, é que as próprias categorias de medida dos elementos têm uma lógica singular. A constelação bolsonarista é duplamente heterogênea. Então, digamos, há o Partido do Boi que congrega velhos aliados petistas do agronegócio, mas também sertanejos insurgidos pela perda de renda, o público dos rodeios, a galáxia da música sertaneja moderna. Mas comparece também o Partido Teocrata com políticos como Marco Feliciano e Bispo Macedo, assim como igrejas neopentecostais pobres que são o mais próximo hoje do trabalho de base das antigas CEBs católicas. Ou o Partido do Mercado, que envolve dos investidores da Faria Lima aos grandes fundos de pensão e instituições financeiras multinacionais. Mas pode haver sertanejos e caminhoneiros evangélicos, assim como elites neopentecostais da velha política, ou investidores da Faria Lima que são militantes da internet, e assim por diante.
Outra categoria adotada por Idelber, a mais interessante, é o que ele chama de Partido dos Trolls. O troll é uma figura que descende desde as primícias da internet, descendente do bobo medieval ou do avacalhador rodriguiano, que vem conquistando fortuna crítica em meio ao ambientes neuroticamente polarizados e de pressurização moral provocados pela cultura do cancelamento, os social justice warriors e os linchamentos virtuais de desafetos bem conhecidos ou anônimos desavisados. Diante da seriedade santimoniosa e da grandiloquência cínica dos grupos identitários, os curingas à brasileira se articularam tenuamente na entropia do submundo da internet, para montar uma máquina de guerra militante de fazer inveja aos anos dourados do petismo, com alto engajamento e poder de magnetizar a atenção. Não se explica Bolsonaro sem passar pela Militância Ativa Virtual contratada nas eleições e pelo afunilamento de plataformas e mídias em clusters em regime de hiper-identificação e hiper-polarização: uma arena pública suscetível ao, por assim dizer, ciberpopulismo (ver, por exemplo, as pesquisas de Leticia Cesarino).
Com a recombinação de 2018, se dissolveram as oposições amigo/inimigo que permeavam o oxímoro lulista e a tautologia lavajatista. A reposição incansável de Eles x Nós na superfície da retórica, por lulistas ou lavajatistas, revelou um fundo não-antagonista no qual Eles e Nós se entretecem e se frequentam, não apenas na forma, como material e historicamente. Não se trata apenas de isomorfismo “de discurso”, mas de um processo imbricado de alimentação mútua e revezamento real. E não é que a polarização colocada em marcha por Lula ou Moro seja falsa. As elites são reais, a casta política pemedebista é real. O que é falso é que as elites e a casta sejam Eles.
Ambos os modos operativos do populismo participam, cada um a sua maneira, da neutralização do antagonismos, seja na forma do pacto conservador de inclusão social no neoliberalismo, com Lula, seja no círculo autorreferente da Lava Jato constituinte e decisionista. A retórica da polarização é o movimento objetivo do falso (Eles x Nós) e sua eficácia é gerar a ineficácia de qualquer mudança, pois num e noutro caso preserva-se o mesmo sistema de gestão da normalidade. Trata-se de diferentes maquinários performáticos para o deslocamento de antagonismos que Junho tão dramaticamente exprimiu. A diferença do bolsonarismo vem do fato que, represado ao extremo, o caldeirão de antagonismos explodiu. Primeiro, com a estupefaciente greve geral protagonizada pelos caminhoneiros (infelizmente pouco abordada no livro), em maio de 2018, que, lembremos, pedia redução de preços, proteção social como também intervenção armada e bonapartista; e logo a seguir com a mobilização eleitoral ao redor de Bolsonaro, em outubro daquele mesmo ano. A única ideia que Bolsonaro teve na vida foi colocar-se a serviço do antagonismo em tempo integral, representando-o por meio de seu imaginário retrógrado.
No lulismo, a retórica tinha uma face voltada à esfera pública e outra diametralmente contrária voltada aos gabinetes. De um lado, a retórica entre o militante (contra as elites) e o estadista (contra o atraso); do outro lado, a negociata chã, o pemedebismo, os campeões nacionais da roubalheira, os acordões com os piores tipos, a engenharia dos propinodutos. No lavajatismo, a retórica do antagonismo (contra a casta) se fechava sobre si própria tal qual o juízo kantiano do belo: um fim em si que, fora do circuito policial de prisões, se resolve na contemplação desinteressada da razão constitucional maior. Agora, com Bolsonaro, a retórica do antagonismo se deu ao revirar e canalizar as energias represadas mediante a violência despudorada, sem trégua, pacto ou conciliação à vista. A lógica amigo/inimigo herdada dos populistas Lula e Moro é recombinada num populismo extremista, que faz do inimigo a ser brutalizado o esquerdista, o indígena, o “vagabundo”, o imoral. O bolsonarismo toma emprestado a retórica de promessas vindicativas da obra de Jessé Souza, do filme Bacurau ou do neoestalinismo para realizá-la com o que de mais avançado existe em termos de tecnologia de biopoder no Brasil: a milícia.
O nosso drama aumenta se contemplarmos, com o livro, de onde o bolsonarismo tira a sua potência como movimento de violência. Um discurso que capitaliza sua capacidade de contágio não devido à tese abrasileirada da “interferência russa” (a indústria das fake news, os disparos em massa, como se nunca tivesse havido João Santana), mas pelo motivo contrário. Sua retórica se apoia numa verdade quanto ao funcionamento do lulismo/dilmismo (Petrolão), do esquerdismo (economia da culpa), do neoliberalismo (desamparo social) e do lavajatismo (idealismo travestido de ditadura comissária). Até a aliança com o Partido do Mercado corre o risco de terminar como terminou a lua de mel entre Bolsonaro e Moro, quando veremos até que ponto os efeitos da globalização neoliberal são capazes de reassimilar um possível dissenso no nível da economia financeirizada. De qualquer modo, o que elegeu Bolsonaro foi bradar de maneira debochada e simplória um bom naco de verdades — e não por mentir, embora também tenha mentido.
Da leitura deste livro, fica uma inquietação. Para retomar a tão feliz menção à enciclopédia borgiana, com seu misto de conjuntos subnuméricos e enumerações irracionais, alguns perguntam se a amálgama de Junho poderia de outra forma encontrar uma linha organizativa que não passe pelo princípio da soberania (Hobbes), do poder constituinte investido no líder (Schmitt) ou da liderança populista pós-ideológica (Laclau). Ora, a linha organizativa aconteceu! Ela já é. Pois não houve desorganização, assim como a trama social neoliberalizada não é desorganizada, mas organizada de outra forma. Não existe vazio desorganizado a ser organizado pela cabeça do corpo multitudinário. É esse corpo disforme que deve ser coroado diretamente, sem cabeça. Precisar da muleta do populismo para justificar a volta do antagonismo seria admitir que, dentro do neoliberalismo, a história teria mesmo chegado ao fim. Contudo, ela continua, como Junho demonstrou. Habemus política, antagonismo e organização, que não seja a regressão populista ou neopopulista. Dispomos de uma potência criativa que não passa pela volta do populista menos pior.
Este é um livro que começa a colocar melhor os nossos problemas, que são difíceis.
……….

……..
……….

