Liberdade e estado de exceção
Considerações sobre o conceito de liberdade em tempos de quarentena
……….
por Carolina Starzynski e Thomaz B. de Arruda
………
Em meados do século XVIII, uma misteriosa praga aportou no cais de Messina, carregada por um navio vindo da ilha grega de Corfu. “Foi na época da peste em Messina”, dizem, “e a frota inglesa ancorou ali, e visitou o Felucca, a bordo do qual eu estava, e essa circunstância nos sujeitou, em nossa chegada, após longa e difícil viagem, a uma quarentena de vinte e um dias”. Quem narra o episódio transcrito é o filósofo político Jean Jacques Rousseau, em suas Confissões, de 1782, em passagem que agora parece se descolar da condição de simples relato histórico, fazendo-se desdobrar sobre o tempo presente, com o que passa a assumir novas implicações de sensibilidade e sentido, que nos assaltam, sempre em surpresa, por um desses movimentos furtivos da memória ou da experiência humana.
…………

………….
As linhas que seguem em seu relato podem causar algum espanto, pela imediata identificação que hoje nos são capazes de gerar (essa mesma identificação que há pouco nos era plenamente, e talvez, injustificadamente, ignorada); retratam as angústias e singelas inventividades que advêm ao indivíduo posto em confinamento; tecem considerações sobre a transformação de um robe de chambre em manta, baús em bancos, e livros de viagem em pequenas bibliotecas; elogiam, enfim, o isolamento como postura ética do sujeito, o que é compreensível; mas, acima de tudo, revelam aquilo que a recorrência histórica da quarentena reverbera, por uma leitura política: a constante batalha entre a liberdade individual e o bem coletivo; e, ainda, e talvez mais essencialmente, o drama que se trava entre o direito do particular e o dever do soberano (meramente sugerido no diário de Rousseau, como sujeito indeterminado, que hoje toma a forma de Estado Social e Democrático de Direito, em grande parte dos lugares); o problema da liberdade.
É fato que há novidade na escala e condições sob as quais o drama é, hoje, reencenado: nunca, como humanidade, vivenciamos algo semelhante. Arrisca-se, contudo, a afirmar que, por debaixo dos novos figurinos e atores, escondido sob o palco, entre as coxias, persistem os mesmos questionamentos, enunciados por homens e mulheres em diferentes momentos da história; aflições conhecidas, que se traduzem em respostas dissonantes. Felizmente, para nós, o Estado já se deparou com situações em que se inclinou, por bem ou por mal, à esfera particular dos indivíduos; conjunturas excepcionais que exigiram uma ação mais obstinada para justificar circunvenções às liberdades pessoais, seja pelo fato da guerra, da tirania, ou da tragédia. Que hoje recebam o nome de atos de exceção, contudo, não é dado como certo em outros tempos históricos. Aquilo que entendemos por liberdade, ou aquilo que entendemos por exceção, não é senão a sombra de palavras proferidas, distendidas, perdidas e recuperadas por autores de passados distintos. O que se pretende, neste pequeno ensaio, é movê-los a contar suas histórias, para que o presente que vivemos hoje possa se tornar um pouco mais conhecido.
O conteúdo jurídico da exceção, tal qual o da liberdade, guardam, como nós, uma história própria e anônima; uma história que não cessa de surpreender a nós mesmos; de vacilar em significados; de construir e se desconstituir, em uma ficção de si própria; como bem já dizia Nietzsche, “definível é apenas aquilo que não tem história”. Os pensamentos político e filosófico, assim, não podem ser apreendidos por conceitos fixos. É com base nessa ideia (genealógica, por assim dizer) que optamos por apresentar, em detrimento de uma definição rígida, algumas concepções de liberdade, defendidas por diferentes pensadores no decorrer da história, sem qualquer pretensão de exauri-las ou de percorrer grandes léguas. O que se visa é a modesta tarefa de apresentar enunciados, deixando ao alvedrio do leitor a escolha por aquilo que melhor lhe convier, importando-nos, apenas, a tentativa de capturar um movimento.
Em seu ensaio Dois Conceitos de Liberdade, Isaiah Berlin realiza, com maestria, uma distinção entre as noções negativa e positiva de liberdade. A primeira tem origem no pensamento hobbesiano, que inicia a discussão moderna em torno do conceito, traçando seus contornos liberais. Para Thomas Hobbes, o ser humano é livre se e apenas se detiver o poder de agir em busca de determinada opção; uma capacidade real de ação, diga-se, em que haja efetiva habilidade para realizar o que se pretende. A isso, soma-se — e daí sua classificação como “negativa” — a ausência de interferência por agentes externos que lhe impeça de exercer referido poder. Essa interferência, na concepção hobbesiana, tem natureza física e corpórea, i.e., corresponde a uma efetiva e material restrição à ação de um agente que possua potência para ação, de modo que se reconhece, amplamente, que o filósofo inglês não vislumbrava a possibilidade de uma coerção meramente intelectual ou psíquica do sujeito; o que se poderia chamar de coerção da vontade ausentava-se de sua teoria da liberdade.
………….
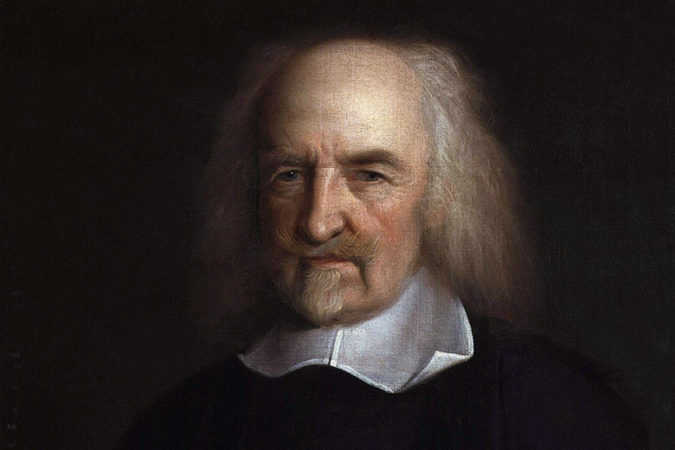
………..
Esse ponto foi alvo de críticas por outros defensores da noção negativa de liberdade, como John Locke e John Stuart Mill, que adicionaram a possibilidade de a coerção tornar uma hipótese não fisicamente impossível, mas inelegível. Mill vai ainda mais além, e adiciona o próprio self como agente de coerção, pois escolhas realizadas com fulcro na paixão, em detrimento da razão, não seriam livres (ecoando a velha dicotomia aristotélica de pathos e logos). Ademais, o direito de não interferência não teria como opositor único o Estado, mas também os outros integrantes da sociedade civil, pois as escolhas feitas com base nas exigências de conformação impostas pelos outros também careceriam de liberdade.
…….
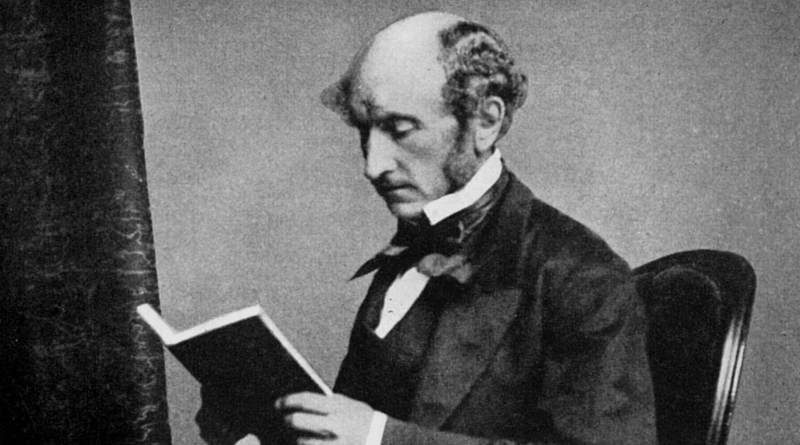
………..
Com base nessas concepções, Berlin conclui que, para a noção “negativa” de liberdade, toda coerção — embora às vezes inevitável — é ruim em si mesma, pois frustra os desejos humanos; enquanto a não-intervenção é boa em si mesma.
Já a concepção positiva de liberdade, que bebe de tantas fontes, seria consectária do desejo que o indivíduo nutre de ser seu próprio senhor, isto é, de ser o instrumento das próprias vontades e não das de outros homens. É o conceito de liberdade enquanto realização do ser em si mesmo; uma liberdade que se produz pela crença na autorrealização (de que tratam, por exemplo, Aristóteles e Hannah Arendt). O autor desenvolve crítica interessante a esse conceito de liberdade, identificando sua capacidade de servir como disfarce capcioso para a tirania, pois daria azo à possibilidade de se afirmar que determinada escolha, tomada por um indivíduo, não refletiria sua verdadeira vontade, mas seria decorrência de um pensamento desprovido de liberdade. Concluir-se-ia, nesse discurso, que, caso esse indivíduo fosse livre, escolheria de maneira diversa, raciocínio que acabaria por legitimar a determinação, por uns, do que seria a verdadeira escolha de outros.
…….

……..
Em resposta ao ensaio de Berlin, o historiador Quentin Skinner aponta, em seu artigo Um Terceiro Conceito de Liberdade, que, ao descrever a liberdade positiva, o autor estaria se referindo à possibilidade de o indivíduo dominar a si mesmo, mas não de ser seu próprio senhor. Desse modo, estaria retomando a ideia hegeliana de perseguição da autorrealização como manifestação única da liberdade, que se equivaleria ao objetivo pessoal de cada indivíduo. Ser seu próprio senhor, no entanto, implicaria a ausência de outro elemento, que enseja a sugestão, por Skinner, de um terceiro conceito de liberdade, subespécie da noção de liberdade negativa, cuja ausência não seria de interferência, mas de dependência.
Para explicá-la, o historiador recorre à tradição romana, mais especificamente à distinção constante no Digesto de Justiniano entre os indivíduos livres e os escravos, segundo a qual a escravidão é a condição de alguém estar sujeito à dominação de outra pessoa. O escravo é desprovido da liberdade para tomar suas próprias decisões, pois vive em constante dependência do arbítrio alheio. Nessas condições, mesmo que não se encontre sob o constante controle daquele a cuja vontade se sujeita, não poderá agir como uma pessoa livre, pois conhece as consequências de determinadas ações, as quais se furta de realizar.
…………

……..
E isso nos leva à atualização do conceito: em que medida persiste, no Estado Democrático de Direito, tal como se constrói nas constituições modernas, alguma relação de sujeição, ainda que enunciada sob outros termos? Nenhuma liberdade particular é plena; a relação do sujeito em relação ao Estado pressupõe, e isto reside na própria natureza da coletividade tal qual a construímos socialmente, um certo grau de submissão. Desde Duguit, os Estados são vistos por uma ampla corrente como prestadores de um encargo social; portadores de um dever perante os administrados, passando longe, portanto, da antiga figura do soberano autoritário (a que se refere o pouvoir clássico). Porém, não se pode fechar os olhos para o fato de que subsiste um poder formal, um ius imperii, de titularidade privativa do Estado, que lhe permite tomar, unilateralmente, medidas em relação aos administrados; medidas que cerceiam direitos, criam obrigações, ou restringem liberdades; medidas, enfim, que interferem sobre as faculdades e ações dos indivíduos. O fato de essas medidas estarem hoje reservadas a circunstâncias excepcionais não descaracteriza a natureza da relação, que subsiste como um silencioso postulado da cidadania. Todos que vivem sob um Estado de Direito estão, assim, contratualmente vinculados aos seus termos e assumem, de plano (sob a mitologia contratualista de Rousseau), que algum grau de intervenção, de sujeição e dependência sobrevirá às relações com o Estado. Evidentemente, quando a história nos lança a uma situação excepcional como a presente, escancaram-se as premissas do que se afirma; e um direito até então inerente torna-se relativo; uma relação entre iguais assume nitidamente as feições daquilo que é, e sempre foi: uma relação entre desiguais. A liberdade, portanto, sob seu terceiro conceito – e aqui vale frisar, a liberdade positivada juridicamente —, ausenta-se, em nível político, da estrutura de um Estado de Direito.
………..
Mas o que caracteriza uma excepcionalidade? Grosso modo, o estado de exceção é a previsão de suspensão do direito pelo próprio ordenamento jurídico, e, no caso da Constituição Brasileira, está previsto como três institutos diversos, cuja declaração cabe o Presidente da República, e a aprovação, ao Congresso Nacional. São eles: o “estado de defesa”, o “estado de sítio” e a “intervenção federal”. No entanto, em decorrência das suas particularidades e da suscetibilidade em proporcionar abuso de direito por parte o Estado, a discussão a respeito do estado de exceção foi alvo de inúmeras vicissitudes e divergências.
Sua origem retoma ao direito romano, e seu primeiro fundamento é o brocardo latino necessitas non habet legem (a necessidade não tem lei). Nessa concepção, o fulcro da exceção — de viés jusnaturalista – era o fato de a lei ter como objetivo único a salvação e o bem dos homens. Assim, caso sobreviesse uma situação em que a manutenção da lei fosse nociva, estaria justificada sua suspensão para garantia do objetivo principal da lei.
No entanto, as visões do direito e do Estado sofreram fortes transformações desde então, e é com os modernos que surge a noção do estado de necessidade como um verdadeiro “estado” da lei. A necessidade ocupa o lugar de fundamento do direito, em detrimento da salvação, e, enquanto fonte primária e originária do direito, em determinados casos, autoriza a suspensão da ordem jurídica para garantir a própria subsistência posterior dessa mesma ordem. Por conseguinte, trata-se de uma suspensão do ordenamento vigente com vistas a garantir sua existência. Nesse sentido, a parcela de liberdade à qual fazemos jus no Estado Democrático de Direito não é colocada em xeque com a declaração de um estado de exceção, mas, pelo contrário, esta tem como objetivo salvaguardar referida liberdade, que, finda a necessidade, retornará ao seu status anterior.
Uma consequência típica do estado de exceção é a ampliação dos poderes governamentais e, principalmente, da competência legislativa do Poder Executivo, o que nos leva à análise das medidas tomadas até o momento pelo Poder Público e às quais este poderá recorrer durante a crise consectária da pandemia. Resta, então, a questão: como tratar, juridicamente, das variadas medidas restritivas adotadas pelo Estado brasileiro, como estratégia ao enfrentamento da peste? Como pode o ordenamento jurídico, e, em especial, o sistema constitucional, admitir as séries de imposições de isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino e cultura, restrições ao comércio e à circulação de pessoas, incluindo o fechamento de parques, praças e estradas? Como admitir que o Estado interfira na esfera individual, prejudicando o indivíduo em sua educação, trabalho, lazer, e afetando, possivelmente, sua própria subsistência, com impacto sobre diversos setores da economia? Como fundamentar tais medidas em um país democrático, sem que nisso se veja um retrocesso? Que mal justificaria tamanha invasão, ou, por outra, que bem reclamaria tanta urgência e indaga-se: trata-se de crise, de estado de exceção?
Falemos, pois, de leis: o art. 3?, da Constituição Federal, já enumera, em seu inciso I, a construção de “uma sociedade livre” como um dos objetivos fundamentais da República; no art. 5?, a liberdade reverbera em suas diferentes dimensões e aspectos; dentre os mais relevantes no presente contexto, o direito à liberdade de locomoção (art. 5?, XV), traz consigo duas limitações claras ao seu exercício: a sua sujeição aos “termos da lei” e a condição de estarmos em tempos de paz. Há, ademais, o direito à vida (art. 5?, caput) e, como direito social fundamental evidente, o direito à saúde, de que tratam o art. 6?, e o art. 196, da Constituição. No que diz respeito aos postulados do Estado brasileiro, devemos nos atentar, sobretudo, aos princípios da separação dos poderes (art. 2?) e do federalismo (art. 1?, caput), ambos consagrados no art. 60, § 4?, na forma de cláusulas pétreas e que encerram, em conjunto, o princípio da autonomia das entidades federativas, que pressupõe a repartição das competências legislativas, administrativas e tributárias. A esse respeito, há de se observar, sobretudo, as repartições estabelecidas nos art. 23, incisos II e IX (competência administrativa comum da União, Estados, DF e Municípios sobre o cuidado da saúde e assistência pública, inclusive no que se refere à organização do abastecimento alimentar) e art. 24, inciso XII (competência legislativa concorrente da União, Estados e DF sobre matérias de proteção e defesa da saúde); além disso, a Constituição estabelece a descentralização político-administrativa do sistema de saúde, nos termos de seu art. 198.
Imediatamente abaixo do nível constitucional, e em atenção ao trâmite de produção legislativa por ela imposta, o Congresso Nacional sancionou a Lei n? 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19. Sobrevieram, ainda, o Decreto Legislativo n? 6/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n? 101/00, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República; os Decretos Presidenciais n? 10.282 e 10.292, que regulamentam a Lei n? 13.979/2020; a Portaria n? 454/2020, do Ministério da Saúde; localmente, há o Decreto do Governo do Estado de São Paulo n? 64.881, de 22 de março de 2020 e ainda os Decretos do Município do Município de São Paulo n? 59.233, 59.291, 59.298 e 59.326.
De que forma esse emaranhado de normas se articula? Como encontrar, do interior de sua densa selva de regras e hierarquias, as respostas para nossas aflições mais urgentes? Como bem aduz a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n? 672, em caráter liminar, a chave reside na interpretação sistemática de tudo o que foi mencionado, conferindo-se o peso necessário, de um lado, aos princípios da separação de poderes e do federalismo, por uma exigência formal, e, do outro lado, materialmente, aos direitos à vida e à saúde. Uma resposta simples e elegante a um problema apenas prima facie complexo.
“Mas onde?”, indaga o observador, “reside a justificativa para o estado de exceção em que vivemos?”. A resposta, que a essa altura parece óbvia, é de que não vivemos em estado de exceção. A despeito de tudo que, em poucas semanas, nos foi retirado, dos direitos que nos foram restringidos, de toda potência que nos foi limitada, não há exceção inaugurada; inexiste qualquer ruptura, ainda que provisória, com o regime regular a que estamos submetidos; não há alteração ou rescisão do contrato social, capaz de ferir de morte o Estado Democrático — há, talvez, e, precisamente, sua exaltação. Vimos que a construção política do conceito de liberdade civil, e, portanto, sua constituição jurídica, não se abala pelas efetivas, e reiteradas, interferências à ação e vontade dos particulares, e, tampouco, se desfaz pela manutenção de uma relação de dependência e sujeição, mesmo quando evidente. Resta, então, que o conceito jurídico de liberdade, incorporado em nossas leis e defendido por grande parte dos nossos juristas, apoia-se, sobre a premissa — não desprovida de certo romantismo — de que o país, e nós, enquanto cidadãos, somente seremos livres na medida em que pudermos nos realizar politicamente, desenvolvendo-nos como nação e sendo capazes de harmonizar perfeitamente a miríade de interesses privados com o interesse público, em busca do bem comum, que a todos realiza e redime. Que a liberdade, nesses termos, tenha sido primeiro pensada por Rousseau, é mera coincidência.
…………
………….

……….

……………..
……..
