O Marxismo Ocidental: sintoma da crise da cultura moderna
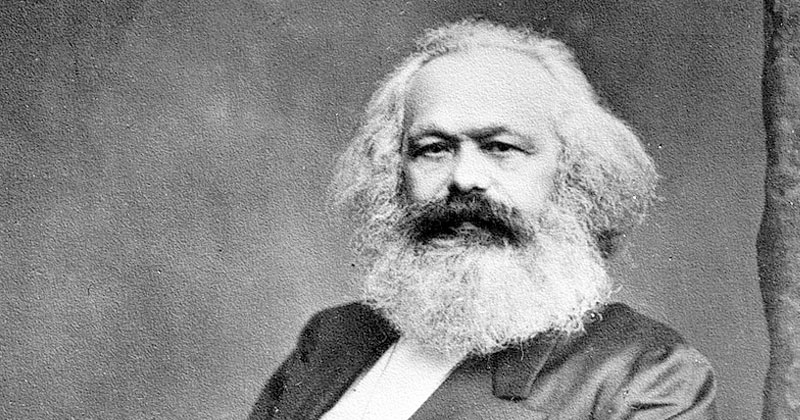
por Kaio Felipe Mendes de Oliveira Santos
Em 1983, o ensaísta e diplomata José Guilherme Merquior (1941-1991) comentava em um artigo a influência das ideias marxistas na iniciação intelectual da “geração 1960”. Em tom bem-humorado, “Cultura marxista” alegava que o marxismo significava, pelo menos no Rio de Janeiro, duas coisas: “estética e livros em italiano” (já que poucos dominavam o idioma alemão, na qual muitos dos autores marxistas, inclusive o húngaro György Lukács [1885-1971], haviam escrito suas obras). O que mais atraía jovens universitários como ele e seu amigo Leandro Konder (1936-2014) era “a teoria da cultura do marxismo ocidental, com Lukács e Benjamin à frente”. Ou seja, o interesse por tais autores não se devia necessariamente ao fato de serem marxistas, “mas por soarem tão ‘cultura’, tão sofisticados e vagamente heréticos, dentro da tosca tradição marxista nesses domínios”.
Ao contrário de Konder – ou de outro amigo seu, Carlos Nelson Coutinho (1943-2012) –, Merquior não chegou a se converter ao marxismo. Foi um namoro curto, cujo término foi explicitado já em seu 1º livro, Razão do Poema (1965): o último ensaio, “Estética e antropologia”, acusa o pensamento marxista de apresentar um “historicismo arrependido”, pois ainda esposava uma visão essencialista da natureza humana, caindo no mesmo “vício metafísico” que deplora em outras perspectivas. Embora estimasse o materialismo histórico, José Guilherme deplorava o materialismo dialético.
Mesmo assim, durante toda a sua obra Merquior manteve um diálogo crítico com o marxismo, presente em obras como Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin (1969), um estudo pioneiro sobre a Escola de Frankfurt, e em passagens de livros como Saudades do Carnaval: introdução à crise da cultura (1972), talvez o ensaio em que melhor expôs a problemática sociológica que o inspirava.
Durante a década de 80, o autor compôs uma trilogia de cunho crítico-polêmico sobre autores e correntes de pensamento que associava ao irracionalismo: isto é, a posições dogmáticas, fechadas em si mesmas, a partir das quais seus partidários julgavam possuir a resposta definitiva para todos os problemas, desprezando a complexidade das relações sociais. Além disso, irracionalistas eram as visões de mundo que demonstravam um “repúdio sistemático”, uma “rejeição apocalíptica” aos valores da modernidade social, isto é, à “progressiva conjunção de técnica e democracia, eficiência e liberdade”. Os dois primeiros ensaios desta trilogia foram Michel Foucault, ou o Niilismo de Cátedra (1985) – cujo título é auto-explicativo – e De Praga a Paris (1986), um balanço crítico do pensamento estruturalista e pós-estruturalista. O terceiro, que acabou de ser relançado pela É Realizações (2018, R$ 69,90), é justamente O Marxismo Ocidental (1986).
Escrito no segundo semestre de 1984 e publicado dois anos depois, O Marxismo Ocidental é fruto de ricas discussões de Merquior com críticos do marxismo como Raymond Aron (1905-1983), Leszek Kolakowski (1927-2009) e Ernest Gellner (1925-1995) – sendo que o último foi seu orientador no doutorado em Sociologia pela London School –, mas também com marxistas como Perry Anderson (1936) e seus amigos Leandro Konder (a quem dedica o livro) e Carlos Nelson Coutinho.
O marxismo ocidental surgiu na década de 1920 em reação ao marxismo soviético, pois divergia de sua visão determinista da História (a qual seria guiada por leis econômicas objetivas) e da sua concepção mecanicista do conhecimento (a consciência seria um reflexo da realidade natural e social). É um movimento heterogêneo, mas que teria pelo menos cinco características: o enfoque temático na cultura e na ideologia; a reduzida preocupação com os condicionamentos sociais (isto é, com a “infra-estrutura”); a concepção do marxismo não como ciência, mas como crítica; a epistemologia “humanística”, com uma visão idealista e antipositivista (e por vezes anticiência) do conhecimento; e o ecletismo conceitual, absorvendo influências para além do marxismo clássico, como a psicanálise de Freud (1856-1939), a filosofia de Nietzsche (1844-1900) e as sociologias de Georg Simmel (1858-1918) e Max Weber (1864-1920) – além de um retorno a Hegel (1770-1831).
O parâmetro analítico de Merquior para avaliar os marxistas ocidentais é a “teoria do processo histórico” que José Guilherme detecta no pensamento do próprio Hegel. Este revelava “uma aceitação amadurecida do espírito da sociedade moderna” e “uma explicação racional da direção, senão da necessidade, do movimento histórico”. O pressuposto da análise empreendida por Merquior em O Marxismo Ocidental, portanto, é uma valorização do progresso científico, econômico e político do mundo moderno.
Esse endosso da modernidade é encontrado não apenas em Hegel, mas também em Marx, que teria buscado dar um tratamento sociológico ao que até então fora tratado por disciplinas menos voltadas para o social, como a filosofia política idealista ou a economia política clássica. Essa sociologização marxista constituía uma tentativa de aprofundar a perspectiva histórica generalizada que caracterizava as ciências sociais desde o século XIX. O problema é que Marx combinou essa fecunda análise social com preconceitos românticos contra a economia de mercado, os direitos humanos (tomados como “burgueses”) e as instituições políticas livres. Usando a dicotomia de Isaiah Berlin (1909-1997), Merquior detecta em Marx uma prevalência da liberdade positiva em detrimento da liberdade negativa.
O problema dos marxistas ocidentais, segundo Merquior, é a predominância da Kulturkritik, uma herança de Nietzsche, o qual desenvolveu uma “crítica cultural arrasadora” em nome dos “valores ‘vitais’”. O que falta em Nietzsche é justamente o que se encontra em Hegel: “uma teoria adequada sobre a base institucional da sociedade moderna e uma explicação aceitável do movimento histórico, com foco especial no advento da modernidade”.
O pioneiro do marxismo ocidental é Lukács, cujo livro História e Consciência de Classe (1923) manifesta as tendências problemáticas que viriam a caracterizar esse movimento. Merquior se ampara em autores como Kolakowski e Aron para argumentar que Lukács revelou o romantismo oculto do próprio marxismo. Esse aspecto romântico é tanto o ethos anti-industrial e antimoderno quanto a raiz gnóstica da utopia marxista: o mito da alienação como Queda e da revolução como Redenção. Aquilo que a pretensão científica das obras do “velho” Marx havia ocultado é enfim desvelado por Lukács: “se o objetivo da revolução redentora é a supressão da economia, então a essência do marxismo golpearia o próprio coração da modernidade”.
Este elemento romântico e messiânico que Merquior detecta em Lukács também foi apontado por Michael Löwy (1938), embora em uma chave positiva: para este autor, no romantismo anti-capitalista “a nostalgia do passado não desaparece, mas se transmuda em tensão voltada para o futuro pós-capitalista”. Para José Guilherme, entretanto, a mistura de marxismo e crítica cultural romântica em Lukács, assim como sua argumentação “apresentada mais por asserção do que por qualquer lógica demonstrativa”, tiveram um efeito deletério no marxismo como heurística sociológica, pois o transformaram em uma visão de mundo “carregada de dogmatismo e girando em torno de uma mitologia de consciência de classe”.
Antonio Gramsci (1891-1937), por sua vez, é um dos marxistas ocidentais mais enaltecidos por Merquior, que aprecia nele a capacidade de complementar a análise de Marx da infra-estrutura com uma perspectiva mais centrada no “jogo da superestrutura”, na mudança sociopolítica. Gramsci, além disso, estaria longe das “fobias neoromânticas” de Lukács e da Escola de Frankfurt, pois possuía uma “ótica produtivista e tecnológica” e um “gosto pelo futurismo e pelo americanismo”.
Walter Benjamin, pelo qual Merquior já havia mostrado certa admiração em seus primeiros livros, teria conseguido combinar em sua obra as três principais tradições da contracultura: o marxismo, o modernismo estético e a psicanálise freudiana. Seu legado foi fundir pessimismo cultural e otimismo estético, isto é, a “supervisão de uma visão melancólica da história com uma crença robusta no progresso artístico”.
Adorno, um dos principais expoentes da Escola de Frankfurt, é criticado por herdar o que havia de pior em Hegel (baixo rigor analítico e pouca clareza na argumentação) e não o que havia de melhor (uma apreensão do sentido do processo histórico). Além disso, Merquior lamenta sua rejeição pouco fundamentada da idéia de progresso, com “acusações obstinadas, e muitas vezes estúpidas, à sociedade industrial ‘reificada’”.
A mesma crítica é feita a Jean-Paul Sartre (1905-1980), cujo marxismo – mesclado com existencialismo – também tinha pouco rendimento analítico, nenhuma teoria do processo, e, tal como Lukács e os frankfurtianos, “era feito de poses e atitudes muito mais que de penetração imaginativa – para não falar em análise sistemática da história”.
Louis Althusser (1918-1990), representante da guinada estruturalista do marxismo francês, apesar da pretensão cientificista, aos olhos do autor de O Marxismo Ocidental demonstra uma “atroz ignorância da maior parte da moderna filosofia da ciência”, além de fabricar “conceitos perfeitamente indiferentes ao mundo que eles devem explicar”.
Herbert Marcuse, “o mais político dos frankfurtianos”, apresenta uma mescla problemática de pessimismo cultural e utopismo esteticista. Merquior aponta a falta de base empírica e de rigor analítico na crítica sociocultural feita pelo autor de obras como Eros e Civilização (1955), e ainda vilipendia a eufórica recepção de seu “marxismo sem história nem proletariado” pela “nova esquerda” dos movimentos estudantis da década de 60.
Em relação a Jürgen Habermas (1929), Merquior reconhece sua defesa da tradição iluminista e compartilha seu combate “contra uma tempestade de relativismos desvairados e cínicos, de mal fundamentados niilismos”, tais como os de Michel Foucault (1926-1984) e Jacques Derrida (1930-2004). Por outro lado, lamenta o fato de que em Habermas “a epistemologia se tornou soteriologia”: a promessa idílica de uma salvação pelo conhecimento como diálogo continua carecendo de uma teoria do processo histórico. O elogio habermasiano do Iluminismo permanece idealista: concorda com as intenções, mas “parece despreparado para aceitar seus resultados históricos”; exemplo disso é a insistência de Habermas em rechaçar a razão instrumental e sua suposta “colonização” do mundo da vida.
Após discutir as contribuições teóricas dos principais marxistas ocidentais, enfim o autor indaga se a crítica cultural apresentada por esses autores pode fomentar uma teoria social de base empírica e visão histórica. A conclusão é negativa: o marxismo da Kulturkritik “terminou por abraçar o mais negro pessimismo ou por esposar o mais vago dos reformismos”, e “a abstenção política era acompanhada de uma escassez geral de qualquer nova análise de realidades sociais e tendências históricas”.
José Guilherme concorda com a definição sucinta e mordaz de Perry Anderson sobre o marxismo ocidental: “O método como impotência, a arte como consolação, o pessimismo como imobilidade”. Nem os acidentes históricos (o exílio dos frankfurtianos na América devido à ascensão do nazismo; a prisão de Gramsci pelo regime fascista; as constantes “auto-críticas” de Lukács para escapar dos expurgos do PC soviético etc.) legitimam sua aversão à práxis e seu pessimismo cultural, pois “uma verdadeira compreensão da história moderna não justifica a fúria e o desespero dos inimigos da modernidade”. Sendo assim, Merquior afirma que, em geral, o marxismo ocidental “foi apenas um episódio na longa história de uma velha patologia do pensamento ocidental cujo nome é, e continua a ser, irracionalismo.”
Ao se envolver em libelos contra a ciência e a cultura modernas (Adorno, Lukács), em uma revolta neoromântica contra a sociedade burguesa (Marcuse, Sartre) ou mesmo em discussões metodológicas áridas (Althusser, Habermas), o marxismo ocidental traiu a substância do hegelianismo e também do marxismo clássico: “Sem história, o marxismo simplesmente não tem sentido – em termos, note-se, marxistas”. Os únicos autores relativamente poupados dessa crítica foram Gramsci e Benjamin.
O autor vê o pensamento de Marx e seus primeiros seguidores numa ótica bem mais positiva que a empregada em relação aos marxistas ocidentais, pois pelo menos buscava uma crítica social com dimensão factual, em vez do anátema à modernidade com pouco lastro empírico que há em autores como Lukács, Marcuse e Adorno. O “repúdio da ciência, da cultura burguesa e da sociedade industrial” e a uma “obstinada rejeição do ethos industrial” e dos “valores da cultura social moderna” levou esses autores a “uma inesperada reprise, pela esquerda, de certos Leitmotiven da crítica conservadora da sociedade industrial”.
Talvez a principal contribuição da crítica de Merquior ao marxismo ocidental seja considerá-lo não como resposta, e sim como sintoma da crise da cultura moderna. Com isso percebemos que o desafio lançado em 1981 pelo autor na abertura da coletânea As Ideias e as Formas (“É possível atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda sem ser reacionário em política, ciências humanas e estética?”) tem uma resposta pouco reacionária.
* * *
Como o caprichado arquivo ao final da nova edição do livro (organizada por João Cezar de Castro Rocha) demonstra, O Marxismo Ocidental foi alvo de muita discussão no Brasil e no exterior (especialmente na Inglaterra). Naturalmente a maior parte das críticas veio da esquerda; uma delas é a de Sonia Kruks, que em Western Marxism: A Tale of Woe? (1988) afirma que a hostilidade de José Guilherme aos marxistas ocidentais e aos pós-modernos se ancora em uma visão ingênua e acrítica da modernidade, como se vivêssemos no “melhor dos mundos possíveis”. A réplica de Merquior é mordaz: Kruks reproduz o mesmo irracionalismo dos marxistas ocidentais que tenta salvar, pois apresenta asserções em vez de argumentos e anátemas em vez de análises.
Outra crítica, partindo sobretudo de perspectivas mais conservadoras, e não do próprio campo de investigação do marxismo e seus desdobramentos, consiste em atacar os limites da análise de Merquior por não reconhecer o descalabro moral do marxismo a título mesmo de sua filiação à matriz iluminista. Por um lado, concordo que José Guilherme está imbuído em uma perspectiva liberal-iluminista, e isso dificulta o afastamento para ver com maior profundidade os males do marxismo ocidental, o qual é um filho (problemático) do próprio Iluminismo e do Romantismo. Por outro lado, como vimos, o autor de O Marxismo Ocidental se ampara em Kolakowski e Aron, dois autores que apontaram as raízes gnósticas e os aspectos míticos do marxismo. Além disso, é preciso ressaltar que Merquior não se limita a reeditar a retórica iluminista, mas também está atento ao debate epistemológico moderno, como demonstra sua preocupação popperiana quanto à falseabilidade das teorias, crivo pelo qual não passam visões de mundo dogmáticas, isto é, que se auto-imunizam a críticas.
Pode-se alegar que Merquior poderia ter desferido um ataque mais ético-moral ao marxismo ocidental, mas o que interessava este autor não era uma condenação no campo dos valores (que poderia acabar justamente sendo dogmática), e sim no âmbito da racionalidade e do rendimento analítico. Cinco anos depois, em O Liberalismo: Antigo e Moderno, apresentaria de forma mais consistente a sua própria cosmovisão, mas isso seria tema para outro ensaio.
Kaio Felipe Mendes de Oliveira Santos é doutor em Sociologia pela UERJ e pesquisador em História Cultural

