..
Onde se cruzam online e offline na arte?
Um olhar através da antropologia do espaço
..
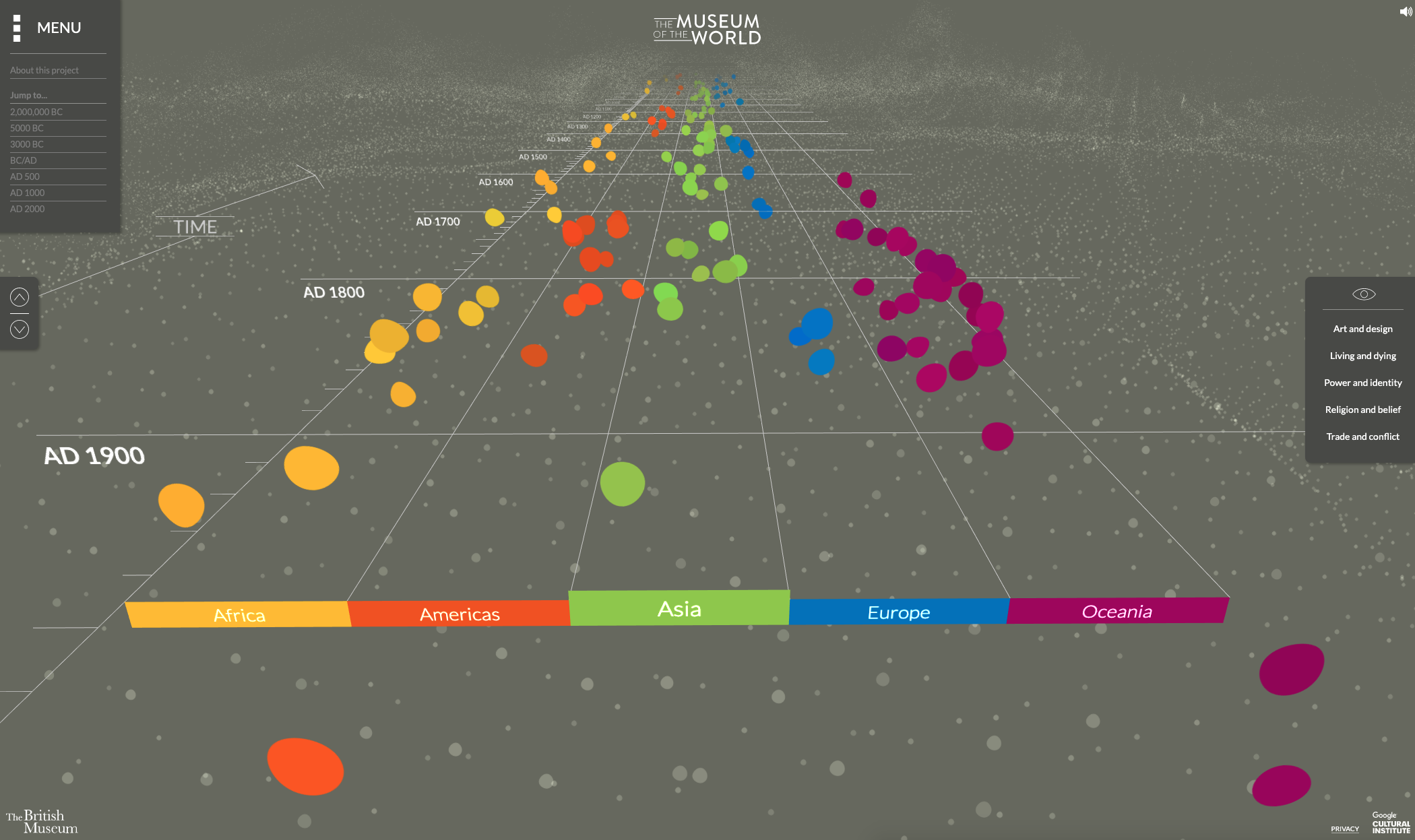
..
por Iasmine Souza
..
Espaços constroem significados. E é a antropologia do espaço o campo disciplinar que carrega o desafio de estabelecer as bases do pensamento científico que ultrapassa a suposta trivialidade das configurações arquitetônicas a que nos deparamos mecanicamente todos os dias, habitadas ou não. É certo que uma ampla gama de novas tecnologias redefiniu as escalas de espaço e a forma como as pessoas com ele se relacionam. Deixou-os “contíguos e porosos” (SEGAUD, 2016, p. 280) e, curiosamente, de igual modo, mais expostos à segregação. Ninguém ousaria sugerir desacelerar o processo, mas é preciso contar com os antropólogos para investigar a correlação entre espaços públicos (e tudo que neles se vivencia e experimenta) e as estruturas sociais e culturais da sociedade. E, nesse ponto, no que pode a antropologia do espaço acrescer ao mundo da arte de hoje? Não se trata aqui de esgotar contribuições de um movimento científico construído já desde a segunda metade do século XX, e sim de tecer considerações iniciais cujo escopo é o amadurecimento do diálogo em volta das práticas espaciais consolidadas de arte, nos âmbitos material e digital, também sob a perspectiva das ciências sociais.
O espaço visual das exposições de arte por muito tempo adotou como denominador comum o “cubo branco”, expressão utilizada por Brian O’Doherty em 1976 para criticar o modo de exibição institucionalizado pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – MOMA na década de 30, sob a direção de Alfred Barr Jr. A abordagem estética do cubo branco, que ainda hoje suporta grande parte das narrativas das mostras de arte, principalmente comerciais, promove ao visitante uma experiência extremamente cerimoniosa. O ambiente clínico e bem iluminado traduz uma expectativa de compreensão do objeto artístico completamente desconectada do mundo exterior. Não há janelas ou assentos. Sob o argumento protecionista do encontro mítico espectador-obra, adestra-se o comportamento — preferencialmente sofisticado —, do caminhar à altura da voz. E, como os demais ambientes que refletem a segregação socioespacial das grandes metrópoles, intensificam lacunas culturais e carregam símbolos de tradição elitizante, maquiados por uma aparência visual protocolar, “que de forma naturalizada conduz o visitante em um roteiro de compreensão do mundo” (MARINS E PARAGUAI, 2020, p. 4). Ignoram, portanto, a maneira única como cada indivíduo percebe o ambiente e a complexidade da relação que ali desenvolve com os objetos, que resulta, além do contexto social, de um conjunto subjetivo e incalculável de crenças culturais, percepções e preferências.
..

..
Mas é preciso reconhecer que as experiências nas mídias digitais, intensificadas nos últimos meses em razão da pandemia de COVID-19 e definitivamente incorporadas ao trabalho de museus e galerias, trouxeram novas questões aos adoradores do modelo convencional. Afinal, a internet está bem longe de ser um espaço neutro ou ritual. Nas redes, a reprodução de uma pintura clássica renascentista, redimensionada na diminuta tela do smartphone, pode conviver imediatamente ao lado de uma inovadora obra contemporânea conceitual, sem que a apreensão esteja protegida pela aura do cubo branco. Nesse contexto, o acesso do público amador é largamente democratizado. Curadores, críticos e galeristas — personagens cujo discurso é autorizado no processo de validação da arte —, passam a conviver com um lar descentralizado de suas narrativas, assim como os jovens artistas, que recorrem cada vez mais à audiência digital, capaz de, em pouquíssimo tempo, mais visualizações e compartilhamentos do que veículos tradicionais de arte. Nunca se trabalhou tanto para o digital. Para um ambiente cultural historicamente apoiado por múltiplas facetas de pedantismo (COLI, 2013, p. 105), agora é comum falar em redes sociais, salas de exibição online, web designers e e-commerces. E, a não ser para os que permanecem abraçados ao passado, já não é possível pensar o circuito de arte sem considerar o ciberespaço.
A internet, entretanto, não é uma saída heroica que liberta os arranjos expositivos dos vícios arquitetônicos estandardizados pelo cubo branco. Qualquer associação nesse sentido terminaria por minimizar esforços de inúmeros estudiosos e artistas que, desde a década de 60, concebem maneiras de denunciar a formalidade dos espaços físicos e a limitação do caráter contemplativo da própria obra de arte. A premissa também desconsidera o fato de que, muitas vezes, o investimento em tecnologias apenas acentua a dominação de um restrito grupo de agentes do mercado. Nesse ponto, nunca é demais lembrar o caso da gigante David Zwirner, que, durante a pandemia, impulsionou vendas online ao hospedar micro galerias independentes em seu website. Seja por altruísmo ou estratégia mercadológica, saiu ainda mais fortalecida na cena de arte. E, como se não bastasse, também é notável o número de viewing rooms que nada mais são do que um cubo branco virtualizado, uma réplica precisa dos ambientes austeros pela interface do computador.
E se por um lado as ferramentas digitais despontaram nos últimos tempos como único e soberano caminho à manutenção do circuito e, até mesmo, pelos mais animados, como uma salvação (o que, repita-se, é um pensamento fundamentalmente enganoso), podem ter causado também a equívoca sensação de absoluta independência do ambiente web em relação ao físico. É, contudo, uma enorme ilusão a dicotomia agressiva entre as experiências materiais e virtuais. Tudo que consumimos nas redes influencia a percepção do mundo real e o raciocínio contrário é igualmente verdadeiro. Online e offline são realidades embaralhadas. Com essa cautela, talvez seja possível afirmar apenas que as práticas na internet (e aqui entenda-se tanto as educativas, institucionais, quanto as de mercado, bem como a facilidade de reprodução e acesso às obras pelas redes sociais, acompanhadas de discursos acreditados ou não), que trazem novas possibilidades de feedback, velocidade de engajamento e participação acalorada do público amador, tenham empurrado o sistema de arte para fora da zona de conforto, expondo suas fragilidades e pressionando o diálogo criativo em torno das estruturas conceituais tradicionais das exposições.
A integração arte e web não é um campo de pesquisa exatamente novo, mas os estudos que tentam determinar em que medida a cultura digital ressoa nos futuros projetos curatoriais de espaços físicos são incipientes. Até porque, a busca pelo lugar onde se cruzam online e offline na arte ainda nos oferece muito mais perguntas sem respostas do que certezas cristalinas. Mas, é certo que valer-se das ciências sociais no processo de reflexão do cenário atual — uma sinergia de relações pessoais e não pessoais complementares, e não concorrentes — pode ser um recurso arejador para, a partir do envolvimento e participação do público na internet, repensar parâmetros espaciais e ceder lugar ao protagonismo dos indivíduos como agentes transformadores da arte.
..

..
..
Referências:
MIRTES MARINS DE OLIVEIRA; LUISA PARAGUAI. Arquiteturas expositivas: debates conceituais em tempos de crise. Porto Arte — Revista de Artes Visuais, 2020.
MARION SEGAUD. Antropologia do espaço. Tradução Eric R.R. Heneault. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2016.
BRYAN O’DOHERTY. Inside the White Cube. Artforum magazine, 1976.
SETHA LOW, Spatializing Culture: The Ethnography of Space and Place, 2017.
HILDUR ÓTTARSDÓTTIR, Space and place in anthropology, 2017.
JORGE COLI, O que é arte. Brasília Editora Brasiliense, 2013.
..
..




