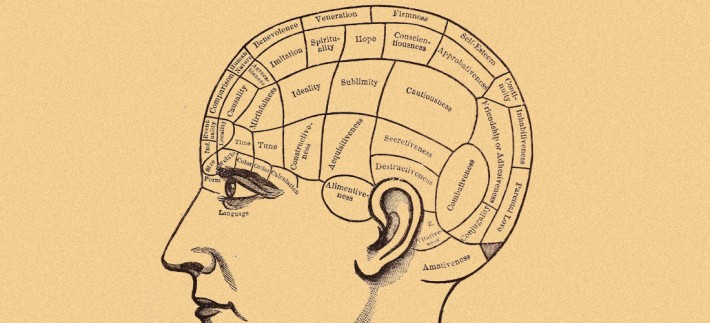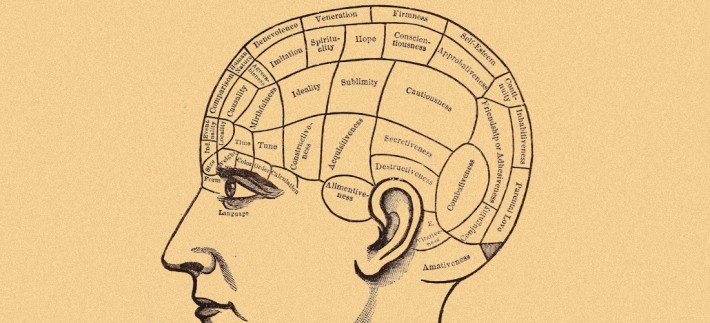
por Desidério Murcho
Em Janeiro de 1877, W. K. Clifford publicou na Contemporary Review o artigo The Ethics of Belief (a ética da crença), que acabou por dar um novo nome e um perfil renovado a uma ideia antiga. Pela força das ideias e clareza de expressão, este artigo exerceu uma influência que ainda se faz sentir, mesmo entre quem rejeita a sua posição. O artigo termina com as seguintes palavras:
“É incorrecto em todas as circunstâncias acreditar com base em provas insuficientes; e onde duvidar e investigar é uma presunção, acreditar é aí pior que uma presunção.” (Clifford, “The Ethics of Belief”, p. 309)
O que Clifford defende é à primeira vista muitíssimo razoável: quando as provas são insuficientes, é incorrecto acreditar seja no que for. E se acaso essa atitude for presunçosa, acreditar quando as provas são insuficientes, em vez de duvidar e investigar, é pior que ser presunçoso: é epistemicamente irresponsável. Clifford não usa esta expressão, mas é isso que está aqui em questão. Do seu ponto de vista, é epistemicamente irresponsável, e um erro moral, acreditar seja no que for sem provas suficientes. Caso as provas sejam insuficientes, é epistemicamente irresponsável acreditar só porque isso nos faz felizes, ou porque gostaríamos que fosse verdadeiro, ou porque temos medo de levar a sério a hipótese de não o ser.
Terá Clifford razão? Para responder responsavelmente a esta pergunta é importante esclarecer os conceitos de crença, conhecimento e provas.
O termo “crença” é aqui usado no seu sentido mais abrangente, o que inclui convicções muito fortes, crenças religiosas e opiniões elaboradas, mas também crenças simples, crenças matemáticas e científicas. Uma crença é uma relação peculiar de representação entre o agente que a tem e um aspecto relevante da realidade. Quando alguém acredita que Ligeti era polaco representa mal um aspecto da realidade; quando acredita que ele compôs Lux Aeterna, representa bem um aspecto da realidade. Note-se que, neste sentido, a crença tem sempre por objecto um aspecto da realidade susceptível de representação discursiva; “crença-que”, poder-se-ia dizer, pois usa-se o “que” conjuntivo para introduzir a oração-objecto. Isto difere da crença no sentido de “confiança”, que muitas vezes não tem uma oração-objecto: diz-se que Glass acredita em Ligeti, mas agora é no sentido de confiar nele, nas suas capacidades ou na sua integridade. Nestes casos, depois de “acredita” ou das suas variantes não se encontra o “que” conjuntivo. De ora em diante, “crença” será usado apenas no sentido declarativo.
Passando agora ao conceito de conhecimento, é preciso começar por distinguir três tipos e só um deles será especialmente importante aqui. Quando alguém visita ou vive em Paris tem um conhecimento por contacto daquela cidade. Isto difere do conhecimento prático ou de procedimentos, como saber andar de bicicleta. Há uma relação óbvia entre estes dois tipos de conhecimento, pois saber andar de bicicleta implica o conhecimento por contacto de pelo menos uma bicicleta, mas o conhecimento por contacto de bicicletas não implica saber andar de bicicleta. Ao conhecimento prático é apropriado chamar “saber-como”. Estes dois tipos de conhecimento diferem do conhecimento declarativo, a que é comum chamar “proposicional”; Bertrand Russell chamava-lhe “conhecimento de verdades”. O conhecimento declarativo é um “saber-que”, como o caso anterior da crença-que: envolve um aspecto qualquer da realidade susceptível de representação discursiva.
Como a crença, o conhecimento é uma relação entre um agente cognitivo e um aspecto da realidade. Porém, uma diferença capital entre a mera crença e o conhecimento é que o segundo é factivo mas a primeira não. Ou seja, 3 conclui-se validamente de 1, mas não de 2:
1) Glass sabe que a Terra se move.
2) Glass acredita que a Terra se move.
3) A Terra move-se.
Quando as pessoas acreditam que sabem algo, isso é perfeitamente compatível com a falsidade desse algo. Precisamente porque o conhecimento é factivo mas a crença não, há uma diferença capital entre acreditar que se sabe e saber realmente. Dado que é falso que Glass tenha nascido em Lisboa, ninguém sabe que ele nasceu naquela cidade, por mais que acredite nisso. A confusão a evitar decisivamente é entre saber realmente algo e acreditar que se sabe. Por mais que se acredite que se sabe que a Terra está parada, e por mais que a crença seja muito forte, não se sabe disso a menos que a Terra esteja parada. Além disso, não há maneiras puramente internas (como a força da convicção ou a certeza) de estabelecer sem erro se realmente se sabe ou se apenas parece que se sabe; a factividade do conhecimento quer dizer que a palavra final sobre se realmente se sabe é da própria realidade, e não dos agentes, nem dos seus processos de prova. Claro que quando se tem provas muitíssimo boas, a probabilidade de se saber realmente o que se provou é muitíssimo elevada; mas por mais que se tenha boas provas de que a Terra está parada, não se sabe que está se não o estiver, ainda que se acredite nisso.
O conhecimento não é apenas uma crença verdadeira. Para haver conhecimento é preciso haver algum processo adequado de prova; o mero acerto na verdade não conta como conhecimento, ainda que popularmente se entenda o conceito desse modo. Ora, o conceito de prova vai muito além das provas simples e definitivas; a maior parte delas não são definitivas nem simples. As provas de que nunca houve vida na Lua são muito fortes, mas não garantem que nunca houve; talvez os cientistas se tenham enganado, ou talvez surjam novas provas que mostrem que já houve vida na Lua. Daí que por vezes se fale de razões, justificações, indícios ou sinais, em vez de provas. (O termo original de Clifford, que traduzi por “provas” é evidence.) Mas ideia é sempre a mesma: há algo que conta a favor da conclusão, ainda que não a prove definitivamente.
As provas não são factivas (a única excepção aparente são as provas lógicas e matemáticas), porque 2 não se infere validamente de 1:
1) Há provas de que não há vida na Lua.
2) Não há vida na Lua.
Sem provas não há conhecimento, mas o que dizer da crença? A posição de Clifford é que também neste caso se exige provas, sob pena de se cair na irresponsabilidade epistémica. Um agente tem uma crença responsavelmente quando tem boas provas, mesmo que tenha tido azar epistémico e afinal a crença seja falsa; e tem-na irresponsavelmente quando não tem boas provas, ainda que por sorte seja verdadeira. Esta diferença torna-se clara imaginando dois investigadores judiciais. O primeiro é extremamente cuidadoso e competente, e pauta-se pela tentativa honesta de descobrir a verdade, procurando diligentemente as melhores provas; acontece que teve azar e todas as provas apontam na direcção do Nuno, que ele conclui assim erradamente ter sido o autor do crime. O investigador teve azar epistémico porque as provas apontam na direcção errada. Em contraste, o segundo investigador é incompetente, desonesto e preconceituoso, e tem uma atitude de descaso epistémico; deixa-se sempre guiar cegamente pelas suas inclinações. Por sorte, porém, acusa a pessoa que realmente cometeu o crime. Este segundo investigador é epistemicamente irresponsável, mesmo que de vez em quando acerte na verdade; o primeiro é epistemicamente responsável, mesmo que por vezes tenha azar epistémico.
As provas não nascem todas iguais: umas são mais robustas que outras. Isto é crucial para compreender apropriadamente o conceito de prova porque se começa logo mal quando se imagina, por um lado, que as provas são factivas e, por outro, que são sempre definitivas e simples. Pelo contrário, há quase sempre uma pluralidade de provas, umas mais fortes que outras, e é preciso comparar a sua força relativa para ter uma crença epistemicamente responsável. Esta pluralidade de provas manifesta-se de duas maneiras. Primeiro, é ao longo do tempo que se vai descobrindo melhores provas, ou descobrindo erros nas provas anteriores. Segundo, nenhuma fonte de prova é como uma ilha, isolada de outras fontes de prova: a observação pelo telescópio corrige os erros da observação a olho nu; as experiências laboratoriais controladas corrigem a experiência quotidiana assistemática. Assim, o trabalho epistémico responsável raramente é uma questão de encontrar provas definitivas; trata-se quase sempre de encontrar as melhores provas que se conseguir num dado contexto, comparando cuidadosamente a sua força relativa, e de manter em aberto a hipótese de refutação das entretanto encontradas. Em muitos contextos, uma pessoa confia na sua memória, ainda que não completamente; mas em casos muitíssimo importantes a memória não basta porque se sabe que há memórias falsas. E o mesmo acontece no caso da observação: em muitos casos vê-se para crer, e isso basta, mas uma das lições mais importantes das ciências dos últimos séculos é que a visão é enganadora em muitos casos e é preciso usar instrumentos de medida para corrigir os erros perceptivos.
Não há outra maneira de formar crenças responsavelmente excepto procurando as fontes de prova mais robustas, contrastando-as entre si e procurando activamente os erros. Em termos de observação directa e de percepção sensorial simples, não há qualquer razão para pensar que a Terra se move; é o Sol e a Lua que parecem orbitar a Terra. Porém, observações e cálculos matemáticos mais cuidadosos, constituem provas muitíssimo mais fortes de que isso é uma ilusão perceptiva. Do mesmo modo, quando há um resultado surpreendente da matemática ou da lógica, há sempre a alternativa de mudar as regras de inferência ou os axiomas, em vez de mudar a crença de que esse resultado é falso. O que conta, porém, não é apenas haver provas para o lado que se quer, ou em harmonia com as crenças que já se tinha; o que conta é comparar a força relativa das diferentes provas, para ver quais são mais robustas e onde é mais provável haver erros.
As crenças têm graus de força, assim como o conhecimento; uma das condições necessárias da responsabilidade epistémica é alinhar a força da crença com a força das provas. Quem tem crenças extraordinariamente fortes apesar de dispor apenas de provas muitíssimo fracas é epistemicamente irresponsável. Ser preconceituoso ou dogmático inclui ter crenças muito fortes e recusar-se a abandoná-las ou enfraquecê-las, apesar de se ter confrontado com a fraqueza das provas a seu favor, ou com a força das contraprovas.
Finalmente, note-se que há sempre três casos diferentes com respeito à crença e ao conhecimento. Ilustrando com o caso da crença de que existem extraterrestres, os três casos são os seguintes:
1) Acreditar que existem extraterrestres;
2) Acreditar que não que existem extraterrestres;
3) Não acreditar que existem extraterrestres.
3 conclui-se validamente de 2, mas não vice-versa. É importante ter isto em mente porque se imagina por vezes que ou se acredita que sim ou que não, nos mais diversos assuntos, quando na verdade em muitos casos a única atitude epistemicamente responsável é terceira alternativa: a suspensão da crença.
As crenças não se provam nem refutam uma a uma no vazio, mas antes contra o pano de fundo de várias outras crenças prévias. Se muitas dessas crenças prévias forem falsas, torna-se muito mais difícil formar crenças verdadeiras. Veja-se o género de crenças que tinha um europeu de 1600 com uma boa formação escolar:
“Acredita que um corpo vítima de homicídio sangra na presença do homicida. Acredita que há um unguento que cura feridas se for esfregado no punhal que as causou. Acredita que a forma, cor e textura de uma planta pode ser uma pista do seu uso medicinal porque Deus fez a natureza de modo a ser interpretada pela humanidade. Acredita que é possível transformar o metal vil em ouro, ainda que duvide que alguém saiba como isso se faz. Acredita que a natureza tem horror ao vácuo. Acredita que o arco-íris é um sinal de Deus e que os cometas anunciam o mal. Acredita que os sonhos prevêem o futuro, se soubermos interpretá-los. Acredita, é claro, que a Terra está imóvel e que o Sol e as estrelas andam à sua volta a cada vinte e quatro horas — ouviu mencionar Copérnico, mas não imagina que ele pretendesse que o seu modelo heliocêntrico do cosmos fosse de encarar literalmente. Acredita na astrologia, mas como não sabe o momento exacto do seu nascimento, pensa que mesmo o melhor dos astrólogos não seria capaz de lhe dizer grande coisa que ele seja incapaz de encontrar nos livros.” (Wootton, The Invention of Science, pp. 29–30)
Isto significa que uma pessoa tem um azar epistémico extremo caso esteja num contexto em que um número esmagador de crenças muitíssimo comuns são falsas. A dificuldade é muito mais grave do que possa parecer devido à divisão do trabalho epistémico. Para se compreender o que está aqui em questão considere-se a reacção histórica da Royal Society de Londres, fundada em 1660, ao género de crendices que Wootton relata. Contra a disseminação de preconceitos, mitos e meias-verdades, os fundadores desta instituição escolheram como mote a expressão latina “Nullius in verba”, que significa algo como “Nada pela palavra”. O que está em questão é a rejeição do pseudoconhecimento baseado em crenças sem provas adequadas, mesmo que sejam crenças de grandes autoridades. A ideia é que seja qual for a crença que alguém tem, e por mais autoridade que detenha, ou se consegue provar adequadamente a sua verdade ou plausibilidade, ou não é de aceitar. Ora, as únicas coisas que provam crenças adequadamente são provas adequadas; a simples autoridade de alguém, ou a tradição, ou a força institucional ou política, o prestígio ou seja o que for, é irrelevante.
Nada há de errado, pelo contrário, com esta atitude; é, na verdade, a base de todo o progresso cognitivo impressionante que a humanidade tem conseguido. Porém, este projecto é insusceptível de ser levado a cabo excepto cooperativamente, entre várias pessoas, porque cada pessoa sozinha só consegue saber uma ínfima parte das coisas. Não há pessoa alguma que tenha o conhecimento suficiente para conseguir fazer, do princípio ao fim, uma coisa tão simples como um par de sapatos, para não falar de um computador ou de um avião; diferentes pessoas conhecem diferentes partes e quando tudo isso se junta consegue-se coisas impressionantes. O conhecimento humano depende crucialmente do conhecimento dos outros seres humanos, e isto significa que não há uma boa solução individual, pessoal, para a desgraça epistémica de ter um conjunto vasto de crenças falsas, preconceituosas, supersticiosas, fantasiosas ou por qualquer outra razão profundamente inadequadas. Para quase toda a gente, a fonte principal de prova não é a observação rigorosa nem o raciocínio cuidadoso, mas simplesmente a experiência diária assistemática e as crenças comuns das pessoas que a rodeiam. Ninguém consegue sozinho examinar as provas e contraprovas de todas as suas crenças; mas se mais e mais instituições forem como a Royal Society e se pautarem pela exigência rigorosa de prova, cabendo a diferentes grupos de especialistas provar ou refutar diferentes tipos de crenças, isso gera um ambiente epistemicamente melhor — cria as condições para que cada ser humano individual consiga ser epistemicamente responsável.
Este é o aspecto social da crença. Os seres humanos são gregários não apenas com respeito ao relacionamento emocional com os seus semelhantes; são-no também com respeito às crenças que lhes parece razoável adoptar e com respeito às crenças de fundo, contra as quais as provas e as novas crenças são avaliadas. O exemplo de Wootton é a um tempo esclarecedor, mas também ilusório, caso se pense que a desgraça epistémica de ter um número imenso de crenças de fundo falsas mas socialmente bem aceites e comuns é coisa do passado; pelo contrário, está bem presente actualmente. Chama-se-lhe por vezes “fake news”, mas a única novidade aqui é ter-lhe sido dado um nome chique: boatos sem provas, prontamente difundidos por várias pessoas que querem parecer informadas e conhecedoras, ou que querem ganhar dinheiro ou poder, é um fenómeno infelizmente muito antigo.
A responsabilidade epistémica exige a humildade de se reconhecer que talvez nos tenhamos enganado, o que por sua vez dá trabalho porque exige a procura cuidadosa das melhores provas e contraprovas, ao invés de formar opiniões à toa, seja com base exclusivamente na cor política aleatoriamente associada a essa ideia, seja com base noutros factores inapropriados. Exige também o reconhecimento da importância da divisão do trabalho epistémico, ou seja, a importância do conhecimento especializado. Por mais que se venda a mentira epistémica de que todo o cidadão informado tem uma palavra relevante a dizer sobre o aborto ou a eutanásia, sobre o aquecimento global ou as decisões económicas fundamentais, a verdade é que só os especialistas em cada uma dessas áreas sabe do que fala, tal como só um piloto de aviões sabe pilotar aviões e só um professor de ética sabe como se ensina ética. Por sua vez, isto levanta uma questão política importante porque é preciso diminuir ao máximo a tentação de usar o conhecimento especializado para enganar quem não o tem. Ora, é fácil ver que isto é dizer por outras palavras que a questão fundamental aqui é como tornar a responsabilidade epistémica uma exigência sem cedências nas nossas sociedades, punindo em tribunal a sua ausência como se pune o perjúrio ou a difamação. E quando se olha para as afirmações irresponsáveis que constituem o grosso da chamada “discussão pública”, que aliás está sempre a um passo de mais uma fofoca sobre um beijo de um futebolista famoso, compreende-se que apesar de ser um exagero dizer que a promoção da responsabilidade epistémica é o desafio mais fundamental do nosso tempo, não é afinal de contas um exagero assim tão grande.
Desidério Murcho é filósofo, escritor e professor de Filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto. É autor, entre outros, de Filosofia Diretamente e O Lugar da Lógica na Filosofia. Edita o site Crítica na Rede.