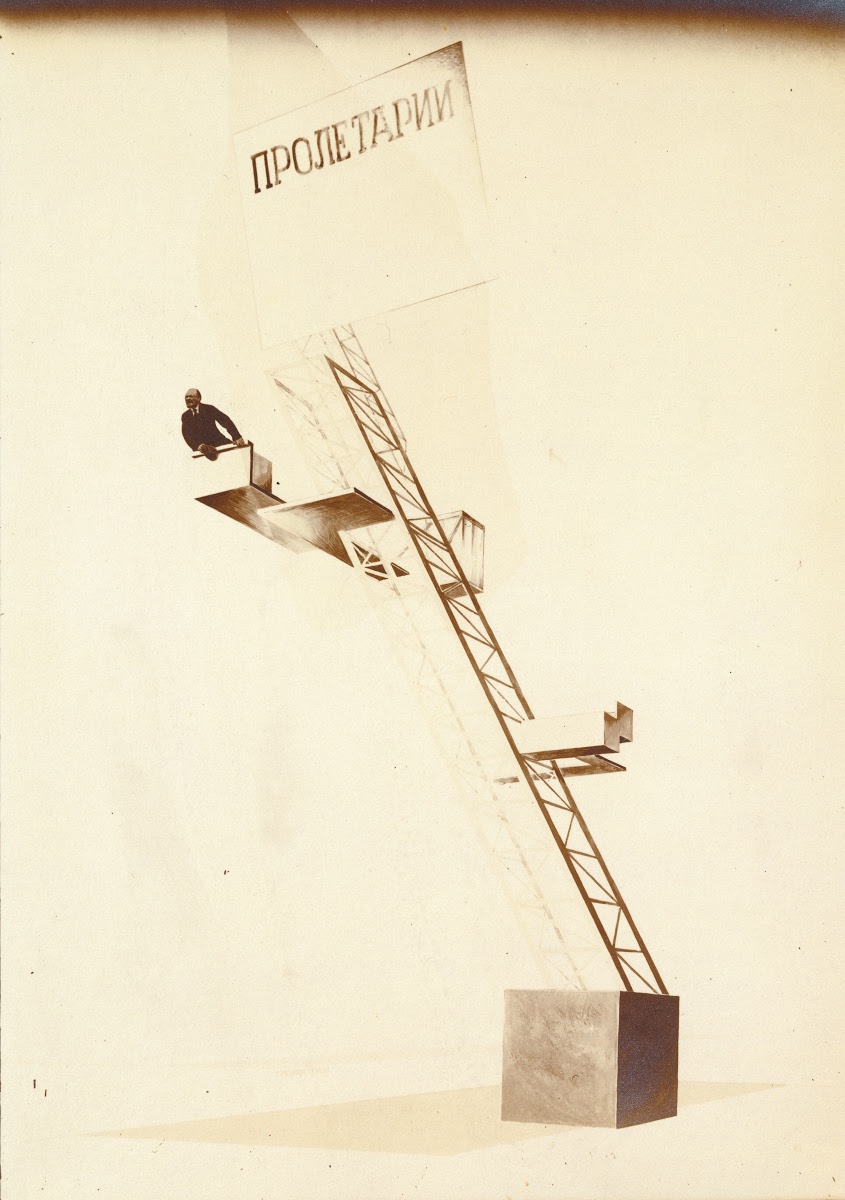por Celina Alcântara Brod
..

..
Vamos morrer. Não é uma hipótese ou probabilidade, é fato bruto. No entanto, não sabemos lidar com a certeza da finitude, nem sabemos o que fazer enquanto a Dona Morte não vem. O que fazer entre aqui e lá? Como preencher esse espaço que se pretende intervalo? A vida humana apresenta uma ambivalência desconcertante, a beleza divide espaço com o sofrimento, amor e ódio disputam com igualdade de forças a atenção das nossas mentes. Como escreveu Albert Camus, ao debruçar-se sobre o mito de Sísifo: “a felicidade e o absurdo são dois filhos da terra”. É diante destes contrastes que a pergunta socrática se torna inevitável: “como devemos viver?”. E, como toda pergunta, ela parece exigir uma resposta e essa reposta sugere a existência de um caminho, um manual da felicidade que nos diga o que é uma boa vida e o que precisamos fazer para vivê-la.
Mas se eu não sei esse caminho, quem sabe? Se a vida apresenta bifurcações e é cheia de valores distintos, como saber meu lugar no mundo? Estamos aqui diante de um sentimento universal, afinal, para provar da solidão que acompanha a angústia e o falatório das incertezas basta estar vivo e saber que se vive. Quem, portanto, negaria a confusão que habita cada humano? “Vamos lá, me dê um caminho”, “o que devo fazer?” “Como devo preencher meu tempo?” “Em qual lugar buscar os meus deveres nesse mundo onde a realidade e a ilusão se confundem?” Essas são perguntas que martelam a consciência, fazendo nosso eu imergir em sentimentos de insignificância, impotência e desamparo.
Somos ignorantes quanto a maioria dos fatos e as coisas que nos rodeiam, nossa ignorância sobre escolhas certas é uma entre tantas. O conhecimento que adquirimos pela nossa própria experiência é raso e pífio. Mais da metade do que sabemos veio de livros, filmes, jornais, especialistas, professores ou parentes. Em diversos assuntos é simplesmente insensato pensarmos por conta própria, uma vez que dependemos do conhecimento de especialistas para acreditarmos em afirmações das quais não temos evidência direta nem ferramentas para checar a verdade.
Se eu acredito que vacinas são capazes de proteger meu organismo de vírus mortais, isso se deve ao fato de eu acreditar em autoridades no assunto, pois desconheço o funcionamento de vacinas. O bom leigo é aquele que admite sua inferioridade intelectual sobre assuntos que não domina. Dependemos epistêmicamente uns dos outros, como bem observou o filósofo John Hardwig[1], “as vezes é irracional pensarmos por nós mesmos….boa parte da nossa racionalidade apoia-se na confiança”. Somos autoridades originais apenas sobre as experiências que testemunhamos em primeira pessoa. Verdade seja dita: nosso universo epistêmico é bastante limitado e estreito.
Em contrapartida, a piscina do conhecimento cresceu, a tecnologia avançou e nos tornamos membros de uma sociedade de especialistas, graças a divisão do trabalho e a divisão cognitiva. Nossa atual rede de cooperação permite que pessoas se concentrem na formulação de remédios e na invenção de smartphones, enquanto outras aumentam a produção de farinha. Estamos divididos em diferentes áreas para dar conta de tudo, portanto, não estamos equipados para confiar exclusivamente em nós mesmos.
Não posso, por exemplo, receitar remédios ou calcular trajetórias espaciais, tampouco posso verificar se é verdade que a velocidade da luz existe ou que fumar causa câncer. Confiar a coerência dos nossos raciocínios à uma autoridade, quando é dela que vem o conhecimento sobre determinado assunto, é tomar os meios mais adequados para se obter afirmações comprometidas com a verdade. Dentro de um contexto assim, é contraproducente encorajar aquilo que Immanuel Kant chamou de maioridade, ou seja, pensar sem a orientação de outro. Para Hardwig, este objetivo de racionalidade seria “um ideal romântico”. Afinal, não temos ferramentas para julgar o mérito, a falsidade ou a veracidade de afirmações que fogem do escopo da nossa experiência. Nesse sentido, crer no conhecimento alheio seria um requisito da própria racionalidade.
Mas será que a mesma dependência é igualmente válida quando tratamos de valores e fins humanos? A Ciência produz conhecimento sobre o mundo, pautada em como as coisas são, mas quando o assunto é como as coisas deveriam ser, ou melhor ainda, como nós humanos deveríamos agir, pensar, sentir e crer? Será que devemos confiar em uma autoridade para descobrir o que é uma boa vida enquanto a Dona Morte não vem? Será que reis filósofos deveriam estar no comando de alguma coisa, como acreditava Platão? Será que existe alguém superior e mais bem equipado para acessar uma esfera inteligível e retirar os cegos dos grilhões da ignorância?
Em um outro ensaio, publicado aqui no Estado da Arte, tratei do nascimento de seguidores. Mostrei como a influência é um fenômeno inescapável e insuprimível. Argumentei que uma autoridade moral com determinado sistema de crenças pode atrair pessoas do mesmo modo que mariposas que são atraídas pela luz, fazendo com que indivíduos se enclausurem em seitas guiadas por gurus e líderes carismáticos. Estas autoridades autodeclaradas geralmente alegam ser portadoras de algum conhecimento secreto, cujo acesso está fora das conclusões da vida comum ou inacessível aos indivíduos sozinhos. A este chamamos de gurus, mestres, líderes ou profetas.
Gurus estão por aí há bastante tempo, os sistemas de crença que eles vendem importa menos do que se imagina, o manual da felicidade pode ser composto por diversos elementos. Pode ser um cocktail que mistura filosofia e misticismo, ideologia e metafísica, yoga e aperfeiçoamento pessoal, religião e meditação ou elevação de consciência com mudança social. Seja como for, o que gera a alteração psicológica e o engajamento extremo está mais relacionado com a dinâmica de ganhos e perdas psicológicas e as mudanças cognitivas e emotivas que uma relação gurus – seguidores acarreta. As promessas de transformação muitas vezes são meras iscas para um fim oculto: interesses egoístas camuflados de nobres intenções. Líderes que instigam a servidão, que se manifesta na admiração cega e obediência irrestrita, conseguem atingir seus fins porque eles são mestres da manipulação.
A manipulação, diferente da mentira, é uma estratégia sofisticada que desvia intencionalmente a formação de crenças para um caminho previsível e desejável por aquele que a implementa[2]. Sem utilizar coerção ou persuasão racional, a manipulação se diferencia mais na forma do que no conteúdo. A forma não linguística pode contar com regulação de emoções, pressão sobre as fraquezas previamente identificadas, incentivos negativos ou atitudes que motivam fortemente a escolha dos indivíduos. O manipulador sabe que, em circunstâncias normais, as escolhas que deseja que o agente manipulado faça sofreriam resistência caso fossem colocadas de forma direta e escancarada.
Enquanto o conteúdo linguístico provoca o engajamento através de cadeias de argumentos que suscitam falsas crenças e determinadas emoções, a forma da manipulação investe em vieses cognitivos e vulnerabilidades psicológicas premeditadas pelo manipulador. Assim, o fim do agente manipulado é ignorado e pode ser manobrado de forma encoberta e sutil para uma direção contrária e nociva. Dentro da relação guru-seguidor, os indivíduos estão suscetíveis a confiar em tal autoridade em troca do conhecimento responsável pela transformação radical pessoal ou social.
Filósofos situacionistas, como John Doris, enfatizam o quanto nosso comportamento é suscetível a fatores situacionais e que até mesmo pequenos detalhes carregam a força de modificar nossas reações e sentimentos. Situacionistas chamam de erro fundamental de atribuição a noção de que possuímos traços de personalidade robustos o suficiente para sustentar um comportamento regular e previsível. O erro, segundo eles, é enxergar o caráter como o principal preditor do comportamento e minimizar a força que as influências externas podem exercer na motivação das escolhas. Se até o tom de voz ou um piscar de olhos consegue moldar nossas respostas, então não deveríamos subestimar os efeitos da interação entre gurus e discípulos, menos ainda da confiança que os últimos depositam em seus líderes.
Se alguém acredita em Fulano, necessariamente acredita que Fulano acredita no que diz e que o conteúdo da sua fala é verdadeiro e correto. Na verdade, isso deveria se chamar fé em alguém, não crença, um detalhe importante destacado por Elizabeth Anscombe[3]. Logo, acreditar em alguém está intimamente ligado ao sentimento de confiança. Contudo, como bem apontado por Annette Baier,“imoralidade também se desenvolve sob algumas formas de confiança”[4], sistemas de cooperação corruptos só funcionam porque seus membros confiam uns nos outros. No caso dos gurus, a confiança não é sobre conteúdos técnicos e especializados, como a que depositamos em um médico ou mecânico, mas conteúdos que tratam de uma nova boa vida.
A própria filosofia também pode servir de abrigo para gurus e charlatões ou, nas palavras de David Hume, falsos filósofos. Não é de hoje que a filosofia serviu de dama de companhia para superstição, entusiasmo, fanatismo e seitas, uma vez que ela mesma está preocupada com a pergunta sobre uma boa vida, uma boa sociedade e no que constitui a fonte da felicidade humana. Mas qual seria a diferença entre um verdadeiro filósofo e um falso filósofo? Para responder essa pergunta recorro a uma síntese feita por Donald Livingston[5], baseada nas obras de David Hume.
Um ato filosófico é um ato de suspensão e reflexão instigado por experiências que quebram a ordem das coisas, ocorre quando experenciamos algo que contradiz crenças estabelecidas. Toda vez que, por exemplo, nos deparamos como uma cultura estrangeira ou quando questionamos se a existência externa dos objetos é distinta ou uma representação sensorial privada. Ao teorizar sobre a realidade última das coisas, o filósofo retira-se do mundo para tornar-se espectador e questionar o modo como as coisas são, separando aparência da realidade. Seu “retorno” é marcado pela visão daquele que enxergou as coisas de um lugar privilegiado, o que acaba afrouxando a autoridade do costume como um guia legítimo para crenças.
Tal suspensão da realidade aliena o filósofo do hábito e o deixa desconfiado em relação a qualquer regra que possa vir da vida comum. Consequentemente, tradições, hábitos e formas de vida não refletidos são desprezados e interpretados como embustes e fonte de erros. Diante desse mundo errático, imperfeito e caótico, os falsos filósofos, “partindo de raciocínios puramente filosóficos”, escreve Hume, criam um mundo teórico que se opõe radicalmente ao mundo prosaico e habitual.
Assim, o falso filósofo, imerso em delírio filosófico, isto é, a pretensão de alcançar explicações últimas, derivadas apenas de cadeias de argumento, é motivado por paixões filosóficas como desprezo e ressentimento. Paixões de segunda ordem que não se dirigem contra um assunto em particular ou um caso específico que mereça ser modificado, mas contra toda a ordem habitual da vida comum. Sua imaginação suspensa, expurgada da autoridade do costume, opera a seguinte alquimia: escamoteia algum dos seus preconceitos favoritos em idealizações e modelos de imitação para nossas ações, o filósofo passa então a aplicá-las a todos os lugares e fenômenos. Como ele faz isso?
É através da linguagem que se afirmam coisas sobre o mundo dos fatos e dos valores. A mesma linguagem que produz Ciência também pode produzir superstição e filosofias extravagantes. O falso filósofo não usa a linguagem da reforma ou da investigação, mas a linguagem da total destruição ou completa renovação. Para Hume, superstição é a invocação de pensamentos mágicos e de ideias que não estão ancoradas na observação das conjunções regulares. Nesse caso, o uso da linguagem é performático, tornando sagrado ou profano determinados conceitos que, no fundo, são apenas preconceitos transformados em máximas “especiosas e agradáveis”. A partir disso, o falso filósofo reduz os múltiplos fenômenos do mundo natural a seu princípio favorito, respondendo às perguntas e interpretando as relações a partir do seu castelo teórico.
Enquanto o desprezo dá lugar ao filósofo ascético, o ressentimento dá lugar ao filósofo revolucionário. O primeiro se retira do mundo e da vida social, como fez Diógenes, já o segundo busca substituir a vida comum pela sua visão de mundo alternativa. Assim, toda e qualquer bondade ou vantagem no mundo se apaga. Não há graus de legitimidade na maneira como nossa espécie construiu suas convenções até aqui, a totalidade do hábito é desprezível, pois está fora do ideal alcançado pela total autonomia da razão. Isso explica tal modo de filosofar pode conduzir ao fanatismo, pois não há espaço para consenso quando a realidade se coloca no caminho de ordens corretas e perfeitas. Seguidores convertidos em ideais tão gloriosos não buscam ajustes e críticas específicas, mas uma transformação radical da vida comum.
É precisamente esta espécie de extravagância filosófica que gera o tipo de influência que seguidores se sentem atraídos: a crença em uma vida que promete aniquilar as impurezas e imperfeições do self ou do mundo, crença sustentada pela fé no testemunho do guru. Tudo isso oferece uma superioridade moral que é compartilhada entre aqueles que se dispõem a seguir os fundamentos dessa visão “do lugar nenhum”. O falso filósofo é, ainda por cima, um cínico, porque embora despreze a vida do vulgo, com suas trocas e modos sociais, ele não pode escapar de ser participante deste mesmo mundo. Tal hipocrisia é mascarada pela sua crença de que ele age em nome de um fundamento, o que torna as coisas ainda mais perigosas. As paixões que nascem dessa “imaginação ardorosa” e motivam as ações destes gurus-filósofos conduzem a aquilo que Hume chamou de vidas artificias.
Pessoas submersas na artificialidade destas crenças dogmáticas se afastam do uso comum da razão e da generalidade dos atos que agradam e desagradam. Seus objetivos são projeções de mentes movidas por paixões como desprezo, arrogância, orgulho e ressentimento. Não há ajustes na sociedade que possam extinguir tais paixões e qualquer crítica que seja feita ao seu castelo teórico é vista como um ataque direto a razão.
Então, o que seria um verdadeiro filósofo? Será que é aquele que se resigna e simplesmente aceita as imperfeições do mundo? Não. O verdadeiro filósofo não negará autoridade do hábito, tampouco irá se enxergar como um soberano ou árbitro superior, mas como um participante crítico da vida comum. É aquele filósofo que percorreu o caminho da dialética entre a reflexão filosófica radical e o costume, sua melancolia e delírio filosófico são superados pela inevitabilidade da sua participação costumeira no mundo. O verdadeiro filósofo reconhece os limites da teorização, o seu momento pirrônico quebra a arrogância e orgulho filosófico, porém, ele segue na busca de uma maior compreensão da natureza humana.
Ele irá submeter a realidade a constantes exames, manterá a humildade e a curiosidade em perseguir verdades. Ele leva em consideração a constatação de que a grande maioria de suas crenças, que regulam suas ações mais básicas, não provem de conclusões descoladas das convenções que o forjaram, sua própria consciência esteve amarrada a hábitos que chegaram antes mesmo da sua reflexão. A percepção desse comprometimento com o tempo e com a vastidão do conhecimento anterior a ele mesmo lhe concede a virtude da humildade e o afasta do dogmatismo.
Diante destas normas que separaram o falso filósofo do verdadeiro filósofo, podemos pensar na seguinte hipótese: se um filósofo verdadeiro é tomado como guru, sua mensagem carismática será pautada na utilidade social das reformas particulares e das críticas propostas, não na negação da realidade, menos ainda na sua pessoa como vetor ou detentor das máximas que irão conduzir a transformação. As virtudes encorajadas pelo verdadeiro filósofo irão corresponder aquilo que é útil e agradável a quem as exerce e aos outros, sendo a curiosidade filosófica, o ceticismo moderado e a prudência parte da sua conduta e mensagem carismática.
Mensagens carismáticas[6] tendem a surgir quando uma classe de pessoas percebe a opressão sofrida dentro da tradição ou contexto social que vivem e são inspiradas por líderes que ofereçam uma resposta para a pergunta: “qual é o nosso lugar no mundo?” Estes líderes atraem seguidores pela mensagem social, seu carisma é, portanto, socializado. Quando indivíduos buscam uma liberdade interior e orientação para julgar o que seria seu eu ideal no lugar do seu eu empírico, eles sentem-se atraídos por líderes personalizado que irão suprir a seguinte pergunta: Qual é o meu lugar no mundo?
Carisma, portanto, não é um fenômeno isolado, carisma é, acima de tudo, um produto da interação das pessoas contagiadas pela mensagem visionária e pelos valores manifestados pelo líder. Um líder destrutivo quer servir a si mesmo, satisfazer seus objetivos pessoais e necessidades, desconsiderando os fins de seus seguidores, já um líder positivo quer satisfazer as necessidades dos seus seguidores sem instrumentalizá-los através da manipulação.
Talvez a pergunta mais pertinente e difícil não seja sobre as diferenças entre o falso e o verdadeiro guru, mas por que precisamos deles? Diferente de necessitar do conhecimento de especialistas sobre curas, sistemas tecnológicos e vacinas, por que ansiamos por instrutores de vida? Por que as pessoas fundem seu eu a uma outra pessoa, muitas vezes a ponto de alcançar uma relação completamente simbiótica? Será que se sentem atraídas pela ideia de que alguém as liberte de suas dúvidas e temores, ou seja, de si mesmas?
..

..
..
Notas:
[1] John Hardwig: Epistemic Dependence, The Journal Of Philosophy, Vol.82 No.7, 19985, pp.335-349
[2] Joel Rudinow, Manipulation, The University of Chicago, 1978
[3] G.E.M Anscombe “What is it to Believe someone?”, University of Notre Dame Press, 1979
[4]Annette Baier: “Trust and Antitrust”, Ethics, Vol. 96, No. 2, 1986, pp. 231-260
[5] Donald Livingston: Philosophical Melancholy and Delirium: Hume’s pathology of Philosophy, University of Chicago Press, 1998.
[6] Stuart J.M. Weierter: Who wants to follow the leader? A theory of Charismatic Relationships based on routinized Charisma and Follower Characteristics. The University of Queensland 1997, Leadership Quarterely8 (2), pp. 171-193.
..
..