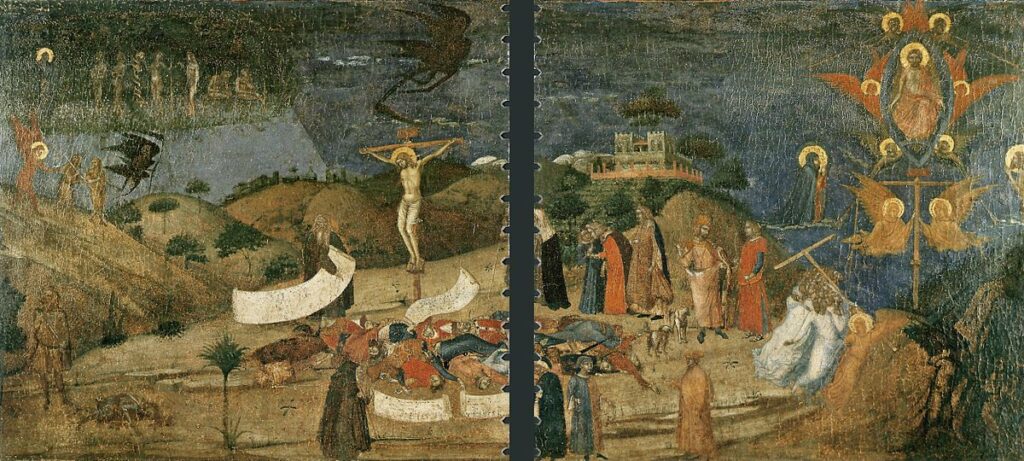Nós, um júri de culpados sob os olhos da história..

Culpa metafísica. Esse foi o nome atribuído por Karl Jaspers ao tipo de angústia e desorientação de ordem existencial que aflige toda sociedade dedicada à política da morte. Qualquer genocídio cobra um preço distinto, pois tem, além do habitual, a marca indelével dos injustos. Seu custo exato é uma conhecida e impagável dívida, a culpa.
A culpa à qual me refiro não é remorso nem arrependimento, muito menos efeito da lucidez do reconhecimento da responsabilidade por um malfeito preciso. A mencionada culpa não é causada pelo delito individual, do qual se deve concretamente identificar o crime e o criminoso, tipificando a violação. Dentre seus vários significados, a culpa tem uma definição abstrata, que dá forma a uma patologia social, fenômeno que ultrapassa um indivíduo culpado e afeta o coletivo. Em geral, a culpa coletiva é a punição à soberania do arbítrio, da ingerência ou da negligência, cuja consequência é perturbar violentamente o conteúdo moral que ata a sua vida à minha.
Sem trivializar o conceito de culpa, o distúrbio ético gerado pela violência, da qual todos somos vítimas, converte-nos em culpados. Essa culpa jamais deposita seu peso e sua aflição sob uma única consciência originária, mas adoece a comunidade e se alastra como uma epidemia de caráter psicológico. Ela formaliza uma condição, em que todos os implicados, de diferentes perspectivas e à sombra da autoridade injusta, encontram-se culpados. Desse ponto de vista, ser culpado não é ser cúmplice ou agente individualmente responsável pela dor ou pelo fim alheios. Ter culpa aqui significa existir lado a lado com quem sofre a violação da justiça — uma linha delicada que enreda a todos, amarrada de forma sutil, forte o bastante para nos manter reunidos, fraca o suficiente para ser quebrada num pequeno ímpeto de cólera ou torpor omisso. Toda morte injusta parte violentamente essa linha. Não é fácil reparar uma ruptura desse gênero, de material tão frágil quanto a vida humana...
Nada menos que o resultado da penitência autoinflingida:
o sangue jorra na velocidade e quantidade que correm os maiores rios,
de repente, diluindo a danação da humanidade,
afanando a má consciência culpada,
imersa no mar da morte que tudo esquece.

Palavras de Eleuterno Dias, mais um poeta abandonado. Não haveria segredo entre a terra e o céu que toda culpa não conheça. Nada de novo haveria em um quadro insólito, em que a morte é copiosamente banalizada, é o evento normal que nada ensina aos vivos. A culpa é o sintoma da apatia diante da repetição — não a repetição de fatos, mas de juízos. Somos enganados pela nossa memória fraca, cujo dedo cansado e em riste nos acusa da desmemorialização, que dissolve e dispersa, sem protestos, aquilo que não se pode desaprender.
Conta para isso a descrença no papel didático da razão histórica, gesto cínico dos que duvidam, contra todas as evidências, da sua capacidade de realizar prognósticos. A história — aviso de incêndio, nos termos de Walter Benjamin — nada ensina ou somos nós, desatentos e indolentes, que nada aprendemos com ela? O excesso de ceticismo, algo análogo à ingenuidade, de nenhum modo é manifestação de prudência. Incrédulos e crentes, ambos são tragados pela vertigem da realidade.
I summon up remembrance of things past, tão somente para lembrar que nada do que foi vivido simplesmente passou. No diário dos finados, que daqui partiram, depois de algumas páginas se lê pouca coisa nova, apesar das inúmeras reticências que se seguem a toda lembrança registrada. Erick Araujo caracteriza no título de seu último livro a natureza interruptiva e reticente particular das recordações, entre vírgulas e três pontos: , Lima Barreto…
A impostura de se acreditar que tudo passa, no sentido de que o tempo faz as coisas desaparecerem naturalmente, ou melhor, da convicção dogmática de que já não temos mais que dar satisfação aos mortos, é dos motivos mais recursivos de nosso mal. A impiedosa força e ubiquidade da culpa manifesta sua característica mais grave exatamente quando nos esquecemos, dia após dia, afogados no mar da morte, o que a legitimou e nos transformou em quem somos: a história do processo de nosso sofrimento, que não começa hoje, mas há muito tempo. Os mortos rememoram os vivos. Porque não basta expor o arcaico rosto demoníaco da razão histórica — revelar os males que ela foi capaz de encobrir não é suficiente para a apropriada condenação da injustiça. A legião de demônios da história deve ser disciplinada, domesticada, dado que nunca será exorcizada por algum termo.
O martelo do juízo histórico bate ininterruptamente em nossas cabeças, uma vez que apenas nosso conceito de tempo nos deixa chamar o Juízo Final assim, como o futuro certo, o porvir de um processo. Na verdade, é como disse Franz Kafka, o processo está em curso, o fim é agora, e esse júri está a todo momento emitindo uma sentença, em toda hora passada e a todo instante. A condenação, deliberada pelo júri, nós, é reiteradamente a culpa, feita sob medida na larga porta da justiça kafkiana. Todos são culpados, vivos e mortos, júri e juiz.
Como evitar essa antiquada e por vezes simplória metáfora do tribunal da história se ao largo da justiça, da ética, tudo que há é a vingança, a violência, a negação?
Adverte-nos, ainda, Hannah Arendt: à medida que todos são culpados, ninguém, em última análise, pode ser julgado. Tudo é perdoado por um júri de culpados. É inequívoco que há dúvidas quanto ao método desse julgamento, viciado pela parcialidade do júri e do juiz, a história, suspeitos desde o princípio. Conquanto, não há prova moral mais profunda do que julgar a si mesmo. É difícil carregar todo conhecimento da culpa, porque nos obrigamos, deste modo, a dirigir o juízo sobre a própria infelicidade. Mas se quem julga é ao mesmo tempo réu, ao contrário do que se poderia supor, ninguém pode tomar o seu lugar, pois a culpa não constrange a razão do arbítrio, ela é o critério da instalação do júri, o cadafalso que sustenta a postura de quem se eleva à posição divina de árbitro.…