“Nada jamais poderá voltar a ser como era antes.”
Philippa acabara de se casar com Michael, que enfim retornava à Inglaterra em 1945 após ter sido um dos homens na Normandia. O tempo era de reconstrução: para uma Europa devastada pela Guerra e para um jovem casal que enfim retornava a Oxford. Oxford — onde o paraquedista Michael enfim poderia voltar a ser o historiador militar M.R.D. Foot. Onde Philippa Bosanquet, neta do ex-presidente americano Glover Cleveland, poderia enfim voltar a se dedicar à filosofia; onde ela poderia enfim abandonar o peso de um sobrenome aristocrata que remontava a um mundo que já não era mais seu e que colocava nela expectativas que não eram as suas.
Philippa Bosanquet agora era Philippa Foot, e havia muita coisa a ser feita. O trabalho como assistente em um grupo de pesquisas voltado à reconstrução econômica do pós-guerra ajudava a pagar as contas e se somava às outras demandas: a busca por bolsas ou mesmo posições acadêmicas que lhe permitissem a investigação filosófica, as tarefas de casa, os cuidados com um marido que, com a coluna e o crânio fraturados, precisava reaprender a caminhar.

Havia ainda um outro dever, porém: encarar o horror das imagens de Buchenwald e Bergen-Belsen, que começavam a ser divulgadas nos cinemas locais. Após o choque, Philippa Foot dirigiu-se a seu supervisor em Oxford, Donald MacKinnon: “Nada jamais poderá voltar a ser como era antes”. Antes interessada em pesquisar a ideia de substância nos pensamentos de Locke e Kant, Foot decidiu que precisava dizer alguma coisa sobre ética. A filosofia moral dos homens de Oxbridge em seu tempo não parecia capaz de dar conta daquilo. Aos olhos de Philippa Foot, já não era mais possível aceitar uma filosofia que, baseada em uma distinção rígida entre fato e valor, parecia incapaz de dizer que o que aconteceu em Auschwitz, Ravensbrück, Belsen e Buchenwald era objetivamente errado.
Nada jamais poderia voltar a ser como era antes.
Essa forma de iniciar uma apresentação da filosofia de Philippa Foot, combinada com uma perspectiva biográfica, foi a forma escolhida por Benjamin Lipscomb em The Women Are Up to Something, de 2022. No livro, o professor da Universidade de Houghton conta como um grupo de quatro mulheres — Elizabeth Anscombe, Mary Midgley, Iris Murdoch e a própria Philippa Foot — revolucionou a filosofia moral de Oxford nos anos 1940 em diante.
Lipscomb não estava exagerando. Afinal, não é apenas o caso de que era certamente um tanto desafiador ser uma filósofa em um ambiente intelectual predominantemente masculino, numa universidade que só passou a conferir grau a mulheres em 1920 (sendo que Cambridge, para efeitos de comparação, só o faria 28 anos depois). Mais do que isso: Anscombe, Midgley, Murdoch e Foot, cada uma à sua maneira — isto é, com algumas diferenças significativas, mas com orientação e disposição filosófica muito similares, com um centro de gravidade compartilhado como denominador comum —, todas desafiaram o paradigma que dominava o pensamento moral dos filósofos mais proeminentes de seu tempo.

Ainda que também com suas diferenças, certamente, a filosofia moral dominante na Oxford de então — o modo de se fazer filosofia moral na Oxford de então — tinha uma premissa: as únicas proposições que faziam sentido eram aquelas passíveis de verificação por meio da observação empírica ou, no limite, aquelas que dizem respeito à lógica de nossa linguagem (as proposições que estabelecem relações entre ideias e, assim, definem as palavras a serem empregadas em proposições factuais). “Deus é bom”, “A Noite Estrelada é uma bela obra”, “O adultério é errado” seriam assim exemplos de proposições carentes de um significado factual. Juízos morais não poderiam ser juízos cognitivos.

Os nazistas achavam o Holocausto certo, nós achamos o Holocausto errado, e, bem, é isso. O juízo de que aquilo tudo era abjeto não é um juízo descritivo, não descreve o mundo e, assim, não pode ser classificado como verdadeiro ou falso.
Não pode ser assim, pensava Foot. É desse ‘não pode ser assim’ que nasce sua filosofia moral, que culminaria em Natural Goodness, sua obra-prima — publicada apenas em 2001, tardiamente, nove anos antes de sua morte. “Eu penso devagar”, dizia Foot; “mas tenho um bom faro para as coisas importantes”.
Quanto a isso, penso que Foot foi demasiadamente modesta. Ainda que com alguma modificação substantiva em determinados pontos, ela já vinha desenvolvendo com rigor muitos dos argumentos que depois apareceriam de forma mais madura em Natural Goodness.
E para ser justo com todos os lados envolvidos, também os argumentos da filosofia moral enfrentada por Foot tiveram alguma sofisticação. Já não se tratava mais de dizer que juízos morais simplesmente não faziam sentido: essas teorias foram adquirindo novas versões, mais elaboradas e já orientadas pelo giro linguístico.
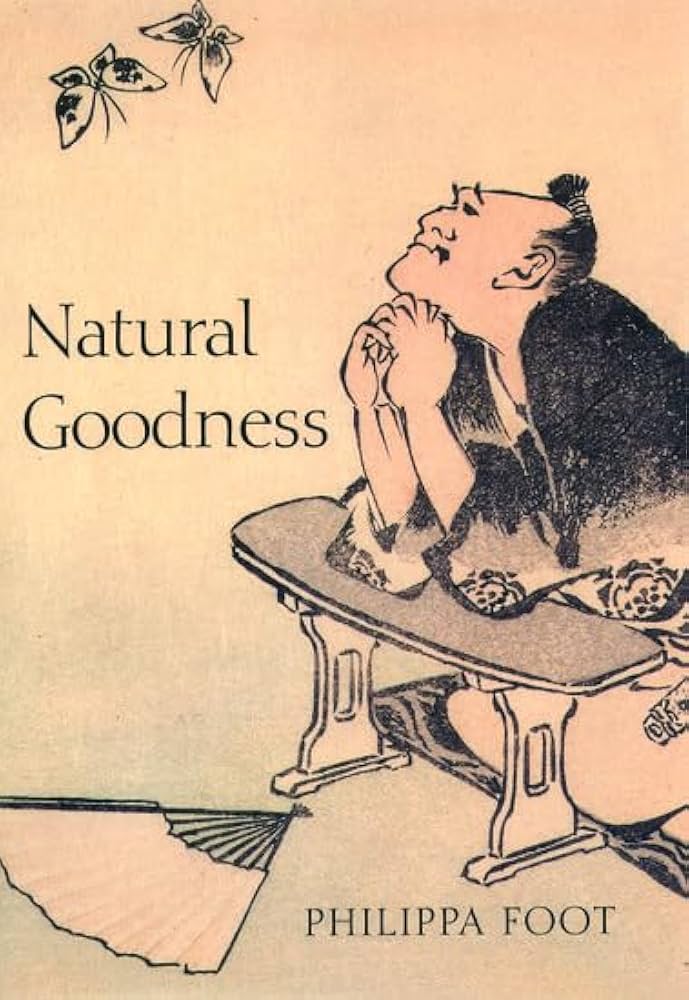
Agora, dito isso, e com suas nuances — seja na versão do emotivismo de A.J. Ayer e C.L. Stevenson ou do prescritivismo de Richard Hare —, essas teorias eram ainda todas, definitivamente, não-cognitivistas. Afinal, uma vez que (1) as esferas do fato e do valor eram tidas como separadas e (2) somente as proposições que descrevem o mundo — i.e., proposições sobre fatos — eram consideradas aptas a ter algum valor de verdade — isto é, passíveis de classificação como verdadeiras ou falsas —, juízos morais poderiam apenas (a depender da teoria) expressar emoções, indicar disposições e, assim, prescrever ações.
É claro, e novamente para ser justo, não é como se qualquer um desses teóricos fosse um apologista do Holocausto. Mesmo os positivistas mais incipientes do Círculo de Viena eram social-democratas perseguidos pelo regime nazista. Autores subsequentes como Hare, por exemplo, insistiam na ideia de que uma vez que os valores eram uma questão de escolha, e não de descoberta, somos nós que temos responsabilidade moral sobre aquilo que escolhemos. Ainda assim, permanece a ideia de que não haveria como classificar objetivamente juízos morais como verdadeiros ou falsos.
O que é importante destacar já inicialmente é o seguinte: não é que Foot olhasse para essa explicação sobre os juízos morais e pensasse apenas que isso pode não ter consequências desejáveis. Para ela, essa simplesmente não era uma boa descrição de nossa gramática moral, na qual há a expressão de algo de verdadeiro e independente de escolhas humanas.
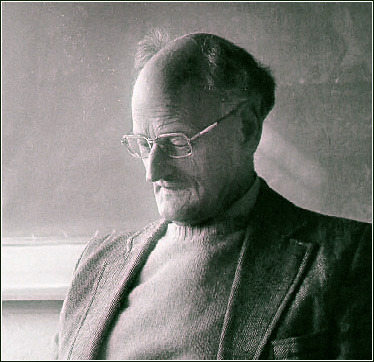
De acordo com Foot, essas teorias até davam conta da ideia de que a moralidade é uma disciplina prática: autores como Hare entendiam bem que a moralidade tem um caráter necessário de orientação da ação humana. O problema é que, para Foot, se é verdade que essas teorias atendiam a esse requisito, a raiz do problema está exatamente na premissa a partir da qual as teorias não-cognitivistas oferecem sua resposta.
O não-cognitivismo, afinal, além de comprometido com uma distinção rígida entre fato e valor, estaria comprometido com a tese de que nossas razões para agir dizem respeito a nossos desejos e interesses: só temos razões para agir se temos certos desejos ou inclinações particulares. A subjetividade nos critérios morais é o segundo nível de uma subjetividade na própria concepção de nossa racionalidade prática — e é nesses dois níveis que Foot trava seu embate teórico, propondo assim uma resposta alternativa.
É verdade, a moralidade tem um caráter prático: mas agir moralmente, dirá Foot, é parte de nossa racionalidade prática corretamente compreendida. Entender a racionalidade humana exclusivamente em termos de razões prudenciais, de autointeresse ou satisfação de desejos, é novamente um erro de premissa.
Se a racionalidade fosse apenas uma questão de autointeresse, de razões prudenciais, estaríamos agindo irracionalmente se não estivéssemos dispostos a trapacear para ganhar muito dinheiro, a quebrar uma promessa onerosa, enfim. O que Foot dirá é que essa é uma noção errada da própria ideia de racionalidade, que será mal compreendida se colocada em termos a serem reconciliados com uma ideia separada e posterior de moralidade. Só entendemos a racionalidade, dirá Foot, se entendermos que a moralidade faz parte dessa figura, tanto quanto nossos interesses próprios, desejos, emoções e instintos. Todos esses elementos são partes diferentes, mas integrais, à racionalidade prática — a moralidade inclusive.
A autopreservação, a busca de nossos interesses pessoais, e dizer a verdade, manter promessas, ajudar um amigo que precisa de apoio: tudo isso está no mesmo plano daquilo que constitui uma explicação mais completa — e, portanto, mais acurada, melhor — de nossa racionalidade prática, de nossa capacidade de agir e de responder a razões.
A chave para isso está, com Foot, em seu desafio à outra premissa não-cognitivista, que distingue rigidamente os campos do fato e do valor. O que une essas diferentes partes, esses diferentes aspectos de nossa racionalidade prática, é a ideia de bondade: a bondade dos seres humanos no que diz respeito à bondade de suas ações.
Não foi sem razão que anunciei o assunto deste ensaio falando sobre a gramática da bondade. Ao propor um novo começo para o modo de se fazer filosofia moral, Foot propõe o seguinte raciocínio: quando classificamos algo como ‘bom’, não estamos adotando o mesmo tipo de classificação que adotamos quando classificamos algo como ‘vermelho’. Vermelho é predicativo: funciona independentemente do substantivo a que estiver vinculado. A cadeira é vermelha, o livro é vermelho, a parede é vermelha.
Agora, a questão sobre algo ser bom depende radical e necessariamente de qual é o algo sobre o qual estamos falando. Uma boa casa, uma boa visão, uma boa comida. Um bom ser humano.
A tese de Foot, assim, é a de que o juízo moral adequado no que diz respeito às ações e disposições humanas passa, radical e necessariamente, pelo fato de que somos seres vivos. A avaliação da ação humana depende de fatos específicos sobre a vida humana. A diferença de Foot em relação ao modo tradicional, analítico, de se fazer filosofia moral em Oxford fica aqui evidente.
Foot recorre ao exemplo da promessa, celebremente elaborado por Elizabeth Anscombe, outra daquelas mulheres revolucionárias de Oxford — que, mesmo com as diferenças de temperamento e de crenças, Foot tinha como uma enorme referência intelectual. (Foot era doce e amável; Anscombe, dizem, era não tão doce e não tão amável. Foot se definia como uma ateia de carteirinha; Anscombe era, segundo a própria amiga Philippa, mais católica que o Papa.) São fatos sobre a vida humana, tal como ela é, que fazem com que seja necessário que possamos vincular uns aos outros por meio de instituições como a promessa. Somos seres sociais, vivemos uns com os outros, de modo que precisamos conseguir que façamos as coisas, uns pelos outros, sem que isso dependa do uso da força. É, simplesmente, um exemplo daquilo que se veio a chamar de necessidade aristotélica: uma necessidade da vida humana. Precisamos disso, o bem humano depende disso; de novo, simplesmente, porque somos como somos.

Onde estaríamos sem alguma ideia de justiça? Se não ajudássemos uns aos outros? Se não tivéssemos como tomar decisões coletivas que permitem um mínimo de coordenação social? Essas perguntas são todas naturais, e apontam àquela que é a base para uma teoria unificada da racionalidade prática. As virtudes morais não devem ser contrastadas com razões prudenciais, com um mínimo de autointeresse — também elas são necessidades, derivadas de fatos, de características que temos enquanto seres humanos.
Ninguém questionaria a racionalidade de alguém que adota comportamentos para garantir o próprio futuro. O que Foot quer dizer é que questionar a racionalidade de alguém que é virtuoso também não faz sentido: devemos ser virtuosos, há algo de bom nisso, e isso é assim em razão de fatos sobre nossa própria natureza enquanto seres humanos. Com esse movimento, Foot desafia as duas premissas não-cognitivistas, que estariam amparadas em uma má compreensão sobre (1) a racionalidade prática — sobre as motivações humanas e nossas razões para agir — e sobre (2) a gramática lógica subjacente a dizer que algo é ‘bom’, uma vez que o ‘algo’ aqui é essencial para a determinação e a significação do ‘bom’. Aquilo que é bom é logicamente vulnerável aos fatos, e fatos, por sua vez, são identificados e compreendidos, correta e mais completamente, à luz daquilo que é bom.
Quando dizemos que a visão de alguém é boa, o que queremos dizer é que os olhos dessa pessoa são como deveriam ser: eles exercem bem a função que lhes cabe na vida humana. A nossa visão não é ruim se não somos capazes de enxergar no escuro, por exemplo. A da coruja é, porque corujas caçam no escuro. Essa compreensão, do que significa um defeito natural, é relativa à espécie, e mostra bem a atributividade por trás da classificação de algo como ‘bom’: as coisas não são boas ou más, ponto, mas boas em relação à função do que é descrito como bom ou em relação à forma de vida de quem se fala.
O cervo é uma animal cuja forma de defesa é a fuga. Assim, temos um defeito natural num cervo específico que é demasiadamente devagar. O defeito e a excelência ambos têm relação com a forma de vida da espécie. Da série de proposições sobre como uma determinada espécie exerce aquilo que é próprio de sua forma de vida, derivamos normas a partir das quais podemos determinar padrões de excelência relativos às espécies. São padrões da normatividade natural.
A gramática lógica é importante porque não há mudança aqui no significado de ‘bom’ quando falamos em ‘boas raízes’ e quando falamos em ‘boas disposições da vontade humana’. Só há essa diferença se aceitas as premissas não-cognitivistas — e é então que o ônus argumentativo parece se inverter. Nos termos de Warren Quinn, assumidos por Foot, o que a ideia mesma de racionalidade prática teria de tão importante se fins absolutamente odiosos forem facilmente classificados como racionais? Não é a moralidade que deve passar no teste da racionalidade, mas a racionalidade que deve passar no teste da moralidade.
Foot não estava delirando, portanto, quando iniciou uma de suas conferências dizendo que somos um pouco como as plantas. Uma planta precisa de raízes fortes e, assim como as plantas precisam de raízes fortes, nós precisamos ser corajosos, por exemplo: quando falamos sobre aquilo que se espera de um ser humano, entendemos que um ser humano deve ser capaz, em certas circunstâncias, de enfrentar o perigo, de encarar desafios, de lidar com a perda. Não há, assim, uma barreira ou uma lacuna entre os fatos e as avaliações.
Peter Geach — filósofo a quem Foot deve o argumento do caráter atributivo do adjetivo ‘bom’, companheiro de Anscombe (ao lado de quem foi sepultado em Cambridge, ambos ao lado do mestre Ludwig Wittgenstein) — colocou nos seguintes termos: os seres humanos precisam das virtudes assim como as abelhas precisam de seu ferrão.
É exatamente porque o padrão de excelência é relativo à espécie que não somos exatamente como plantas e como cervos, obviamente. O ponto é que há certas características humanas que podem (e devem) ser avaliadas em relação àquilo que elas exercem na forma de vida humana à luz dessa ideia de normatividade natural. As ideias de função e de propósito são centrais na análise de todos os seres vivos.
Há algo que nos é próprio, porém. O exemplo de Foot é a reprodução. A capacidade reprodutiva é uma característica distintiva dos seres vivos, de modo que a falta dessa capacidade é um defeito natural. Agora, se isso basta no que diz respeito aos animais, no caso dos seres humanos as coisas não assim tão simples: ao mesmo tempo em que a falta de capacidade reprodutiva será certamente um defeito natural em uma pessoa, não se pode dizer o mesmo de uma escolha por não ter filhos. O bem humano é diferente do bem próprio das plantas ou dos animais: há outras coisas, outros aspectos do bem, outras exigências e demandas de uma boa vida que podem fazer com que um homem ou uma mulher optem por não ter filhos. Como diz Foot, enquanto os animais buscam o bem que veem, seres humanos buscam o que veem como bom.
Há uma diversidade de cursos de ação que podemos escolher para direcionar nossas próprias vidas; mas somos todos, ao mesmo tempo, vulneráveis a lacunas, carências, privações — análogas aos defeitos naturais que podemos facilmente identificar em plantas e animais e que adquirem uma tônica moral quando olhamos de forma mais abrangente para nossa forma de vida em comum. Precisamos das faculdades necessárias para aprender uma língua, para apreender sentidos, entender histórias, rir de brincadeiras; precisamos compartilhar recursos escassos, precisamos resolver problemas de coordenação, precisamos de alguma paz, precisamos conviver bem uns com os outros. Não são todas as normas morais que são as mesmas para todas as pessoas — mas muitas delas são derivadas de necessidades humanas básicas, comuns a todos os seres humanos enquanto tais.

A tese da bondade natural, portanto, não é antitética às circunstâncias do pluralismo. Ao contrário. Mesmo assim, e contemplando as diversidades e diferentes concepções de bem que são próprias da vida humana, é possível ainda oferecer alguma explicação geral das nossas necessidades: daquilo que é geralmente necessário para que possamos buscar o bem, nossas diferentes concepções de bem.
É apesar da diversidade de bens humanos — e exatamente em razão da diversidade de bens humanos — que o conceito de uma boa vida humana funciona de forma análoga ao modo como o conceito de florescimento funciona na determinação daquilo que é bom na vida de plantas e animais. Assim como as abelhas precisam de seu ferrão, seres humanos precisam ser diligentes, zelosos, ter firmeza de propósito: não apenas para que possam se vestir, se abrigar e se alimentar, mas para que possam justamente perseguir os próprios bens básicos à vida humana — bens que têm a ver com desejos e interesses próprios, mas que têm a ver também com o amor, o companheirismo, a amizade.
Há uma nuance aqui, portanto, e que é muito mais que uma nuance. A virtude surge como justificação, e a justificação da virtude, por sua vez, não é utilitária ou consequencialista. Precisamos ser virtuosos não porque isso produz boas consequências (embora isso produza boas consequências no mais das vezes).
O exemplo de Foot está nas Memórias de um Revolucionário, de Kropotkin. Mikluko-Maklay, geógrafo e antropólogo, foi enviado da Rússia ao arquipélago Malaio para estudar os povos originários de lá. Um dos nativos que o acompanharia só aceitou fazê-lo sob uma condição: que jamais fosse fotografado. A crença local era a de que uma fotografia tirava, subtraía algo essencial daquele que era fotografado. Em suas confissões, Maklay conta que se sentiu tentado a fotografar seu ajudante num momento em que ele estivesse dormindo, porque teria assim um importante material de pesquisa e o nativo jamais saberia ter sido fotografado. Ninguém estava vendo, ninguém ia saber, ‘não faz mal’. Em razão de sua promessa, porém, Maklay não tirou a foto.
Ninguém saberia que a promessa havia sido quebrada. Por que podemos dizer, como dizemos, que ele deveria tê-la mantido — que ele agiu bem mantendo a promessa?
Fotografá-lo seria um desrespeito para com seu ajudante e com a promessa feita, e a natureza mesma de uma promessa tem a ver com a confiança e o respeito. E, de acordo com a normatividade natural à nossa forma de vida, temos que o desrespeito e a falta de confiança são más disposições. É porque somos seres humanos que, em uma comunidade, precisamos poder confiar uns nos outros e, mais ainda, que haja respeito mútuo. Não é que colocar a questão em termos utilitários ou consequencialistas seria problemático porque isso significaria dizer que Maklay poderia ter tirado a foto. Colocar a questão em termos utilitários ou consequencialistas já é de saída problemático, porque não se encaixa na própria ideia de normatividade natural que nos é aplicável: porque o bem humano depende de instituições como a promessa, por exemplo, e instituições como a promessa não fazem sentido, não são inteligíveis, se explicadas em termos utilitários ou consequencialistas.
Quando prometemos algo, criamos uma obrigação que, embora não seja absoluta (há exemplos possíveis e imagináveis em que uma promessa pode ser quebrada), não é anulável por um juízo de conveniência, porque ‘não faz mal’. E isso é assim porque a promessa é uma das instituições que criamos exatamente para a melhor condução de nossas vidas, possibilitando que assim busquemos os bens que nos são próprios.
Quando somos amigos de alguém, não somos amigos porque isso nos traz algum benefício; a amizade bem traz benefícios no mais das vezes, certamente, mas impõe também alguns deveres intrínsecos. Traduzir, então, a amizade em termos dos benefícios que ela traz significa um fracasso em capturar o verdadeiro papel, o sentido da amizade na vida humana. Fazer o que o homem justo faz não é o mesmo que fazê-lo como o homem justo faz — e, quando não é assim, já não estamos mais falando da mesma coisa.
Somos seres que precisam de ar, água, comida, exercício, repouso, abrigo e saúde; seres que convivem com outros seres que precisam de ar, água, comida, exercício, repouso, abrigo e saúde. Seres que aprendem e falam uma língua, que brincam, que contam histórias, que criam projetos, que têm algum senso do que significa viver a própria vida com sentido. Perguntar então por que deveríamos nos importar ou para que serve a justiça, a amizade, a compaixão, a honestidade, só faria sentido se não fôssemos assim.
Aquilo que nós fazemos é importante. Como a própria Foot diz, porém, não é só aquilo que nós fazemos que importa: também importa aquilo que nós somos. Para que nós possamos ser melhor aquilo que somos, à luz daquilo que nós devemos ser.
Alguém pode ainda assim perguntar ‘e por que eu devo ser bom?’. Isso é certamente possível. Mas, porque somos como somos, nós sabemos que há algo errado na pergunta.
Precisamos das virtudes, portanto, assim como as abelhas precisam de seu ferrão. Não somos sempre pessoas boas, é verdade — mas Philippa Foot ajuda a lembrar que, ao final do dia, sabemos bem que devemos ser. Precisamente porque somos como somos.

*
Gilberto Morbach é pesquisador de pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP, com bolsa da FAPESP, e membro-fundador do Núcleo Direito & Justiça.




