..
Devemos julgar o passado?
Ideias e Histórias
..

..
por Arthur Alfaix Assis
..
Devemos julgar o passado? Podemos fazê-lo com as lentes morais do nosso presente? Se assumirmos que o anacronismo é “o pecado dos pecados — o pecado entre todos imperdoável” de quem escreve história ou fala do passado, a resposta será necessariamente negativa. Lucien Febvre assim formulou o anátema em 1942, conferindo uma expressão dramática a uma crença bastante difundida entre operadores de diferentes tipos nas nossas culturas históricas. Mas será mesmo sustentável uma tal condenação absoluta do anacronismo e, com ela, da avaliação do passado a partir de critérios valorativos do presente?
O dilema apresenta-se não só ao historiador, na relativa calma do seu ambiente de trabalho. Sempre que arde a estátua de um ditador ou de um líder religioso, de um bandeirante ou de um confederado ilustre; sempre que é preciso decidir coletivamente se nos devemos relacionar com certo passado de maneira afirmativa, neutra ou crítica, a questão se recoloca. O anacronismo, a sua tabuização ou relativização, é constantemente um elemento chave nos usos políticos do passado.
Na primeira metade do século 18, Bolingbroke já havia formulado um contraponto não menos dramático à frase de Febvre. “Eu preferiria” — afirmou ele nas suas Cartas sobre o estudo e a utilidade da história — “continuar a pensar que o Dario derrotado por Alexandre era o filho de Histaspes; preferiria usar tantos anacronismos quanto um cronólogo judeu a sacrificar metade da minha vida colecionando a tralha erudita que enche a cabeça de um antiquário”.
Em History and Morality (Oxford University Press, 2020) Donald Bloxham tende antes para Bolingbroke do que para Febvre. Mas a sua posição contra-hegemônica é defendida menos com frases de efeito de cunho polêmico e mais com uma argumentação sóbria, frequentemente amparada em análises de textos e pronunciamentos de grandes historiadores do século XX.
..
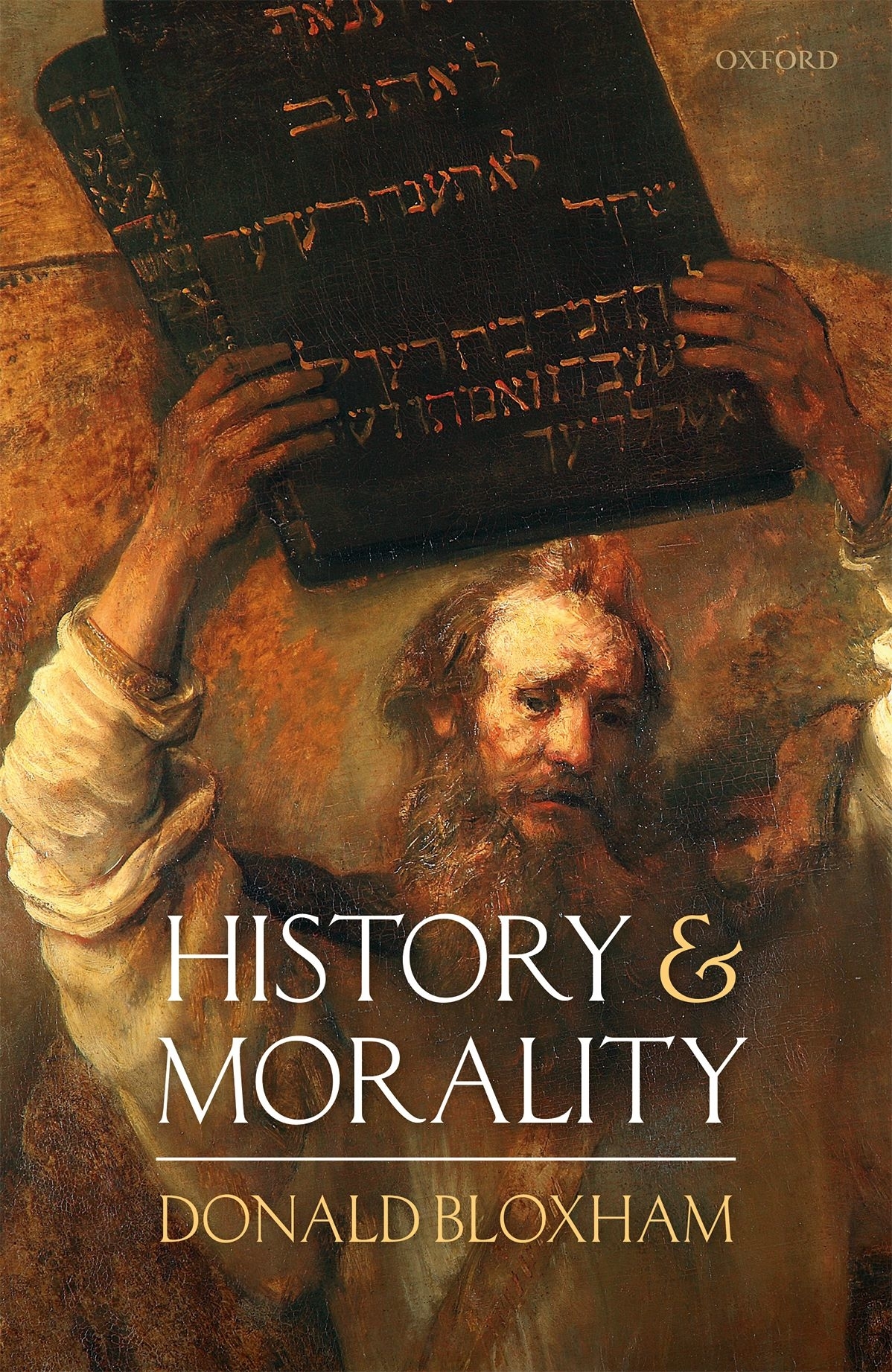
..
Professor de história contemporânea na Universidade de Edimburgo, Bloxham tem uma trajetória consolidada como especialista em temas ligados a violência política, crimes de guerra e genocídios. O seu primeiro livro monográfico comparou o Holocausto executado pela Alemanha nazista ao Genocídio Armênio, perpetrado pelo Império Turco-Otomano ao longo da Primeira Guerra Mundial. Foi seguido de The Final Solution: a Genocide, trabalho que interpretou o extermínio sistemático dos judeus sob o nacional-socialismo à luz de um amplo contexto, não só alemão, mas também europeu, de limpezas étnicas, racismos e práticas discriminatórias.
A experiência com temas como esses, que não recomendam exatamente indiferença analítica ou abstenção de empatia para com os eventos e destinos neles englobados, é um aspecto decisivo do argumento desenvolvido por Bloxham no seu livro teórico. A sua premissa mais elementar é a de que não é razoável exigir que se escreva a história sem mobilizar juízos amparados em valores morais atuais. Tal seria uma exigência não só normativamente indesejável, mas também empiricamente insustentável. “Não se pode deixar de lado as próprias faculdades morais no estudo da história, e não se deve sequer almejar fazê-lo” (289) — é com essa afirmação que ele conclui a sua exaustiva exposição.
O grande classicista Arnaldo Momigliano afirmou uma vez que lhe seria difícil imaginar as feições de uma história escrita sem juízos morais porque nunca tinha esbarrado com algo assim. Bloxham estende e amplifica essa constatação em quatro capítulos, que lidam com a relação entre história e moralidade sob os prismas da contextualização, da escrita da história, da justificação teórica e da formação de identidades. Em muitos momentos a análise avança sobre os clássicos problemas epistemológicos da causalidade e da explicação na historiografia, para os reconceitualizar a partir de um inusitado ângulo ético. Noutros, a proposta de iluminar histórica e filosoficamente toda a plêiade dos componentes presentes na interface entre moralidade e historiografia leva a genealogias demasiado complexas e emaranhadas, às vezes quase ao ponto da obscuridade. Em todo caso, um lema que muito aclara e que é visível a partir de quase todos os pontos livro é o de que a questão “quem foi que fez isso” costuma versar não só sobre causas, mas também sobre culpas. Explicação e responsabilização são, assim, muito mais dificilmente separáveis do que se costuma supor. Isso vale não só para o romance policial, mas também para boa parte da historiografia centrada em personagens, ações, e nos efeitos posteriores ocasionados por estas.
“Contexto” é uma palavra-chave muito relevante para questão, porque é frequentemente mobilizada em tentativas de se deslegitimar abordagens mais explicitamente avaliativas do passado. O trabalho da história é o de contextualizar passados, em vez de os condenar ou absolver — diz-se, ou supõe-se frequentemente. Quando muito, a avaliação de ações e eventos pretéritos poderia se guiar não pelos nossos próprios padrões morais, mas antes pela moralidade da própria época em que aqueles tiveram lugar. Bloxham aponta com sagacidade que boa parte dos historiadores acadêmicos tende a recair, conscientemente ou não, num tal “contextualismo moral”. Essa posição, lembra, já se encontra, entretanto, bem além de uma pura e simples abstinência avaliativa. Mesmo um Marc Bloch, que na sua famosa Apologia da História, condenara a “mania de julgar” de muitos historiadores não terá sido exatamente um modelo de neutralidade. Embora rejeitem a retroprojeção sobre o passado de critérios morais do presente, Bloch e outros tantos tendem a não objetar quando a ação de indivíduos pretéritos é avaliada nos termos da moralidade característica do próprio passado em questão.
Mas Bloxham não se satisfaz com essa espécie de meio termo entre o neutralismo e o presentismo. Tal posição, assim como a própria categoria de “contexto” em torno da qual se estrutura, encontra-se mal teorizada, e as suas limitações tornam-se evidentes a partir do momento em que se começa a refletir mais sistematicamente sobre o assunto. Afinal de contas, esses “próprios termos” constitutivos da moralidade de cada passado abrangem elementos de variados tipos, por exemplo, heranças culturais sobre as quais não se tem muita escolha, como um idioma materno, e opções largamente voluntárias como a de aderir de corpo e alma a ideologias políticas extremistas e com pouco apreço pela vida (sobretudo a dos seus opositores).
Uma vez constatada certa margem de liberdade na escolha do “contexto” por parte do agente pretérito, por que deveriam essas decisões deixar de estar sujeitas a avaliações retrospectivas? E mesmo supondo-se que uma dessas escolhas tenha sido mesmo imposta a alguém pelo seu “contexto”, por que é que teríamos de reprimir as nossas avaliações sobre a razoabilidade de padrões morais do passado que muitas vezes agridem profundamente a nossa consciência? Não é possível passar um cordão sanitário que proteja a interpretação da influência dos critérios morais característicos do presente do autor de um texto de história ou dos seus leitores. O livro de Bloxham vale como uma demonstração extensiva e convincente das razões por detrás dessa impossibilidade.
Textos de história não têm como não adjetivar as ações, experiências, processos e personagens de que tratam. Herculano estava longe de querer lutar contra essa observação quando afirmou por exemplo que a Inquisição tinha sido a mais atroz e mais anticristã “instituição que a maldade humana pode inventar”. Uma frase como a de que “milhões de judeus europeus foram brutalmente assassinados pela Alemanha de Hitler” não oferece só uma síntese de eventos, mas também um óbvio juízo sobre eles — ainda que aqui qualificações semelhantes quase que se imponham sobre qualquer observador minimamente civilizado. Mas o mesmo se dá também em situações interpretativas menos óbvias. Para usar um exemplo discutido por Bloxham: quando o historiador Timothy Snyder, numa pesquisa muito respeitável sobre os massacres perpetrados contra a população polonesa por grupos nacionalistas ucranianos em 1943, qualifica um de tais grupos como “raivosos e imaturos”, ele está automática e indevidamente atenuando a responsabilidade dos mesmos pelas ações cometidas.
Em outras palavras, os historiadores julgam não apenas quando dizem que estão julgando, e muitas vezes, no afã de não julgar ou de não o fazer abertamente, simplesmente julgam mal. Ao escreverem sobre pessoas, ações, estruturas pretéritas mobilizam uma linguagem em que estão embutidas avaliações, ora mais, ora menos disfarçadas. Adjetivações são inevitáveis no discurso sobre o passado e produzem efeitos evocativos, disparam associações com outras experiências, atribuindo ou mitigando culpas e responsabilidades. O modo linguístico como uma situação é apresentada numa história suscita, no leitor, reações de cunho avaliativo, mesmo nas ocasiões em que o autor não se esforça muito para as gerar. As impressões morais impulsionadas ou sugeridas por uma história não se resumem, ademais, a frases individuais. O direcionamento geral do texto, os conceitos e metáforas usados para o estruturar, a seleção e o encadeamento das ações e dos personagens, as conexões causais, tudo isso, também tem impacto sobre a maneira como o passado termina por ser avaliado.
Em History and Morality, Bloxham posiciona-se contra o mainstream da historiografia acadêmica, que ele critica duramente por se satisfazer com uma posição semi-teórica acerca da questão, e por se deixar contradizer, com boa frequência, pela própria prática. Mas o livro não investe contra o imperativo historiográfico da contextualização, ou contra a possibilidade de que os passados humanos sejam explicados causalmente. Não pretende abrir caminho para a normalização do anacronismo, no sentido de uma dessensibilização para as diferenças entre passados e presentes. Tampouco quer que o passado seja usado como pura e simples caixa de ressonância em que se possam projetar sem quaisquer critérios as ansiedades e expectativas atuais.
Em outras palavras, para Bloxham, o reconhecimento da omnipresença dos juízos valorativos nas nossas relações com o passado e da indispensabilidade destes não equivale à defesa de um padrão moralista para a prática historiográfica; de uma valorização unilateral da dimensão moral do conhecimento histórico, em prejuízo das suas operações mais propriamente epistêmicas. Como ele próprio esclarece, é preciso diferenciar “a aspiração desejável à veracidade [truthfulness] da problemática aspiração à neutralidade” (11). De maneira correspondente, o seu livro aponta não só os limites do “contextualismo moral” (e do relativismo moral deste derivável), mas também as insuficiências de um puro e simples presentismo, de um uso instrumental da abordagem histórica para a ancoragem de identidades atuais.
Visto sob um prisma performativo, History and Morality é uma tentativa reformista de contribuir para tornar o meio-ambiente intelectual mais sensível às implicações morais da interpretação histórica sobre o presente de quem a produz ou lê. Não sendo possível, nem desejável eliminar os juízos morais da historiografia, é melhor que eles deixem de ser varridos para debaixo do tapete. A propensão para os escamotear só faz com que prosperem avaliações inconscientes ou mal controladas. Contra isso, o único remédio será ganhar uma melhor consciência dos muitos níveis em que o pensamento histórico provoca avaliações morais gerais ou opera dosimetrias na atribuição retrospectiva de responsabilidades a sujeitos individuais. Com mais reflexividade e algum otimismo, poderíamos então nutrir a expectativa de um ganho qualitativo no modo como nos relacionamos com os nossos passados, com os passados dos outros e com os efeitos atuais dos primeiros sobre os segundos, e vice-versa.
..

..
..





