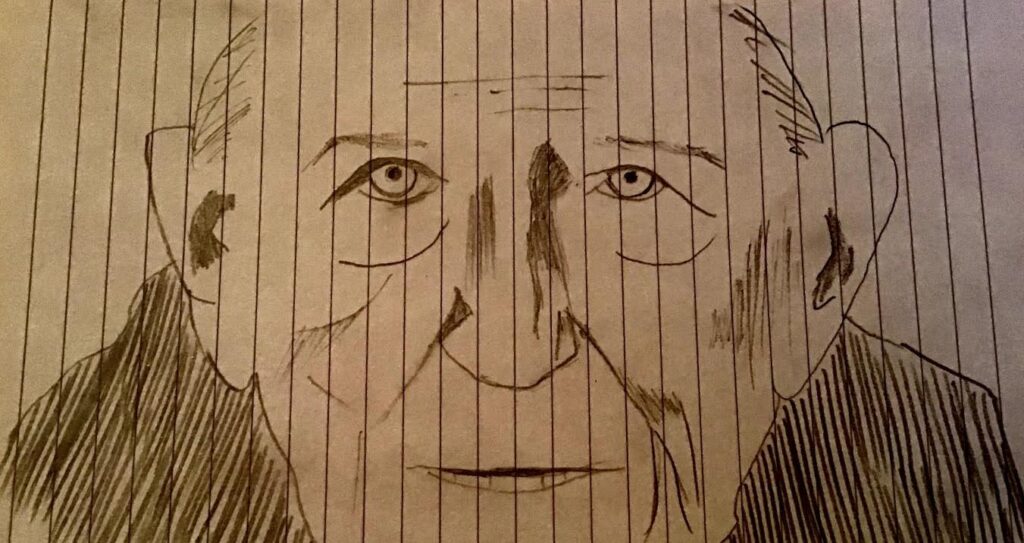Assim como José, sou professor. Tenho esse infeliz privilégio, José um dia afirmou ao marido de uma colega em comum. O que nos distingue, a José de mim, é que José é, além de colega, meu professor. Frise-se o possessivo. Mas como sei que ele jamais aceitaria ser referido assim por um colega, chamo-o simplesmente pelo nome. As nossas reuniões semanais em seu apartamento, ao longo dos três últimos anos, apesar das exceções todas dessa vida atribulada, têm sido um verdadeiro aprendizado. Bastou o primeiro encontro para que eu me sentisse reconciliado comigo mesmo, perfeitamente bem dentro de uma amizade imóvel e feliz. Não posso fazer mais do que dar a minha palavra de que esse hábito vem conferindo um sentido especial a minha vida, afora a presença de algumas pessoas e a vivência de algumas situações que, assim como José, são capazes de insuflar, e por vezes roubar, fôlego destes pulmões.
Não que isso tenha mudado por completo, mas, especialmente quando criança, eu não gostava de mim. Tinha a mania de inventar pessoas com base nas criaturas reais, o que não chegava a ser propriamente um defeito quando comparado aos indivíduos exultantes que me rodeavam, não apenas os adultos, mas também as crianças dotadas de um oportuno senso de realidade e seguras de si. Depois descobri que o amor e a escrita dependem da habilidade de reforçar o contorno de cada pessoa com a imaginação. Essa revelação coincidiu com a minha contratação como professor, o momento a partir do qual passei a falar dos livros para um público interessado. Um professor sem particulares ambições, diga-se de passagem. Bastava-me o meu trabalho, uma vida cheia de livros e ideias. Acontece que, de uns meses para cá, quando não estou refugiado em minha própria escuridão, comecei a escrever sobre José. José me transformou num subversivo de meus princípios. Agora tenho, se não um anelo, uma tarefa auto imposta. “Quem me dera” — é o que desejo, como desejou aquele famoso ajudante de guarda-livros imaginado por Fernando Pessoa — “que de mim ficasse uma frase, uma coisa dita de que se dissesse, Bem feito!, como os números que vou inscrevendo, copiando-os, no livro da minha vida inteira.” Bem ou malsucedido, escrevo como um revolucionário, mas um revolucionário singelo, do tipo que calibra as frases.
E daí tudo se depreende. Se digo que posso ler os livros e assistir aos filmes pelos olhos de José, não estou recorrendo a um expediente meramente literário — ainda que esse não deixe de ser um recurso de que me valho aqui —, mas relatando, à minha maneira, infindáveis horas de conversas, revendo anotações acumuladas em dois gordos cadernos, recorrendo à memória e, sobretudo, aos livros e filmes que José frequentou com uma sabedoria só comparável ao meu entusiasmo. José é o meu guia nessa expedição pelo universo do professor. Não, não lemos apenas contos e romances, tampouco somente narrativas que tenham o professor como protagonista; não temos essa obsessão. Mas me limitarei aqui a propor um direcionamento às coisas.
Há muito não vejo graça em ler ou assistir a uma obra relacionada com o nosso ofício sem compartilhá-la com ele, sem ouvir o que José pensa a respeito, sem que ele exponha as suas reações, e sem que, também eu, valha o que valerem, exponha-lhe as minhas. Que a universidade tenha sido o local onde nos encontramos pela primeira vez e de onde irradiou o nosso tema, não é mero acaso, mas algo que deveria, por si só, justificar a sua existência. Vivemos num tempo em que precisamos defender as nossas necessidades mais elementares. Que façamos esses encontros à revelia dos currículos e dos cobiçados pontos que artigos científicos e palestras acumulariam é já uma subversão dentro do estreito círculo acadêmico. Enquanto eu tenho consciência disso, José sequer pensa nisso. Talvez, em alguns momentos, eu tenha sido responsável por incitá-lo a realizar algumas leituras, a percorrer livros que ele, por livre iniciativa, não percorreria, a pensar sobre assuntos que não haviam despertado imediatamente a sua atenção. Que ele não nos ouça, mas um aluno tem, entre as suas muitas obrigações, o dever de alimentar discretamente o seu professor. E tem sido assim. A partir de um determinado momento eu comecei a me dar conta da minha missão. Sabia que, ao menos, eu tinha a obrigação de registrar o que eu ouvia e lia através de José. Foi quando assumi, para mim mesmo, o papel de cronista de nossas leituras, desses encontros. E a ideia me agarrou. É claro que as lições de José nunca foram concebidas como tais; nós simplesmente conversamos, e foi dessa confabulação despretensiosa que brotaram suas aliciantes histórias vindas do passado e do presente, as frases inesquecíveis que ele disse sobre as maravilhas e as barbaridades da profissão. A sua reação ao se deparar com este relato já não é mais uma dúvida que me torture. Por muito tempo tentei evitar esse pensamento aflitivo. Agora isso ficou definitivamente para trás.


Foi preciso situar de modo mais realista o lugar de José. Confesso que não pretendia fazê-lo. Em respeito à discrição que meu colega sempre demonstrou, eu gostaria que esse compêndio tivesse um mesmo tom distanciado, sem que fosse preciso revelar o seu contexto efetivo, mas essa pretensão inicial limitaria a minha capacidade de contar. As coisas iam ficando tristemente pelo caminho. Melhor agora.
A sala de aula ou uma loja de cerâmicas
O tempo todo me pergunto quem é José. Por vezes uma mania, um tique ou um pequeno defeito são mais reveladores do que um retrato biográfico feito à distância. Assim, vou tentar defini-lo por um hábito. Um hábito que se incorporou à rotina do professor José, e que lhe serve para espantar as ideias ruins, é perambular pelo bairro da Liberdade, em São Paulo, onde ele gosta de almoçar e visitar lojas de cerâmicas. José está num café movimentado, lendo A valise do professor (2012). Tsukiko é a solitária narradora que, beirando os 40 anos, encontra por acaso seu antigo professor de japonês no ensino médio, Harutsuna, um homem tradicional e solitário, com quem desenvolve uma relação ambígua, até certo ponto austera, mas delicadamente regada a saquê. Num dia frio e de vento forte, Tsukiko vai a Kappabashi, a trabalho. Embora a narradora não explique, Kappabashi é um conhecido mercado de rua nas cercanias de Tóquio, voltado a utensílios de cozinha. De certo modo, ao encontrar Tsukiko em Kappabashi, José deve ter se encontrado na Liberdade. Após terminar o que tinha a fazer, Tsukiko entra na loja onde há, entre muitos utensílios, caçarolas, pratos e tigelas, objetos de louça e de laca. A ex-aluna de Harutsuna confessa que estar ali e contemplar, entre milhares de pessoas, a lâmina brilhante do ralador de mil ienes acende a vontade de rever o antigo professor. Harutsuna e Tsukiko são almas solitárias de uma metrópole, a versão de Hiromi Kawakami para O homem da multidão (1840), de Poe. Essa atmosfera e a sutileza de seu sombreamento contrastam com os sons e o ritmo da cidade. Encantada, a ex-aluna compra o ralador de presente para seu velho mestre. Um dia, pensa José, enquanto escuta o tilintar das xícaras e risos alheios, quando eu estiver velho e aflito, apareça, Tsukiko, com um ralador de presente; traga-me um pouco da sua silenciosa atenção.

Em boa parte das lojas de cerâmicas que José visita na Liberdade há um aviso que se repete pelas prateleiras. Num desses passeios, nosso flâneur surpreendeu um turista tirando uma foto dessas plaquinhas. Talvez alguns imigrantes não se deem conta de que, no difícil país de José, evita-se ser muito direto para não se passar por grosseiro. Não que eles queiram ser grosseiros; querem simplesmente ser claros. São plaquinhas dizendo o seguinte: “Quebrou, pagou”. Não deixam dúvida. José, ao ler uma dessas pela primeira vez, teve vontade de deixar a loja. Achou antipático, sentiu-se fazendo algo errado e começou a ficar obsessivo com a ideia de que, cedo ou tarde, iria esbarrar em alguma peça. Essa aflição o acomete quando ele vê uma criança numa dessas lojas. Ali não é lugar para crianças, cachorros, jovens com mochila. Mas ele gosta desse exemplo porque repara em como nós desautomatizamos os nossos gestos numa loja de cerâmica. Esse é um ambiente no qual nos tornamos cerimoniosos. Passamos a calcular cada movimento, cada passo. Nossos braços giram e esticam lentamente, como num movimento de Tai Chi Chuan. É o que acontece, também, quando José é convidado pela primeira vez à casa de alguém. Ao menos nos primeiros minutos, até se ambientar com os espaços de circulação entre os móveis, ele pisa em ovos. Esse cálculo é um movimento de atenção não só da mente, mas também do corpo. Ele sente essa mesma sensação quando abre uma garrafa de vinho. José não gosta daqueles garçons que fazem isso à mesa correndo contra o relógio, como se destampassem uma lata de sardinhas; tem vontade de dizer “deixa que eu abro”. Prefere aqueles que tratam a garrafa como um presente-surpresa, os que sacam a rolha como se desatassem o laço de uma caixa de bombons. Essa delicadeza está na diferença entre o modo como um trabalhador apressado toma seu cafezinho em pé, no balcão de um bar, e a cerimônia do chá. A literatura — especialmente a literatura — tem esse poder encantatório sobre José, de transportá-lo para uma loja de cerâmicas.
A aula
José entra em classe como se entrasse numa loja de cerâmicas. Enquanto eu escrevia as primeiras páginas a seu respeito, faltavam poucas para compreender quem ele é. Agora, algumas dezenas depois, estou longe de me dar por satisfeito. Escolhi deixar que o professor fale por si em seu habitat natural, a sala de aula. Que aula escolher? Opto por aquela em que ele substituiu uma colega. A única vez em que assumiu uma turma desconhecida, o que o impediu de se preparar ao longo da semana para isso. Uma aula não encadeada com as lições anteriores e sem engates com as posteriores, como um voo solo. José pediu licença aos alunos para entrar em sala e se surpreendeu com uma turma lotada e receptiva. Bom dia. Eu me chamo José. Contarei a vocês três breves histórias. Depois, se quiserem ficar, conversamos. Esta aula não estava prevista, então vou me conceder certas liberdades de que não costumo desfrutar em meus cursos. Vou aproveitar o convite da professora de vocês, que me deu carta branca para fazer o que eu bem entendesse. Nada do que eu disser será cobrado em sua avaliação no final do curso, então, por favor, relaxem. Se preferirem ir embora, não se prendam por minha causa. Essa é uma boa hora. José aguardou alguns instantes e, como ninguém se levantou, continuou. Se alguém mudar de ideia no meio do percurso, saia com discrição. Alguns alunos sorriram discretamente. A aula começou.
Por mais íntegro que um professor seja, não é, não pode ser levado a sério. Imaginem vocês que as águas da nossa turística cidade, tão apreciadas para os banhos públicos, estejam poluídas. Um certo Dr. Stockman se inquieta com o grande aumento de casos de doenças entre a população e os turistas. Eis que ele descobre que o motivo são as péssimas condições sanitárias. Ao invés de abafar o caso em nome da economia e da reputação local, Stockman, cujo irmão é, aliás, prefeito dessa pequena cidade norueguesa, denuncia o problema. Como resultado, ele e sua filha professora são demitidos, sua casa é vandalizada, e de médico respeitado ele passa a ser encarado como Um inimigo do povo (1882).
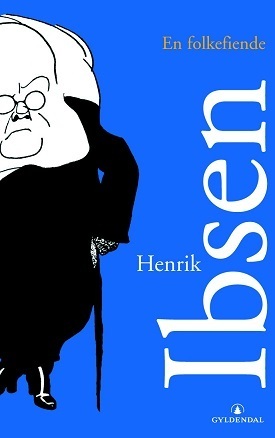
Menos de meio século depois, Stálin acusou a imprensa desse mesmo modo com que Ibsen intitulou a sua peça. A imprensa é o inimigo do povo, ele teria dito. Atacar a imprensa, a ciência e os professores começara a se tornar um modo de governar. Essa história tem início no século XIX.
Enquanto José faz uma primeira pausa, alguns alunos anotam o título da peça e o nome de seu autor. Uns balançam a cabeça em sinal de assentimento, outros se entreolham em silêncio, como se tivessem captado qualquer mensagem subliminar de Stockman para os dias de hoje. José toma um gole de água e recomeça.
Em 26 de abril de 1986, o professor Valery Alekseyvich Legasov, então vice-diretor do Instituto de Energia Nuclear de Kurchatov, foi nomeado para compor a comissão que investigaria a explosão numa usina atômica nas mediações da pequena Pripyat, ao norte da Ucrânia, próximo à Bielorrússia. Passaram-se semanas até que o governo soviético, muito escrupuloso diante do pecado da precipitação, aceitasse publicamente que se tratava da explosão de um reator nuclear. Gorbachév, o então presidente daquele país, adotou as medidas protocolares cabíveis — abafar o caso. Mas Legasov, que era um homem íntegro e que morreu em 1988 enfrentando a famigerada censura soviética, apresentou as terríveis consequências do acidente no encontro da Agência Internacional de Energia Atômica, ocorrido em Viena, pouco antes de denunciar o governo e seus responsáveis no julgamento ocorrido em solo nacional. Chernobyl (2019), de Johan Renck, alimenta a impressão de que as arriscadas aulas que Legasov ministrou em Viena e para a corte russa estão entre as mais corajosas da história. Elas ocorreram menos de dois anos antes de Legasov se suicidar em seu apartamento, em Moscou, e após ter gravado em fitas seu depoimento conclusivo sobre o desastre. Glasnost deveria significar transparência. Democracia, por outro lado, não se deve confundir com demagogia. São livre-associações, apenas.

Enquanto José faz uma segunda pausa, alguns alunos anotam o título da minissérie de Renck. Uns balançam a cabeça em sinal de assentimento, outros se entreolham em silêncio, como se tivessem captado qualquer mensagem subliminar de Legasov para os dias de hoje. José toma um segundo gole de água e recomeça.
Entre 1990 e 2011, cerca de 25 mil crianças afetadas pelo acidente de Chernobyl, a maioria delas nascida muito depois do desastre, passaram a receber atendimento médico em Cuba. Às vésperas do fim do bloco comunista, com a derrocada da Perestroika, Gorbachév desembarcava em Havana, em cuja proximidade seria construído um centro médico com escola e moradia para os parentes dos pacientes. Ainda que Cuba afundasse em uma de suas crises mais profundas, devido ao fim da parceria com os soviéticos, e Fidel, ao contrário de todas as previsões, se mantivesse no poder, o centro médico montado às pressas no balneário de Tarará permaneceu ativo ao longo de 21 anos. Esse é o contexto de O tradutor (2018), filme cubano de Rodrigo e Sebastián Barriuso. Na Universidade de Havana, os professores do Departamento de Russo são surpreendidos por um bilhete informando a suspensão indeterminada das aulas. Há apenas um endereço aonde devem se dirigir. Trata-se de um hospital. Logo descobrem que foram recrutados como tradutores para mediar a comunicação entre médicos e enfermeiros com os pacientes e seus familiares vindos da URSS. A relevância humanitária da tarefa é tão grande quanto o desafio que esses professores devem enfrentar. Sem o preparo adequado para isso, de uma hora para outra passam a conviver com o sofrimento e a morte. O desgaste físico e mental de Malin, escalado para trabalhar na ala das crianças, contrasta com o seu bem-estar econômico, ao lado de uma artista plástica e seu filho, numa ilha cuja prosperidade está com as semanas contadas. Malin deixa de receber o vale-alimentação mensal, a esposa tem 80% de suas economias confiscadas pelo governo, faltam combustível nos postos e alimentos nas prateleiras. Ele tem de enfrentar dezenas de quilômetros de bicicleta para chegar no hospital, onde passa as madrugadas em claro. Malin é absorvido pela nova atividade, que o faz abandonar sua tese de doutorado e negligenciar a vida em família. Sua esposa demora a compreender a gravidade da tarefa impingida ao marido, e o filho, cada vez mais solitário, emagrece devido à escassez de alimentos. O que ocupa o cerne desse drama é o papel desempenhado por Malin no hospital, que vai além de suas novas incumbências. Tocado pela dor e pelo isolamento das crianças, ele decide contar histórias a elas, as quais traduz diretamente de um livro cubano. Antes, em casa, seu filho se decepcionava com o tom monocórdio do pai, que não fazia as vozes das personagens das narrativas infantis. Agora, ele atrai a atenção de crianças vindas do outro lado do mundo justamente com o seu jeito de contar. Ao se despedir de Malin, após o governo ter contratado tradutores para executar a tarefa improvisada pelos professores, Gladys, a enfermeira argentina responsável por sua ala, pronuncia em alto e bom som, com Malin já se encaminhando para retomar uma vida que nunca mais seria a mesma, “Professor!”. José praticamente grita essa palavra. Seus olhos brilham umedecidos. Ele tem os braços abertos, o rosto inclinado para cima, os lábios descolados, como se oferecesse o corpo em sacrifício. Seus alunos estão hipnotizados com essa miragem inesperada. O que se deu com José? Onde ele está? Então seus braços caem lentamente, ele reposiciona o rosto, inspira uma vez e retoma o tom sereno. É como se essa palavra não requeresse complemento. Ela basta por si mesma. Uma criança loira e acamada, ao ver Malin se aproximar por cima do avental usado como cortina para separar os leitos, perguntara a ele: você é Deus? E era mesmo como se Gladys, durante aquela despedida, tivesse pronunciado algo sagrado.

Enquanto José faz uma terceira pausa, alguns alunos anotam o título do filme dos irmãos Barriuso. Uns balançam a cabeça em sinal de assentimento, outros se entreolham em silêncio, como se tivessem captado qualquer mensagem subliminar de Gladys para os dias de hoje. José toma um terceiro gole de água, olha para a turma e diz: agora, se quiserem, podemos conversar. E ninguém se levantou até que desse o horário.