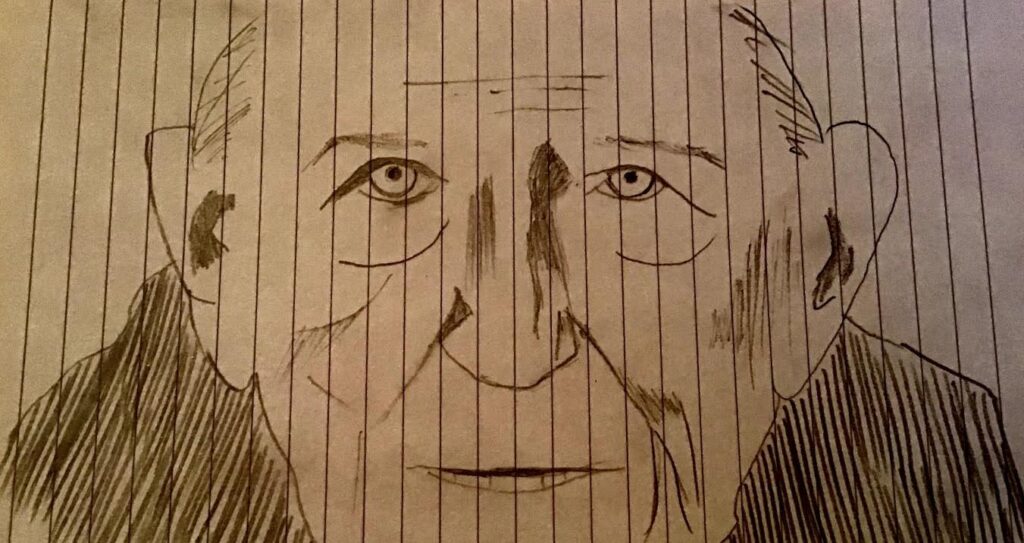As férias eram uma época de sol e piscina. José tinha sete anos e estava na piscina da casa de um tio do interior, quando uma verdade veio à tona. Piscinas podem ser lugares perigosos. Uns amigos mais velhos de seu primo brincavam na água. Queriam ver quem aguentava prender a respiração por mais tempo. José estava de canto, porque os outros eram grandes e ele não os conhecia. Ou simplesmente porque ele não tinha muito fôlego. Enquanto sumiram embaixo da água, um deles emergiu, pegou ar e rapidamente mergulhou de volta. José ficou inquieto. Quando terminaram, uma garota lhe perguntou, chamando a atenção de todos, se fulano de tal havia respirado. Ela tinha certeza que sim. O colega dizia que não, sorrindo. Era um tipo que queria brincar; sua postura não era uma ameaça para uma criança. José fez que sim com a cabeça, e ficou por isso. Mas o que o intrigou foi o modo como a garota complementou a pergunta. Ela passou os olhos por todos, satisfeita por ter confirmado a sua suspeita, e então disparou: “criança não mente”. José havia apenas gesticulado timidamente com a cabeça e aquilo pôs fim à polêmica, como se ele possuísse uma autoridade que desconhecesse. Ninguém o questionou. Mas aquela frase não saiu mais de sua cabeça, “criança não mente”. José não havia mentido, de fato. Não naquele momento. Mas mentia, sim. Aquela desconhecida tinha uma impressão errada a seu respeito e agora ele teria que se esforçar para ser a criança que esperavam que ele fosse. Não que ele fosse mentiroso. Mas mentia. Não era por mal, nem algo muito elaborado, mas já havia acontecido, e tinha a impressão de que mentirinhas voltariam a acontecer. José não teve coragem de desmenti-la, seria uma ousadia para uma criança como ele. Mas era capaz de afirmar isso, sem grande culpa, para si mesmo.
Se há mal-entendidos numa sala de aula, imagine-se numa piscina. Por aí já se entende o que se passa em Aos teus olhos (2016), de Carolina Jabor, a versão brasileira do filme catalão El vírus de la por (2015), baseado, por sua vez, na peça original de Josep Miró, El princip d´Arquimedes. Ah, como José gosta da língua catalã, das supressões de vogais no final das palavras e das misturas que faz com o francês, o português, o espanhol e o italiano. “Por”, aliás, é medo, assim como “peur” em francês, ou “paura” em italiano. O medo é uma expressão-chave aqui, porque ele está espalhado no ar que respiramos e não fazemos ideia de como nos vacinarmos contra ele. Passamos a agir como se os outros e nós mesmos fôssemos criminosos em potencial e precisássemos tomar medidas preventivas. É uma regulação imprevista no contrato social de Hobbes. No Leviatã da nossa era, não é mais o estado forte que regulará com autoridade inquestionável o nosso comportamento, é o vírus do medo incubado em cada um de nós. O mínimo de contato possível é o mais aconselhável. Nada de chegar perto. Nada de brincadeiras. Estamos no caminho de uma sociedade sisuda — e medrosa. Nesse filme, a integridade do professor é uma porcelana frágil diante de seus alunos. Na peça de Chico Carvalho, a estudante Ludmilla talvez não tenha inventado algo sobre Prachedes, mais provavelmente ela o interpretou um tanto maldosamente, ela superfaturou seu gesto. Já do pequeno Alex não sabemos as palavras literais que ele usou para relatar à mãe o assédio que afirma ter sofrido do professor. Alex é uma criança tristonha, filho de um pai conturbado, do tipo que não admite o segundo lugar na competição de natação que o clube promove, e de uma mãe que adora usar as redes sociais para espalhar boatos. Uma raridade entre nós. O professor teria dado um beijo no menino, que, pela maneira como olha para ele, atribui o seu descontentamento ao professor. José, à vontade no sofá azul de sua sala, pergunta-se se esse beijo foi mesmo na boca. Ter certeza disso faria toda a diferença. No entanto, os pais preferem não insistir com a criança. A denúncia foi feita, as redes sociais as lançaram ao vento, os pais dos demais alunos querem justiça, ou seja, alguém tem que levar a culpa. Para piorar, um colega invejoso de Rubens se vale do momento delicado para lançar mais lenha na fogueira: ele encontra uma sunga de natação infantil no armário do acusado. Ana, a diretora, procura Rubens para uma conversa. Ela é ex-professora e o considera o seu melhor professor, mas está confusa. Indignado e com o orgulho ferido, Rubens não lhe dá maiores explicações. Ela pondera, evita tomar decisões precipitadas e acha improvável que ele tenha alguma culpa. Resiliente, Ana desabafa: “Daqui a pouco a gente não vai poder chegar perto dessas crianças!” Rubens lhe explica que o menino não queria entrar na piscina, e que então o levou para uma conversa no vestiário, onde Alex não se sentiria constrangido com os olhares dos coleguinhas. Ali, como o menino chorava muito, o professor abraçou-o e lhe deu um beijo na bochecha para que se acalmasse.
José rema junto ao filme, à espera de diálogos mais interessantes, até que Rubens estabelece uma distinção fundamental a respeito do que aconteceu, da qual José gosta muito: “foi um carinho, não foi uma carícia.” José teme que tenhamos chegado a um estágio social em que essas sutilezas essenciais se apagaram. A imagem de Ludmilla lhe vem à mente. Afinal, Meursault não planejava matar o árabe. O estrangeiro (1942) alimenta uma angústia que sobrevém à decisão do tribunal. Nós não somos seres jurídicos. Meursault descarregou o revólver sobre o árabe e, no entanto, nós o vemos como um homicida casual, não um assassino. Esta frase, “foi um carinho, não foi uma carícia”, ecoa fundo em José. Nesse ciclo do absurdo em que Rubens recaiu, ele não nada contra a maré, ele se deixa levar. O pai de Alex pressiona a diretora: “Eu só quero que ele fale a verdade.” Mas Ana resiste: “Não. O senhor quer um culpado.” Há muitos crimes sendo cometidos para que se possa condenar o professor, todos eles comprováveis, só o do réu não tem comprovação. E, no entanto, temos um único acusado. Na delegacia, ele pergunta ao delegado: “Minha palavra não conta?”, ao que o delegado responde: “E a palavra do garoto, não conta?” A não ser, é claro, que acreditemos que criança não mente, José considera que o ônus da prova caberia ao acusador. Há um ponto, considera José, em que a sede de justiça se transforma em sede de sangue. Ao tentar retomar as suas aulas, Rubens é agredido pelo porteiro do clube. Enquanto está caído, sangrando, alguém tem uma câmera de celular apontada em sua direção. Restará a ele se entregar, como Meursault, à terna indiferença do mundo e esperar que haja muitos expectadores no dia de sua execução. Talvez assim, ele se sinta menos só. Em seu carro está pichado “pedófilo”. Até sua namorada é usada como indício de seu mau comportamento, uma vez que Sofia, agora com 19, fora, anos antes, sua aluna de natação. Há uma pergunta que parece rondar a cabeça do pai de Alex, e que não passa pela de sua mãe. É uma pergunta simples e essencial, mas que, na visão de José, boa parte de nós já não é mais capaz de se fazer: e se não for verdade?

“Eu acredito nas crianças, Lucas. Elas não mentem jamais.” Eis o princípio adotado pela diretora da creche onde o professor Lucas trabalha, o adágio que ela arremessa em sua cara, no lugar de um argumento lógico. Uma reputação é como um castelo de areia, leva tempo para ser construída e segundos para se desfazer. José assiste pela terceira vez ao longa de Thomas Vinterberg, A caça (2012), numa semana em que sente uma dificuldade inédita para ir até a faculdade. Lucas vive sozinho numa pequena cidade dinamarquesa. Pai de um adolescente que passa a maior parte do tempo na casa da mãe, Lucas é um homem alto e bonito, com quarenta e poucos anos. Esse não é o perfil clássico de um professor de crianças do jardim de infância. Mas estamos na Dinamarca. Ou poderíamos estar na França, se nos lembrarmos do paciente e ponderado professor Georges Lopez, do documentário Ser e ter (2002), de Nicolas Philibert. Lucas não é exatamente um solitário. Ele mantém convívio com um animado grupo de amigos, alguns deles dos tempos de escola e pais de seus atuais alunos. Eles bebem juntos, caçam, jogam e riem. O lado positivo e o lado negativo de uma cidade provinciana é que todos se conhecem. Eis que a sua relativa harmonia é quebrada pela imaginação de uma aluna, que por sinal é filha do seu melhor amigo. Para compreender a atitude de Klara, precisamos voltar a uma cena que não dura mais do que alguns segundos. Ela surpreende o irmão adolescente com um amigo vendo fotos pornôs num computador portátil. Eles estão empolgados com o tamanho do pênis do ator. Ao se depararem com Klara, mostram-lhe, aos risos, a imagem mais de perto, inoculando na criança uma nova memória visual e linguística. Klara é introspectiva e imaginativa, uma criança que pode ser vista brincando sozinha pelos cantos. Ela gosta muito de seu professor, que é calmo, atencioso e amigo de seus pais. Durante uma brincadeira com os alunos, enquanto eles pulam em cima de Lucas e o atingem com almofadas, o professor se finge de morto. Klara, que assistia a tudo sorrindo, por um instante se exaspera com a cena, que logo se revela uma brincadeira. Aliviada, a menina corre na direção de Lucas e, aproveitando que ele está deitado, dá um beijo em sua boca. Ele se surpreende e, em seguida, explica à criança que beijos na boca são entre o papai e a mamãe. Durante a mesma conversa, ele lhe devolve um coração de brinquedo, presente que ela escondera no bolso de seu paletó, e sugere que ela o entregue a algum colega ou a seus pais. Mas Klara afirma que não foi ela. “Você está mentindo”, ela diz.
Há uma etapa delicada do processo de aprendizado, a das experimentações. Nessa fase, verdade e mentira, realidade e ficção são facilmente embaralháveis, e Klara terá que aprender a lidar com as consequências desse jogo. Lucas está aí para ajudá-la nessa passagem. Mas será justamente ele a vítima dessa experiência infantil. Enquanto está sozinha com a diretora, à espera de seus pais, a criança declara: “Eu detesto Lucas.” A diretora sorri e pergunta por quê. “Ele é bobo. Ele não é bonito. Ele tem um pipi.” Com bom humor, a diretora lhe explica que é assim com a maior parte dos homens. “Sim”, Klara insiste, “mas o dele é todo duro… como um pau.” A menina repete a frase que o irmão e seu amigo disseram ao descrever a foto que fixaram em sua memória. E complementa: “Ele me deu esse coração”, que deixa sobre a mesa, “mas eu não quero”. A essa altura, a diretora já não sorri. Nessa mesma noite, na cozinha da escola, Lucas recebe o telefonema de seu filho, que quer morar com ele, e é surpreendido pela diretora, enquanto conversa animadamente com Nádia, a bela funcionária que cuida da limpeza. Agora até mesmo respirar pode ser interpretado como um gesto recriminável. Crianças mentem tanto quanto os adultos, e suas intenções não são necessariamente as melhores. As consequências disso é que, muitas vezes, elas não são capazes de mensurar.
A diretora, por sua vez, não é capaz de ter uma conversa aberta com Lucas. Ela apenas lhe diz que uma criança viu seu órgão sexual. Ele não imagina como. Não há diálogo. A acusação imediata é uma forma de isenção. Agora, Lucas está na pele de Prachedes, e a diretora poderia se chamar Dra. Neusa, do Instituto Feitosa Bulhões. Mesmo reconhecendo que Klara é uma criança muito imaginativa, a diretora chama um inspetor até a escola, que tira da criança uma confissão. No início, ela nega ter dito qualquer coisa, mas cede à sua insistência, apenas balançando afirmativamente a cabeça. As palavras são dele, não dela. Klara terá mais trabalho para convencer os adultos de que mentiu, do que teve para convencê-los de sua mentira. Professores do sexo masculino são incomuns nos jardins de infância. A diretora não hesita em relatar à mãe de Klara o ocorrido como “conduta indecente” e “abuso sexual”, e a alertar os demais pais para a possibilidade de terem ocorrido outros abusos. Se você insistir muito para que seu filho relate seus sonhos a você e deixar que ele perceba o seu interesse por certas cenas, não demorará para que ele o presenteie com a sua fértil imaginação. Pobre Lucas. As palavras foram arremessadas ao vento e não há como freá-las.

José traz na memória o semblante triste do Sr. Shimada, vítima juntamente com sua mulher, com uma professora e seu marido motorista, da ambição de um delegado midiático e inescrupuloso, que os prendeu sem provas e antes mesmo de encerrado o processo de “pedofilia”, e da pressão da imprensa sensacionalista, sedenta pelo furo de reportagem. Com a substituição do delegado, os acusados foram inocentados e o processo arquivado por falta de provas. Enquanto esperavam pelas indenizações, Icushiro Shimada, ameaçado de linchamento e com a escola depredada, morreu de infarto, em sua casa, em São Paulo, em 1994. Sua esposa morreu de câncer em 2007. Isso não é um romance, uma peça ou um filme, infelizmente. Assim como Lucas, eles já tinham sido socialmente enterrados. Por quê, mesmo depois de Klara se desmentir com sua mãe, esta prefere acreditar na mentira? No fundo, o desenrolar do caso “Escola Base” só foi possível por se apoiar num instinto coletivo histórico. Se, na hora “H”, a multidão reunida em praça pública em torno da forca, da fogueira ou da guilhotina, fosse informada de que o acusado é inocente, ela ficaria indignada. E o espetáculo? De tradições é feito um corpo social. Essa pequena comunidade dinamarquesa presenteia os rapazes de 16 anos com um rifle, para caçar cervos, e ritualiza a sua transformação em homens com muita bebida e cantoria. Até que ponto somos permissivos com a violência? E o espetáculo? Uma calúnia levada ao extremo termina em execução. Parece não importar que a punição seja justa; o mais importante é que encontremos um bode expiatório, um indivíduo que, apartado do rebanho, leve sozinho a culpa. Lucas, ou o Sr. Shimada, são os mártires que galvanizam a nossa obscenidade enrustida, que trazem à tona a nossa sordidez mascarada, sublimando o sentimento de culpa. Ao incriminarmos alguém, inocentamos a nós mesmos? A partir daí, quantas possibilidades se abrirão? Ainda que apedrejemos a sua casa e matemos o seu cão, mesmo que o proibamos de circular pela cidade, de comprar em nossos supermercados, ou se o espancarmos caso ele insista em fazê-lo, não seremos nós, será sempre ele o culpado. “J´accuse!” é o título da carta aberta com que Zola expôs a sua indignação com o degredo e a prisão injusta do capitão Dreyfus. Ele próprio, Zola, exilou-se na Inglaterra para escapar à prisão a que levaria o seu gesto de coragem. Um ano depois, ainda que Lucas seja considerado inocente, restarão sempre os olhares, e os rifles.