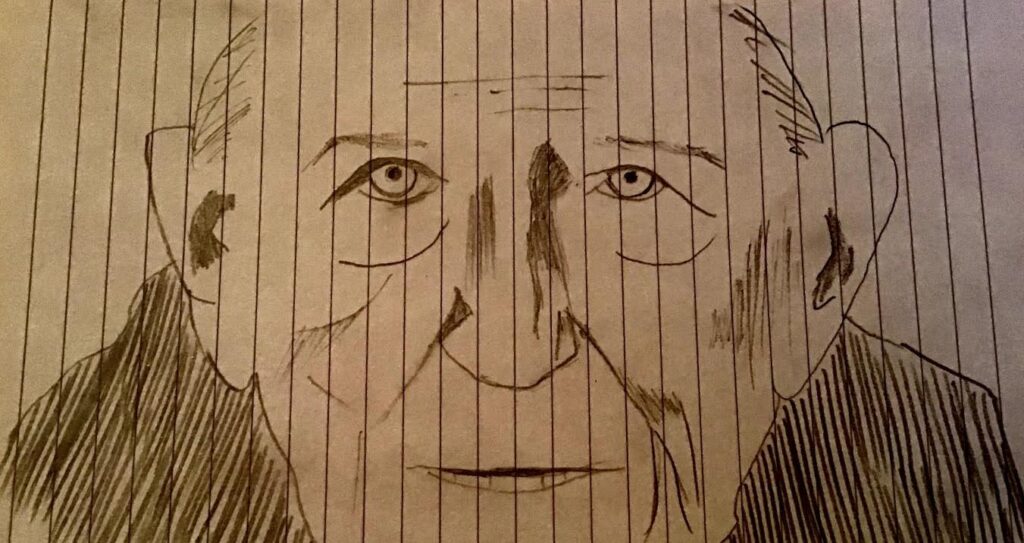E se não for verdade? Essa pergunta ecoa. Quantas das afirmações que fiz sobre Prachedes, Lucas, Klara, Sr. Shimada, Zola, Silk e Kepesch são realmente minhas? Chegando aqui, o leitor pensará que José não é de verdade, que ele é fruto de minha imaginação, um faz de conta que eu bolei para projetar minhas ideias no papel. Considerará que José é um estratagema que me exime de qualquer responsabilidade. Não o culpo por isso. O leitor bem sabe quão parca é a noção de realidade daqueles que se limitam ao mundo orgânico, embora esteja redondamente enganado se considerar que eu realmente seja um escritor criativo. Também não sei desenhar. Quem, senão o próprio José, faria o seu autorretrato póstero? Possuo a triste coerência de não ter acrescentado mais ninguém a este mundo.
Tristemente, eu me recordo, a propósito de José, daquele professor de matemática que abandona o próprio cão quando é nomeado para dar aulas em uma outra cidade e, depois de ter se mudado, ao encontrar um outro cachorro morto na rua, faz o enterro dele como um ritual de despedida de José. Sim, no conto “O crime do professor de matemática” (1960), de Clarice Lispector, José é o nome que o professor de matemática deu ao seu verdadeiro cão, de quem ele se recorda, saudoso: “Enquanto eu te fazia à minha imagem, tu me fazias à tua”. E com um propósito: “Dei-te o nome de José para te dar um nome que te servisse ao mesmo tempo de alma. E tu — como saber jamais que nome me deste? Quanto me amaste mais do que te amei…”.

“É coisa que se ensine, o amor?”
José me veio com a seguinte frase: o verdadeiro professor do desejo é uma professora, soltando-a no ar como um corpo sem paraquedas. Do que ele estaria falando? Ponho-me a pensar, mas resvalo em quases, sem definição. Eu me refiro a Fräulein Elza, revela-me, a heroína de Amar, verbo intransitivo (1927), de Mário de Andrade. Que surpresa, aquela. Eu ia me recordando do romance, com a ajuda de meu amigo. Elza é contratada como governanta dos Sousa Costa, em cuja mansão ensina piano e alemão para os três filhos, incluindo as duas irmãs mais novas de Carlos, o adolescente de 16 anos e motivo real da contratação. Sua mãe, Dona Laura, desconhece, a princípio, que a sua disciplinadora e discreta funcionária é também responsável por um terceiro nível de instrução em sua casa. Caberá a ela a iniciação sexual do primogênito. José e eu conversamos rapidamente a respeito da acomodação da língua escrita à língua falada no romance, tal como prevê o projeto estético e, mais do que isso, a missão cultural de Mário, para além dos regionalismos anteriores, e falamos também do incômodo inicial daquela língua — a nossa, afinal. Incômodo que foi cedendo, página após página, à medida que avançamos na leitura. Evocamos ainda o narrador do romance, que, na esteira de Machado de Assis, problematiza a própria narrativa, expondo ao leitor, durante o ato criativo, o trabalho de criação.
A título de comparação, lembro-me de que nós havíamos comentado, há não muito tempo, outro romance do mesmo período, o simpático O professor Jeremias (1920), de Léo Vaz, sugerido por um colega meu, o professor Daniel Reizinger Bonomo, que ensina literatura brasileira em Belo Horizonte. E a leitura de Amar, verbo intransitivo à luz desse outro texto, sete anos mais velho, colocava-os não a poucos anos, mas a um século de distância um do outro. Arrumado em capítulos muito curtos, o romance de Vaz é uma espécie de carta introduzida numa garrafa. O narrador, o professor Jeremias Pereira, da fictícia Ararucá, dirige-se ao seu filho, cujo paradeiro, ao lado da ex-mulher, ele desconhece. Escrito como uma amarga lição de realidade, o romance expõe com ironia o verniz que encobre o caráter burlesco da sociedade brasileira. Mas, para José, por mais machadianamente acre que Jeremias pareça ser, por mais que ele escreva seu livro com um risinho no rosto, essa é a ironia dos cândidos, carente de autoconsciência formal. Jeremias é uma personagem rica, que padece, no entanto, de um erro de perspectiva: ela seria inesquecível, se fosse explorada na terceira pessoa; se nós pudéssemos observá-la com relativo distanciamento por um outro narrador. Mário repunha aquela falta que José cirurgicamente identificava no escritor capivariense, com um romance, em sua época, muito menos lido do que o de Vaz e que, no entanto, se beneficiaria, ao contrário do anterior, da passagem do tempo. Mas, veja o leitor, sínteses são sempre sínteses. Se nada ficar de fora, não valem a pena. E muito ficará de fora a respeito daquela nossa conversa em que situávamos, anacronicamente, o romance de Vaz no século XIX, e que sequer foi lembrada. Foi então que enveredamos, José e eu, pelo tema de Amar, verbo intransitivo, o desejo — palavrinha inexistente no vocabulário do nosso desolado Jeremias. Fräulein, a senhorita, a professora ainda na flor da idade, pretende ensinar o amor — amar sem amor, portanto —, mas não contava com o amor, ele próprio, pregando-lhe uma peça. Essa afirmação de José soara, a princípio, algo enigmática para mim. Deixei-a decantar, com a esperança de que, aos poucos, ela pudesse se ajustar ao meu entendimento.
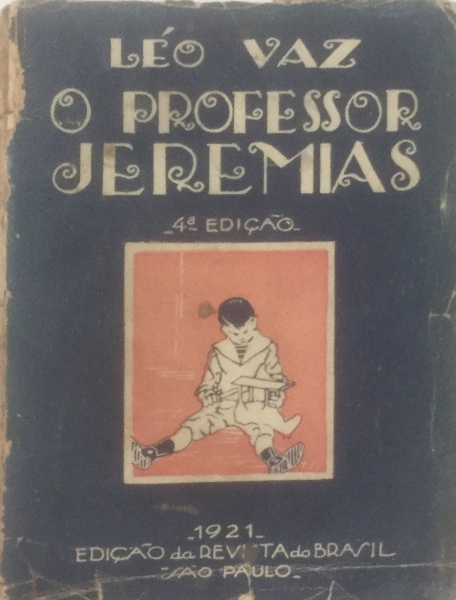
Ainda que se tratasse de situar, no romance de Mário, o binômio professor-aluno no centro da cena, havia diferenças básicas entre ele e alguns dos romances que havíamos lido. Trata-se de uma professora que seduz um aluno. José afirmava, enfatizando os gêneros. “Claramente, Fräulein não é Sheba Hart”, afirmei, propondo uma distinção que julguei necessária com a professora protagonista do inquietante Notes on a Scaldal (2006), e a respeito da qual José disparou: Hart é a professora aliciada; Elza, a aliciadora. É o sexo feminino, agora, o sexo forte no jogo amoroso. Temos que considerar que o autor mobiliza e aproxima personagens de lugares sociais distintos: Elza, com 35 anos, mora num quarto de pensão e planeja juntar dinheiro para voltar à Alemanha. Carlos, aos 16, é o primeiro herdeiro dos Sousa Costa, uma família da burguesia ascensional paulistana do início do século XX, em parte industrial – em parte agrária. Temos aí o alcance social da sedução. Mas há ainda uma outra diferença. Se esse jogo é incriminado pelo moralismo edificante, no romance de Mário é justamente essa mesma mentalidade moralizadora que patrocina a sedução. Em Amar… o desejo não desencaminha, pelo contrário, a presença de Fräulein o legitima, já que se trata de fazer de Carlos um homem.
Por vezes — estou a fazer confissões — aglutino aqui trechos de conversas que se passaram em momentos distintos, embora não muito distantes. Digo isso agora, somente agora e propositadamente fora de hora, porque não deve interessar tanto esse apego à materialidade da escrita. A escrita tem seus truques. Ela oferece artifícios que suprimem sete dias, a semana que aguardamos para que eu relesse e retomasse com José a conversa sobre Amar, verbo intransitivo. Foi só então que fiquei realmente à vontade para comentar a frase de José, que apenas sete dias depois retomei: “Nesse sentido, de acordo com o que você disse, Fräulein se torna a verdadeira professora do desejo. Mas acho tão discutível esse papel de instrutora sexual de luxo. O que o pai quer é desvirginar o filho de um modo seguro, para evitar que o sexo abra caminho ao convívio com prostitutas, ao vício e às doenças. Ele alega isso à esposa, quando ela decide dispensar a governanta, percebendo que o filho andava muito assanhado. Mas talvez o pai tenha uma apreensão maior. Eu fiquei com a impressão de que ele receie (mas é um receio não declarado) que não aflore no menino, que mantém um convívio constante com as irmãs mais novas, o varão que ele espera para herdeiro. Que ele fique afeminado”. José concorda, a seu modo: é a tartufice de nossa burguesia jacobina sendo denunciada por Mário: Fräulein é, sem dúvida, uma ação homofóbica.

Mas eis que meu colega adianta o passo na direção que mais nos interessava, com uma pergunta retórica que movimenta a reflexão e o próprio romance: “É coisa que se ensine, o amor?”. “O narrador acredita que não”, respondo. Mas ela crê que sim, José relativiza. Essa diferença entre os pontos de vista do narrador e de sua protagonista sobre o tema central do romance é o que o torna complexo. Segundo José, Elza jamais contesta, ela antes reforça o patriarcalismo dos Sousa Costa. “Não estamos diante de uma heroína feminista, evidentemente”, gracejo. Intimamente, prossegue José, ela traz convicções racistas e alimenta sonhos burgueses. Os heróis de Mário não primam por suas virtudes, como sabemos. Mas ela é uma heroína em sua complexidade e autonomia como personagem. O interessante é que, em que pese a presença da teoria psicanalítica no romance, ela não a circunscreve completamente, não explica a personagem. Há algo em Elza que escapa ao narrador. Esse leitmotiv distingue completamente o romance de Mário dos lugares-comuns do gênero. Ascendemos aqui a um outro patamar literário. E isso se dá, me parece, quando o feitiço se volta contra o feiticeiro. “Quando Fräulein”, procuro compreender, “sente que ela, Elza, também ama”. Quando se evidencia no romance, reafirma José, justamente a transitividade e a reciprocidade do amor.
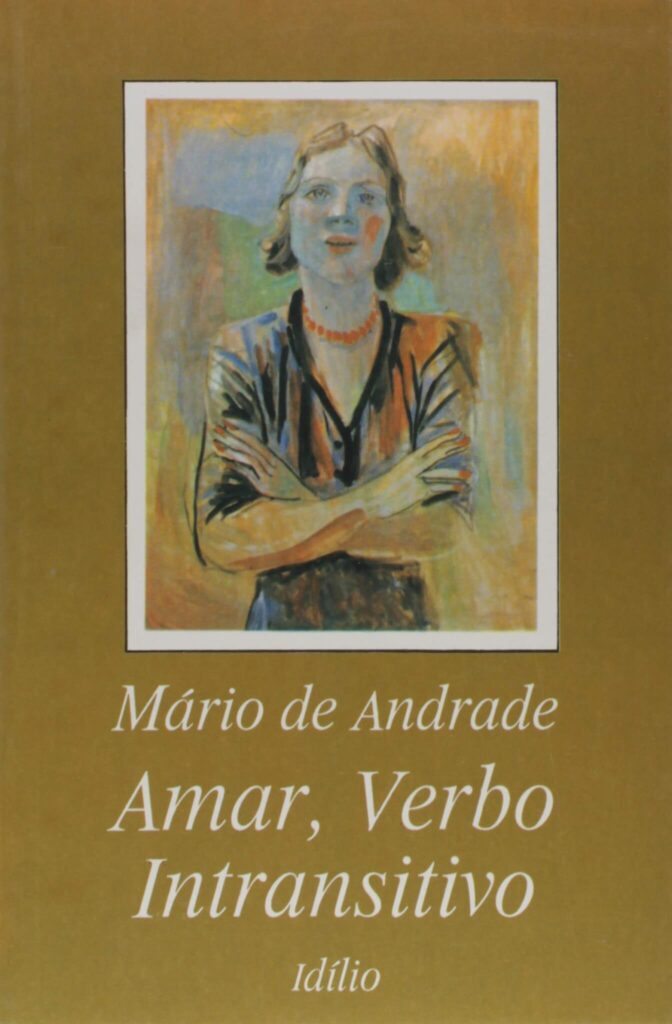
A dor humilde de existir
José me diz, exercitando o seu modo misterioso de anunciar uma ideia, que foi preciso que se passassem quatro décadas para que Amar, verbo intransitivo (1927) fosse reescrito. Aprende-se a viver?, ele me pergunta. Não respondo, evidentemente. A indagação que está por trás do romance de Mário de Andrade é similar a essa: Ensina-se a amar? Existe-se existindo, responde José. A jovem professora Lóri, no entanto, é da estirpe dos que se indagam e avançam arriscadamente dentro de si na tentativa de compreender o seu descompasso com o mundo. Eis o perigo. O seu corpo a corpo com a vida tem em Ulisses, um professor universitário de Filosofia, um ponto de fuga. Ela, professora de português no primário, está presa à franqueza do colega mais experiente, apegada à sua virilidade calma. Mais do que isso, ela se alimenta do desejo de se sentir desejada pelo professor, ensina José. Lóri sabe como é estar viva através da dor; Ulisses é a promessa de se viver através do prazer. Ela não quer que a vida lhe escorra por entre os dedos, mas, espiral abaixo por um torvelinho de sensações, a partir de que ponto a sua imersão em si significará ter ido longe demais? Para Lóri, que vive numa espécie de pasmo essencial, que experimenta o esplendor do mundo na posição de quem nascesse a cada dia, aprender a viver é um processo que a obriga a encontrar os limites para a ferocidade de seu novo amor pelas coisas e pelas pessoas; um modo de não se deixar consumir pelo estado de graça ao qual se alçou. José explica que Lóri é tão repleta de si mesma que qualquer aprendizado implica uma mutilação. Nesse processo, o que faz Ulisses? Ao prepará-la para andar com as próprias pernas e ao ensiná-la a abandonar o pudor de ter um corpo, o professor perde a tranquilidade de mestre face à sua discípula. Agora ele é simplesmente um homem enleado por uma mulher. Ao assisti-la, em sua busca pelo mundo, Ulisses deixa de assumir o controle, e os papéis se invertem; é ele, agora, quem desconhece a verdade; é ele — José deixa cair o rosto, os olhos permanecem fechados enquanto ele diz sua última frase — quem experimenta a dor humilde de existir. Ficamos em silêncio. Sem dizer mais nada, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969) nos observava disfarçadamente sobre a mesa.

Sinto como se as afirmações de José contornassem o semblante triste de Elza, a instrutora de Mário, sobre o de Ulisses, o professor de Clarice. José recorda uma cena de Perto do coração selvagem (1944), romance no qual também cabe ao professor, desta vez, de Joana, ser o seu abrigo e ensiná-la a viver. Na passagem descrita por José, Joana observa seu pai conversando com um amigo que recebera para o jantar. Ele se lembra de uma antiga paixão. Você se lembra do nome dela? É claro que não, é o que diz a minha cabeça balançando negativamente. Ela se chama Elza, José afirma com um sorriso iluminado. Tanto nome para dar e ela foi escolher justo esse? E depois vem a descrição de Elza como “cheia de poder”. Ora, você não notou? Esta é Fräulein! O meu espanto não foi pequeno. Agora, com o primeiro romance de Clarice em mãos, leio atentamente a descrição nas palavras do pai de Joana: “…cheia de poder. Tão rápida e áspera nas conclusões, tão independente e amarga que da primeira vez em que falamos chamei-a bruta! Imagine… Ela riu, depois ficou séria. Naquele tempo eu me punha a imaginar o que ela faria de noite. Porque parecia impossível que ela dormisse. Não, ela não se entregava nunca”. De fato, é inevitável entrever Carlos espantado com o germanismo de sua tutora, desejoso de seu corpo, que o excitava e ao mesmo tempo se esquivava dele; é Carlos devaneando com Elza, instalada no quarto de hóspedes de sua casa. Com uma liberdade de dar vertigens, José afirmara que Clarice Lispector reescrevera Amar, verbo intransitivo (1927).

Como a linguagem apreende o mundo
Há muitos modos de definir a literatura. Eis um deles, que acabo de esboçar: “Quando se trata de Clarice Lispector, Philip Roth pode esperar”. Mas é meu colega quem dispara: Resuma um texto literário; a literatura é o que ficou de fora. Segundo essa receita, narrativas repletas de ação, capazes de engordar resumos, seriam menos literárias do que textos com enredos parcos e incapazes de exprimi-los — como os de Clarice Lispector, por exemplo. Definições são sempre boas para uns e ruins para outros. Uma outra, a última desta leva, também cunhada por José, é que a literatura, em sua essência, repousa sobre uma falha ontológica. Apesar da sua evocação sísmica, não vejo como aplicá-la tranquilamente a uma narrativa como Os miseráveis, de Victor Hugo; no entanto, essa é uma definição que cai como uma luva para um conto como “Os desastres de Sofia” (1964), em que o que importa é, a exemplo do que ocorre em boa parte da obra de Clarice, o modo como uma consciência apreende o mundo. Mas basta começar a ler, a se colocar frente a frente com o inesperado das imagens, para reformular essa definição: o que importa é o modo como a linguagem apreende o mundo. E será de uma diabrura de Sofia que nascerá, diante da surpresa do mestre, a escritora — uma escritora que, assim como Clarice, seguindo o exemplo da menina, alterará as morais das histórias — e nascerá a mulher — que experimentará, num êxtase, ou num martírio, o risco de viver sem máscaras. Sofia é uma menina de nove anos, uma pequena Joana em plena construção da identidade através da atração e do confronto com seu professor. Acompanhamos os mecanismos da paixão segundo Sofia, despertada pelo contato com seu formador, que não é o charmoso Ulisses, mas um deslocado lente do primário. A macabeana frustração desse homem é uma tentação para a sua aluna mais rebelde; o que a atrai nele, o que alimenta em si o seu amorzinho de leão, que vai crescendo aos poucos, é a piedade, a possibilidade de salvá-lo. O universo de Clarice é o do jardim botânico visitado por Ana, em “Amor” — uma paisagem anímica, a um só tempo monstruosa e suave. Joana, Lóri, Ana e Sofia são mulheres de um lirismo disforme, de uma liquidez infantil que não se cristaliza. A narradora, aqui e no resto da obra, rememora o passado procurando conferir-lhe um sentido, como uma feiticeira que, tentando dizer o indizível, diz, a bem dizer, a própria indizibilidade. E ela caminha até a beira do precipício — viver errado a atrai —, como se ali, olhos nos olhos do professor, pudesse encontrar a fonte, a chave mestra. Ou fim de tudo.