O escritor Ricardo Guilherme Dicke (1936-2008) coloca o poeta Arthur Rimbaud no sertão mato-grossense no seu romance Madona dos Páramos, de 1982, reeditado neste ano pela Record. Rimbaud ri entre as folhagens feito o gato da Alice de Lewis Carroll, e isso leva o personagem mais enigmático de um grupo de dez foragidos da justiça, ao qual se junta um fantasma e uma viúva seminua a quem eles chamam de Madona, a afirmar com indisfarçável orgulho: “Não disse eu que era poeta?”. Trata-se de Melânio Cajabi, um gigante de queixo enorme e melenas vermelhas, inteiramente mudo por opção (define-se como “o silêncio”) e formado em filosofia (como o próprio Dicke). Seu sobrenome é von Kuntz, pois declara ser filho de pai alemão e de mãe indígena. Há muito do próprio escritor nesse personagem soberbo, cujo modo de expressão anula a distinção entre prosa e poesia.
“No meio do caminho tinha uma pedra, no meio da pedra tinha um caminho”, declama o artista criminoso e não para mais de falar na sua última interferência, sempre se dirigindo a um “você” estratégico, que lhe permite falar do infinito e dialogar, entre outros, com o filósofo Emmanuel Lévinas, que teorizou sobre o absolutamente Outro (a experiência do infinito, segundo ele, pressupõe a relação com o exterior, com vocês). É preciso lembrar que Dicke foi professor de filosofia em Cuiabá, depois de se formar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Extremamente cruéis em seus arroubos de violência, os malfeitores do romance se dedicam, na interminável ociosidade da fuga, a acalorados debates filosóficos e teológicos em meio a recitações de poemas; porém, ao mesmo tempo, fazem profundo exame de consciência, sem esquecer os assassinatos que cometeram. Na caminhada vagarosa pelo desconhecido, o romance evolui sem pressa (os relógios não andam), mas isso não o torna tedioso: a sua verborragia lhe dá mais sabor e colorido, e o seu denso fluir o faz mais majestoso e sugestivo.
No ano em que se comemora o centenário do surrealismo, é preciso retornar à obra do escritor mato-grossense, na qual estão reunidas algumas das alucinações mais impactantes da literatura brasileira. A viagem que gira em círculos (os foragidos estão na verdade sempre numa “prisão” e por isso anseiam pelo infinito, pelo Outro) é paródia da viagem pelo deserto do povo eleito. Cheia de ameaças e belezas, nessa jornada um dos personagens apodrece sem alcançar a Terra Prometida, onde deveria ter sido recebido por virgens maravilhosas. Todos os milicianos penetram no inferno, mas, como Dante, alçam os olhos às estrelas, buscando miragens reconfortantes no céu.

Têm muitas visões, entre elas a de uma divindade assentada numa nuvem cor-de-rosa, a mitológica Esfinge, “corpo de animal, como um gato ou leão enorme, uma onça cor de carne e a cara de mulher”, que traz para o sertão um pouco do deserto egípcio, como percebe um dos personagens, para quem os doze miseráveis se tornaram “faraós sem pirâmides” — aceitam, por conta disso, a miragem como seu novo guia. “O animal fabuloso mexia a cauda suavemente, sua face era bela e antiga, seus seios tremiam como narinas de cavalo”, afirma-se nessa passagem, e a mesma frase traz à tona, na sequência, a música de Mozart, por meio da alusão inesperada à Rainha da Noite da ópera A flauta mágica, mas ninguém quer cantar ou falar, “com receio de ferir um pesado tabu do sonho”. Os “apóstolos” se detêm, como se obedecessem a uma ordem, numa das cenas mais surrealistas do romance: “Eram as Górgonas, a Medusa, tornando tudo em pedra. Séculos, milênios transcorreram. Eles não sabiam. Eram de pedra e pedra, mas ouviam, cada qual que algo ciciava.”
A descrição de corpos, sagrados e profanos, é uma especialidade de Dicke, e percebe-se que o escritor buscou inspiração em muitas fontes (as referências religiosas e literárias são espantosas), entre elas citaria a literatura gótica do final do século XVIII, da qual também os surrealistas históricos beberam. À maneira de Matthew Gregory Lewis, autor de O Monge, Dicke se esmera na descrição de cenas fortes e bestiais, trazendo o céu para o inferno (onde a lepra masculina convive com a pureza feminina), como neste exemplo, em que um dos foragidos relembra como puniu o amante da esposa, cortando e desmembrando seu corpo: “Quando terminei estava como um açougueiro nadando em carnes e o quarto era um esguichar vermelho que não tinha mais termo”. Mas não é necessário que haja sangue nestas páginas para que o abjeto se manifeste: “Dirão que é horrível, estar leproso e arder de amor. Pode ser. Ela anda por meus sonhos como uma pomba pelos telhados de uma casa”, pondera um dos mais tenebrosos membros do bando.
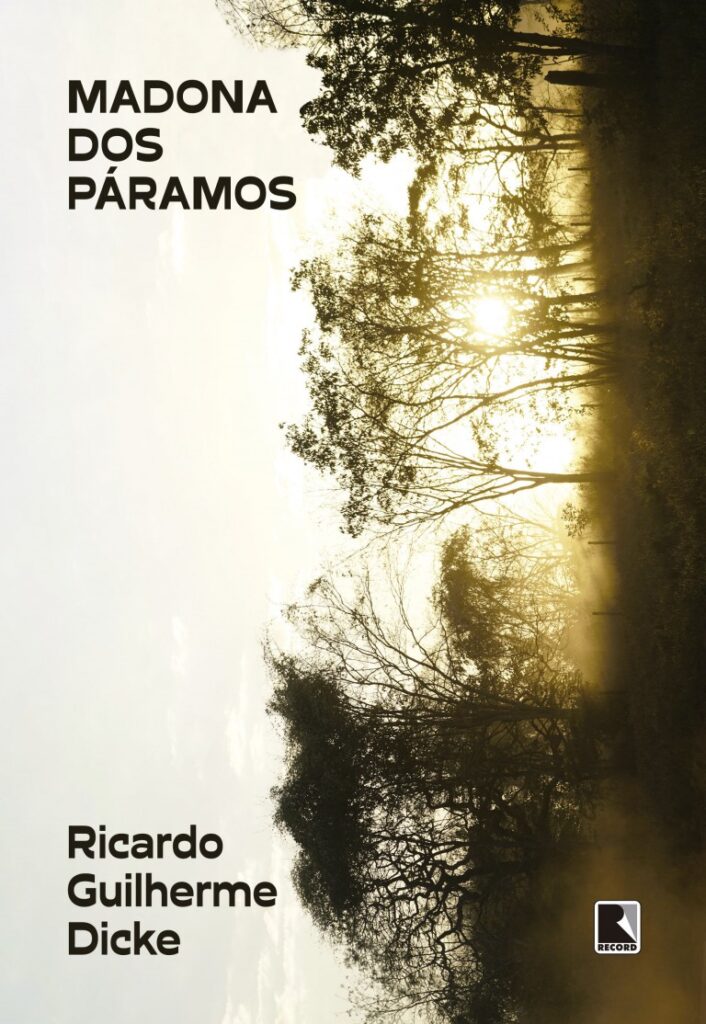
Essa veia gótica de Dicke reaparece numa das cenas mais desconcertantes do livro, na qual ele narra, após as chuvas do Dilúvio, a descoberta do Templo de Salomão (outra paródia bem-sucedida) em plena floresta. Mais do que uma realidade, é quase um oráculo contra o Brasil, para usar uma fórmula bíblica muito empregada pelos profetas. Aparentemente, a viagem aproximou a caravana de uma possível atualização do mito bíblico (por meio da teologia da prosperidade, poder-se-ia dizer), mas não lhes deu o que buscavam (a Figueira-Mãe, a capital dos fugitivos de Cuiabá). Constatam que não existe nenhum mundo ideal para o homem bruto (“Quanto mais bruto o homem, tanto mais dói nele o sentimento profundo de tudo”, constata um dos personagens).
Bandidos peregrinos e romeiros de Deus (essa união entre crime e religião é cada vez mais atual no Brasil), sob a aparência de cavaleiros fantasmagóricos, eles finalmente se acercam da grande fazenda de gado dos pastores protestantes norte-americanos, exploradores das riquezas da floresta disfarçados de religiosos. É uma apresentação extraordinária do agronegócio contemporâneo, em uma de suas vertentes mais predatórias: “Gringos ricos com grandes permissões, e grandes monopólios, grandes direitos e grandes suseranias, que não têm o que fazer nas suas terras ou que têm interesses inconfessáveis muito fortes para aqui ficar isolados (…) Dizem que são gente que manda para seus países os tais minérios preciosos às escondidas.”

Sob a afirmação “Ao diabo o rei David! Somos mais antigos do que todas as religiões!”, um dos membros do bando resume o sentimento de todos. Para seu chefe, Urutu, o Templo de Salomão “estava enfeitiçado, aquilo eram miragens de mau encantamento, segundo as magias mais entranhadas, uma abstração erguida contra o céu como uma torre de Babel.” Puseram fogo em tudo, mas antes se apossaram da comida abundante e, sobretudo, das garrafas de bebida importada que havia no local.
Monumental, Madona dos Páramos se impõe como uma das grandes alegorias do Brasil e chega a ser profético em muitos aspectos, o que sem dúvida se coaduna com sua natureza mítico-religiosa.
Sérgio Medeiros é poeta e artista visual. Publicou, em edição digital, O que aparece e o que não aparece (Iluminuras, 2024) e uma recriação visual do último romance de James Joyce sob o título A Visual Finnegans Wake on the Island of Breasil (Iluminuras, 2022). Ensina literatura na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).




