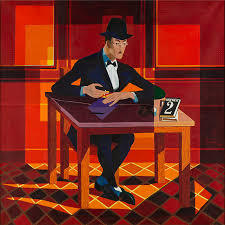Em Por que ler os clássicos, Italo Calvino acentua que uma obra clássica é aquela que não terminou de dizer, que não perdeu a sua atualidade apesar da passagem do tempo. Conquanto seu último texto escrito tenha quase 90 anos, a capacidade de Fernando Pessoa falar com o nosso tempo é um dos melhores exemplos para o argumento do escritor italiano. Essa não é, contudo, apenas uma qualidade intrínseca ao texto; ela depende igualmente do trabalho de renovação realizado pela crítica a seu respeito. Cabe aos leitores especializados superar os lugares-comuns que se acumularam em torno do cânone e enfrentar as ondas de cancelamento, de pregação para convertidos e de encaixotamentos identitários, para que novas interlocuções passem a render frutos. Nesse sentido, o crítico e professor da USP Caio Gagliardi, em seu recente livro Fernando Pessoa Ironista (Edusp, 2024), renova os caminhos analíticos de uma das fortunas críticas mais vastas da língua portuguesa, oferecendo um novo olhar sobre a obra de Fernando Pessoa. Conforme demarca na abertura do terceiro capítulo, intitulado “A Performance do Agitador Intelectual”:
“Todo grande escritor acumula lugares-comuns equivocados a respeito de si — afirmações e juízos de lavra própria que, ao se repetirem inadvertidamente e em contextos imprevisíveis, têm o sentido original deturpado. Não há qualquer dúvida em se constatar que, frequentemente, um escritor é mal compreendido. O que há de peculiar nos clichês que orbitam o planeta Fernando Pessoa é o reconhecimento de que, embora o autor deplorasse a incompreensão alheia, ele não apenas evitou fazer concessões à mentalidade ou ao gosto médio como também se comprouve com as polêmicas a partir e em torno de si”.
Retomando o entendimento de David Foster Wallace, clichês são verdades cansadas; mesmo assim, eles podem ofertar caminhos reflexivos. Em conformidade com essa ideia, considerando os caminhos trilhados antes de si, Gagliardi repensa a ironia pessoana a partir de vieses múltiplos e inter-relacionados: o autoral (através da heteronímia), o editorial, o existencial e o crítico. O autor se debruça sobre cada um deles nos três capítulos centrais de Fernando Pessoa Ironista, bem como no ensaio introdutório, “O Sorriso de Pessoa”, e nos três ensaios que compõem o original epílogo, no qual interage com os testemunhos de leitura de “Um Certo Antônio”.
Ao pensarmos a originalidade da obra pessoana, precisamos levar em conta que a criação dos heterônimos nega a essência do lírico, isto é, a supérflua ideia da emoção vivida e posteriormente vazada em versos líricos. Se Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis (entre tantos heterônimos) não existem, uma eficaz ironia está implícita no jogo entre ser e parecer, que move o lirismo atípico pessoano. Essas existências literárias tão fortes, tão marcantes, acentuam a singularidade de um potente verso de Manuel Bandeira: “a vida inteira que podia ter sido e não foi”. Como seres de papel projetados na realidade empírica, Campos, Caeiro e Reis, mas também o próprio Pessoa ortônimo, nada são fora da linguagem. Eis um dos pilares de Fernando Pessoa Ironista:
“Se, para o poeta dos heterônimos, ser é escrever, também escrever é ser, uma vez que a materialidade da escrita simboliza não apenas uma prática constante, mas o barro da existência de distintas autorias, que se associaram, por fabulações, a inéditas personalidades criadoras. […] A escrita é representada ao longo da obra de Pessoa como o DNA do escritor, como se não houvesse vida fora dela”.
Por esse ângulo, a atitude irônica do procedimento heteronímico se faz atual na medida em que, por nunca terem existido, os heterônimos são uma realidade a salvo da temporalidade.

Levando em consideração o gesto editorial de Pessoa, Gagliardi demonstra como, ao considerarmos os veículos de imprensa nos quais se deram as publicações que Pessoa realizou em vida, somos beneficiados por uma compreensão mais completa e profunda de seus textos. Isso porque uma das práticas do poeta português foi polemizar implicitamente com as diretrizes estabelecidas pelos periódicos que o veicularam. Essa nova ideia vem ilustrada no segundo capítulo, intitulado “Ler o Gesto: A Concepção Pessoana de Publicação”: “Por qual outro motivo, senão guiado pela provocação irreverente, o poeta teria se lançado em sua língua numa revista modernista, intitulada A Renascença, tratando não do futuro ou de auroras, mas justamente, e logo na parte I do poema, do seu contrário — da infância perdida?”. Complementando o argumento, o crítico retoma o poema “A Casa Branca Nau Preta”, de Fernando Pessoa ortônimo, que sai na revista Portugal Futurista, para frisar que esse texto se distancia, já não por acaso, das prerrogativas do Futurismo: “O que ele [o referido poema] tem a ver com a velocidade, o simultaneísmo e a força — com os automóveis, os aeroplanos e os transatlânticos de Marinetti?”. Valendo-se do seu direito à polêmica, Pessoa publicaria, nesse mesmo periódico, mas dessa vez sob a assinatura de Álvaro de Campos, o seu manifesto futurista intitulado “Ultimatum”.
Caminhando pela seara existencial, o conceito de ironia ganha verticalidade de entendimento, quando, por exemplo, é focalizado como “niilismo irônico”, termo emprestado de Jacinto do Prado Coelho e aprofundado pelo professor da USP, que lerá a ironia como energia vital do escritor, conforme fica demarcado no ensaio introdutório, “O sorriso de Pessoa”. O sorriso de canto, oriundo do movimento entre ironia e tragicidade, se traduz em versos de alta qualidade poética e existencial, qualificadores das ações de homens de juízo superior, como foi Fernando Pessoa: “Ao contrário das pessoas, que viveriam em estado de profunda inconsciência de si mesmas, o homem superior, consciente de que não poderá atingir o autoconhecimento, praticaria, conscientemente, o exercício de autodesconhecimento”. Autodesconhecimento que se contrapõe ao momento em que vivemos, recheado de discursos esvaziados, conceitos ocos e identidades gritantes. A resiliência, manifestada na aceitação da incerteza sobre o propósito da vida, converte-se em poesia pungente, expressa com um “sorriso discreto, porém agudo”. Ou, às vezes sem sorriso algum, como vislumbramos no dilacerante poema “Aniversário”, de Álvaro de Campos, marcado por um eu lírico carcomido pela dor: “Hoje já não faço anos./ Duro./ Somam-se-me dias”.
Em Itinerário de Pasárgada, Manuel Bandeira argumenta que não há poetas perfeitos, mas há poemas perfeitos. Temos um caso, ou melhor, muitos casos de textos literários, na produção de Fernando Pessoa, que o são. Talvez “Aniversário” seja primoroso porque ajuda a vislumbrar uma atitude existencial elementar, em “um gesto que se reconhece na negatividade total de Pessoa, em sua amargura diante da existência”. Amargura diante da existência imagética e liricamente representada por uma mesa vazia no aniversário e no bolor que se impregna à parede: “O que eu sou hoje é como a humidade no corredor do fim da casa”.
Por outro lado, aceitar “a consciência trágica da existência” evidencia uma resiliência saturnina, conforme discute Susan Sontag, em Sob o signo de Saturno, isto é, aquele conhecimento aprendido com a dor, cujo sofrimento não produz estardalhaço, mas quietude, tal qual a postura do poeta de “mãos pensas” presente em “A máquina do mundo”, de Carlos Drummond de Andrade, mas também presente no olhar do sujeito lírico de “Aniversário”, cujos navalhados versos retomamos: “O que eu sou hoje é terem vendido a casa. / É terem morrido todos, / É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um fósforo frio…”. Como pode surgir algo tão vibrante e incisivo de alguém que nunca existiu? Ironia pura. Ou melhor, lirismo intelectual irônico puro, conforme defende Gagliardi.
O que significa sobreviver a nós mesmos? Talvez ter uma postura aristocrática ou individualista perante a sociedade. Talvez reconhecer que a magnitude do trágico implica não cair em binarismo, e sim aceitar dois certos inconciliáveis que se anulam ou perguntas cujas respostas ficam vazias, conforme demarca Gagliardi:
“O trágico pessoano parece conter a mesma conclusão pela compaixão amarga que há em Pirandello, a mesma tendência ao paradoxo, à aporia da impossibilidade de compreensão, que é resultado justamente da busca consciente de compreensão. O sorriso pessoano desnuda uma problemática do ser, a nota trágica de sua existência, posto que foi, considerando-se bem, um recalcamento, ou o seu modo particular de chorar”.
Enfatizemos os termos “aporia” e paradoxo”, bem como as expressões “compaixão amarga”, “problemática do ser” e “nota trágica da existência”, pois fornecem sendas epistêmicas fundamentais para entender a argumentação de Fernando Pessoa Ironista e o sentimento de que tal atitude do autor português perante a vida empírica e literária produz um grito mudo aliado ao sorriso sibilino causado por aquela que é filha da dor e da inteligência, isto é, a ironia. Como não sentir a presença deste “niilismo irônico” pertinente à atitude literária de Fernando Pessoa e tão deflagradora de nosso momento presente, de identidades perdidas e verdades transitórias? Eis as cabeças de estrofe de “Tabacaria”: “Não sou nada. /Nunca serei nada./Não posso querer ser nada”; e de “Poema em linha reta”: “Nunca conheci quem tivesse levado porrada/ Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo”.
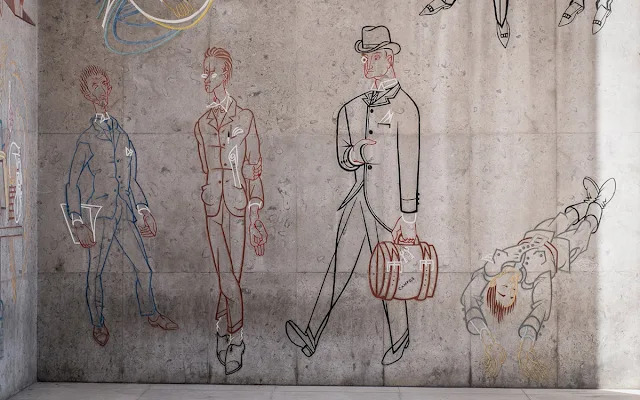
Durante a leitura de Fernando Pessoa Ironista, visualizamos as diferentes reivindicações à pluralidade manifestadas na poética de Fernando Pessoa, como visão existencial e destino literário. Esse sentimento funde-se ao individualismo aristocrático do homem superior, à proporção que se mistura à aporia, ao paradoxo, à problemática do ser, à nota trágica da existência. Nesse sentido, cabe destacar a leitura comparativa que Gagliardi promove entre o pensamento do filósofo francês Georges Palante, praticamente desconhecido entre nós, e a atitude poético-existencial de Fernando Pessoa, no subcapítulo “Pessoa e Palante”, presente em “A Sensibilidade Individualista de Pessoa”, como um dos momentos argumentativos mais sagazes do livro.
Gagliardi não apenas discute as complexidades da obra pessoana, mas também revela como a ironia — como método e energia vital — se revela um fio condutor capaz de atravessar as atitudes autorais, existenciais e editoriais do poeta. Por meio do “sorriso sibilino” e do niilismo irônico, Fernando Pessoa expõe as contradições do ser e do existir, oferecendo-nos uma poética que não busca respostas definitivas, mas celebra a inquietude, o desassossego e a multiplicidade como caminhos literários, os quais se fazem contundentes e necessários ao nosso presente. Caminhando pelas atitudes irônicas, portanto, o crítico literário reconhece que a ironia não é apenas uma estratégia formal; ela reflete, para além disso, uma visão lucidamente trágica e crítica do mundo.
Por fim, cabe acentuar que o novo estudo de Gagliardi não se limita a revisitar Fernando Pessoa. Para além disso, ele nos convida a refletir sobre a função da crítica e sobre a persistência da obra literária em dialogar com os dilemas mais urgentes da condição humana. Isso porque a atitude irônica fere, inquieta e provoca o mais humano dos sentimentos — a necessidade de buscar sentido naquilo que, talvez, jamais terá resposta.
Rodrigo Valverde Denubila é professor vinculado ao Núcleo de Teoria Literária e Literaturas de Língua Portuguesa (NUCLIT) do Instituto de Letras e Linguística (ILEEL) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
LEIA TAMBÉM: “O argonauta das sensações verdadeiras”, passagem do livro de Caio Gagliardi. O trecho compõe o epílogo da obra, no qual um versado leitor de Pessoa — “um certo Antônio” — apresenta análises reveladoras dos heterônimos do poeta.