por Fábio Nolasco
..
I
“… se no original eles [Gehalt und Sprache, teor e linguagem] fornecem certa unidade, como casca e fruto, na tradução, a língua recobre seu teor em amplas pregas, como um manto real. Pois ela significa uma língua superior a si mesma, permanecendo com isso inadequada a seu próprio teor — poderosa e estranha. Essa fratura impede qualquer transposição e, ao mesmo tempo, a torna dispensável. Pois cada tradução de uma obra representa, a partir de um determinado período da história da língua e relativamente a determinado aspecto de seu teor, tal período e tal aspecto em todas as outras línguas.” (Walter Benjamin, A tarefa do tradutor, in: Escritos sobre linguagem, Ed. 34, 2011, p. 111)
..
“… a tradução não se vê como a obra literária, mergulhada, por assim dizer, no interior da mata da linguagem, mas vê-se fora dela, diante dela e, sem penetrá-la, chama o original para que adentre aquele único lugar, no qual, a cada vez, o eco é capaz de reproduzir na própria língua a ressonância de uma obra da língua estrangeira.” (id., p. 112)
..

..
Esses trechos célebres de Walter Benjamin nos parecem extremamente pertinentes quando temos em vista a ingrata tarefa de traduzir Hegel, autor cujos textos impõem notórias e generalizadas barreiras à sua leitura, e isso já mesmo quando se trata de lê-lo em alemão. Muito embora no mais das vezes o alemão de Hegel seja na verdade bastante legível e fluido, quando porém transposto para línguas latinas é comum notar-se precisamente isso que descreve Walter Benjamin: “a língua [em que o texto é traduzido] recobre seu teor em amplas pregas, como um manto real.” Nisso, o ritmo ágil e extremamente preciso de Hegel, cujo modelo estilístico basal é mais Tucídides que Platão, acaba transfigurando-se no passo vertiginoso e maquínico duma marcha forçada de hipopótamos através do deserto. E quando temos em mãos textos de Hegel como a Enciclopédia das ciências filosóficas em seu traçado fundamental e em particular as Linhas fundamentais da filosofia do direito, que não foram finalizados enquanto obras literárias (como foi o caso da Fenomenologia do espírito e da Ciência da lógica), não passando de formulações crípticas a serem desdobradas e esclarecidas em sala de aula, então a situação é muito mais catastrófica. Estimo, portanto, que uma enorme parcela da má-fama estilística de Hegel provenha, em parte, do gigantesco processo de engorda e descaracterização que seus textos sofreram ao serem traduzidos, bem como da confusão facilmente evitável de se exigir que seus manuais de curso pudessem ser, sem mais, lidos como livros de filosofia como os demais.
Se tomamos como ponto de partida aquilo a que chama atenção Walter Benjamin, esse abismo intransponível entre a obra original e sua tradução, tão marcante em obras filosóficas tornadas clássicas e cada vez mais complexas por sua sobrevida, pode-se então entender em que medida se justifica não apenas a necessidade e a urgência, ou a utilidade, mas a essencialidade, em vista da tarefa, das notas do tradutor como as que Marcos Müller teceu para a sua tradução das Linhas fundamentais da filosofia do direito de Hegel. Tais notas — especialmente no caso de uma tradução por quatro décadas ponderada e refletida — não são, de fato, apenas notas explicativas, ou elucidações filológicas, técnicas, de caráter meramente doutrinais, as quais compõem o ofício do comentário. Simultaneamente mais e menos que isso, elas são elementos de mediação que permitem manter vivo o comércio entre o original (dissolvido em seu contexto) e a tradução (projetada em seu ambiente contemporâneo). As notas que Marcos teceu com esmero, assim, declinam da tarefa do comentário (a qual pressupõe o texto como lido, ou pelo menos como já de antemão legível) e assumem um papel um bocado mais fundamental: impõem-se como instrumentos a bem dizer incontornáveis, ou mesmo condições de possibilidade da leitura, entendida em sentido estrito. A cada momento em que se constata estar rompido o elo possível entre aquilo a que visava Hegel em seu tempo e aquilo que nossos conceitos hodiernos dão a ver — e essa constatação não decorre da mera subjetividade do tradutor, radicando-se, antes, em filões de debate historiograficamente mapeáveis — Marcos, em respeito à veneranda tarefa do tradutor,[1] nos sinaliza, com uma nota, que naquele ponto, quer o desejemos ou não, jaz uma Esfinge particular e muito concreta, que ora se pode decifrar, ora simplesmente nos devora.
..
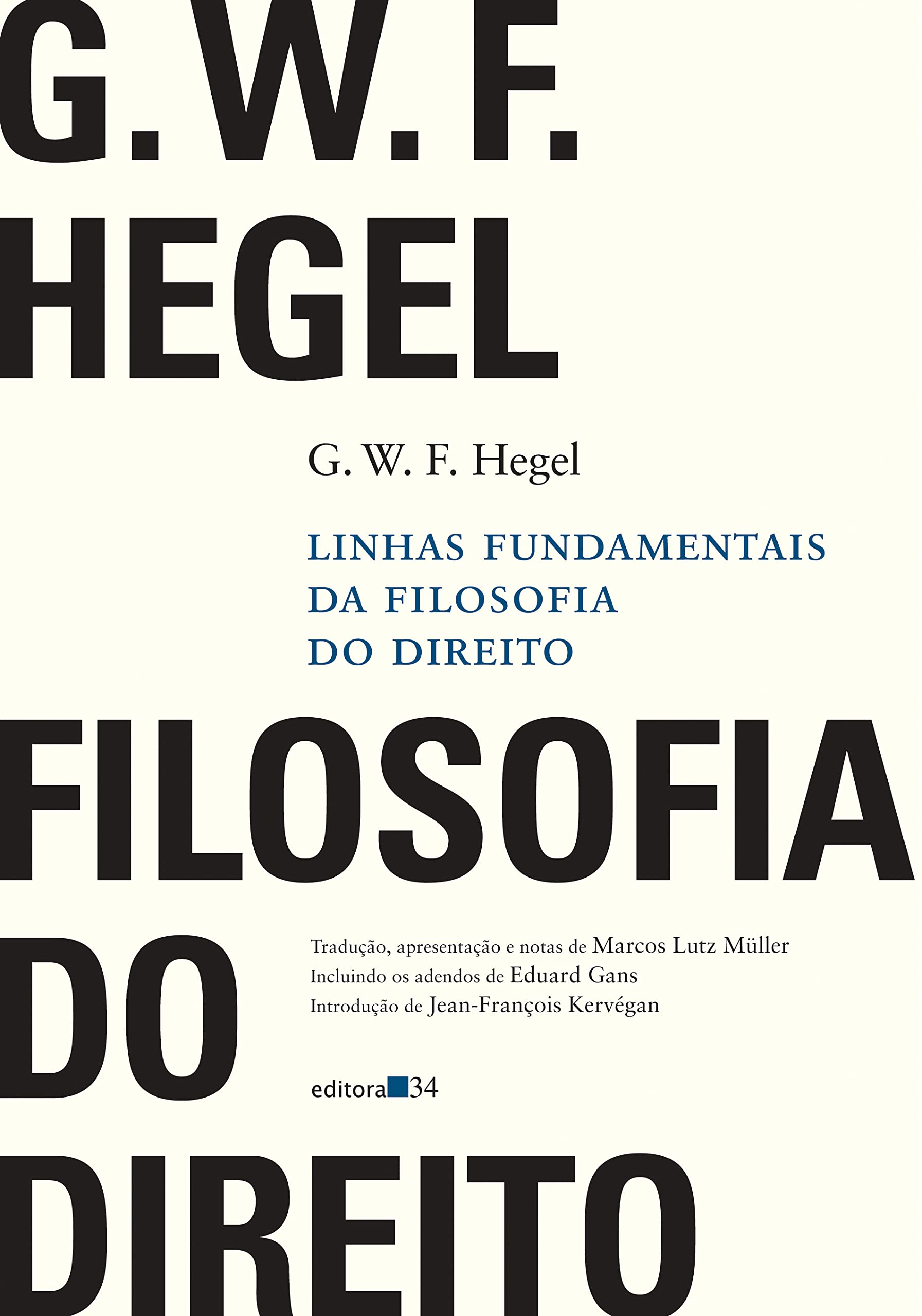
..
II
Mas como e por que Marcos Müller decidiu exercitar-se na tarefa do tradutor justamente com a Filosofia do direito? É conhecido que desde a década de 1840 Marx virou do avesso o constitucionalismo monarquista de Hegel a fim de assentar as bases de um conceito filosófico de democracia.[2] Desde muito cedo, portanto, esse ponto intenso do sistema hegeliano pareceu ter perdido parte importante de sua função dentro do horizonte crítico. No início do século passado, e de um ponto quase oposto a Marx no espectro crítico, Franz Rosenzweig retomou o confronto detalhado com o texto da Filosofia do direito, e com tal vigor, que pareceu não sobrar pedra sobre pedra daquilo que Hegel propusera. Para Cassirer e Kelsen, a obra não tratava de outra coisa senão de um mito do Estado. Lukács, Marcuse, Bloch, Adorno, por sua vez, embora fossem ingentes seus esforços em fomentar um renascimento da leitura da filosofia de Hegel, ao sintetizarem aspectos da crítica de Marx e de Rosenzweig também não pareceram alocar à Filosofia do direito qualquer papel relevante para seu contexto de crítica social, pois nela quase já não se podia encontrar sinais do núcleo racional da dialética, irremediavelmente submerso no invólucro ideológico.
No entanto, com a filosofia de Hegel, e especialmente com a Filosofia do direito, parece ter ocorrido algo análogo ao que se passou com a recepção filosófica do pensamento de Aristóteles. Nos primeiros dois séculos depois do falecimento do Estagirita, sua influência se disseminou através dos diálogos e demais obras de caráter “exotérico” que havia tornado públicas em vida. Apenas depois que Andrônico de Rhodes editara o corpus aristotelicum é que se teve maior e mais fácil acesso às obras “esotéricas” (acroamáticas), propriamente os manuais ou transcrições dos cursos sobre temas teóricos e científicos de maior envergadura, como p.ex. os textos que conhecemos pelo nome de Física e Metafísica, dentre vários outros; ao passo que os diálogos e obras populares de Aristóteles foram esquecidas, consequentemente perdidas, sem quase deixar rastros na história.[3] Analogamente, no caso de Hegel, cuja maior parte dos textos que publicou em vida não passavam de formulações que deviam ser explicadas em sala de aula, quando se pôde acessar algum tipo de registro do que era dito lá onde o texto podia de fato ser lido, de repente as frases crípticas e de sintaxe sincopada começaram a soar de outra forma, possibilitando outro tipo de leitura. Isso veio à tona de maneira explosiva nos debates fomentados por Ilting na década de 1970 acerca dos prováveis conflitos entre o que Hegel publicou (com certa dose de cuidado, de modo a não acirrar os ânimos do censor) e o que ele de fato ensinava. Tais debates marcaram toda uma geração de pesquisadores da filosofia de Hegel, a qual se formou à medida em que Walter Jaeschke ia publicando os principais volumes da edição histórico-crítica das obras e transcrições de curso de Hegel. Com isso, gradativamente a Filosofia do direito foi recolocada na ordem do dia, tal como se pode observar nos trabalhos de J.F. Kervégan e Marcos Müller, que se exercitaram na tradução do texto, ou de K. Vieweg, que a comentou magistralmente, bem como A. Honneth, que se propôs a tarefa de reatualizá-lo, porém prescindindo da pretensa metafísica da Ciência da lógica.
..
III
Todo este cenário nos auxilia a visualizar em algum grau as dificuldades que em geral se impunham não apenas à tradução, mas, diretamente, à leitura do texto da Filosofia do direito. Voltemos agora à pergunta feita acima: como e por que Marcos Müller decidiu exercitar-se na tarefa do tradutor justamente com o texto mais malafamado de Hegel? Em meados da década de 1960, Marcos Müller se graduou pela UFRGS simultaneamente em filosofia e direito. Mas não teve dúvidas acerca de sua vocação filosófica, muito embora a ditadura militar então instaurada cedo lhe tivesse cerrado as portas à perspectiva de uma carreira acadêmica no Brasil. À carreira na advocacia, Marcos preferiu o exílio. Tendo iniciado, na UFRGS, sob a orientação de Gerd Bornheim, seus estudos hegelianos pela Fenomenologia do espírito, em confronto com a interpretação heideggeriana do texto; e em seguida, em Heidelberg, sob orientação de Ernst Tugendhat, tendo desdobrado os termos do embate dialética/fenomenologia numa tese de doutoramento sobre o conceito de negação em Sartre — período em que se dedicou simultaneamente, sob a orientação de Michael Theunissen, a uma leitura intensiva do Capital — Marcos, no começo da sua atuação como docente, então de volta ao Brasil, na Unicamp, em 1978, concentra inicialmente seus esforços em detalhar uma leitura da obra máxima de Marx a partir dos parâmetros metodológicos da Ciência da lógica de Hegel. Nas primeiras páginas do célebre artigo sobre Exposição e método no Capital, publicado em 1982, encontramos bem distintamente a formulação do cerne de suas preocupações naquele período:
..
Quais os aspectos da diale?tica hegeliana da Cie?ncia da lo?gica que foram paradigma?ticos para o projeto marxiano de transformac?a?o materialista da diale?tica na reconstruc?a?o sistema?tica e cri?tica da economia poli?tica burguesa, apresentada em O Capital? Quais as transformac?o?es que o “caroc?o racional” da diale?tica hegeliana sofre na tentativa marxiana de desvincula?-la dos pressupostos idealistas da metafi?sica do conceito da Cie?ncia da lo?gica e de vira?-la materialistamente ao avesso, tornando-a, assim invertida, numa fonte de inteligibilidade das estruturas econo?micas da sociedade capitalista? Qual a importa?ncia do conceito hegeliano de “exposic?a?o” para o me?todo de O Capital e qual o sentido da retomada deste conceito numa diale?tica que se quer materialista?[4]
..
Marcos empenhou-se portanto, num primeiro momento, como vários de sua geração depois das indicações de Adorno e Rosdolsky, a traçar características em comum e tensões entre a Ciência da lógica e o Capital. Desse notável esforço, que marcou toda uma época, surgiu, como já é bem conhecido, uma notável re-leitura da obra principal de Marx (chamada Marx-Lektüre). No que concerne à Lógica de Hegel, porém, ela foi ali apenas de fato inaugurada enquanto objeto de pesquisa séria e compartilhada, de modo que os primeiros frutos dessa inauguração apenas hoje é que se dão a ver em plena maturidade na considerável febre recente de monumentais comentários sobre a Lógica (Pippin, Houlgate, Stekeler).
No entanto, Marcos percebeu cedo os grandes riscos que surgiam no caminho dessa releitura de Marx pelo viés da leitura da Lógica de Hegel ainda engatinhando. O risco principal eram as tendências que apontavam rumo a uma certa rarefação do teor histórico-materialista do método dialético, que então foi, de um lado, dissolvido semanticamente e, de outro, enrijecido dogmaticamente. Certamente, Marcos não percebeu isso sozinho. Paulo Arantes, em Ressentimento da dialética, publicado em 1996 mas reunindo textos produzidos de 1975 a 1983, aborda o contexto literário amplo, as origens profundas do drama intelectual alemão (a “miséria” alemã), e nos dá assim provas notáveis das raízes “populares” da dialética moderna — enquanto ressentimento organizador-produtivo em face do atraso. Percorreu-se assim o panorama literário-historiográfico-político-econômico das patologias, tão recorrentes e análogas, da figura do intelectual periférico, “fora de lugar” na Alemanha, na Rússia, na Itália e no Brasil.
Em face do risco representado pela correlação entre dissolução semântica e enrijecimento dogmático do teor histórico-materialista da dialética (e suas raízes populares), Paulo recorreu à crítica literária, a Antonio Candido, a Roberto Schwarz, dando assim vida nova a certas intuições profundas de Gramsci e Walter Benjamin. Marcos Müller, por outro lado, traçou um outro caminho no sentido de dar forma e figura concreta às afinidades científico-metodológicas compartilhadas por Hegel e Marx, um outro caminho, que, porém, não está nem oposto, tampouco estritamente em consonância, com o percurso crítico do professor da USP. Esse caminho passava pela retomada da Filosofia do direito. A meu ver, essas duas respostas críticas à leitura lógica de Marx das décadas de 1970 e 1980 dão testemunho, precisamente com suas dissonâncias e polifonias ad limine convergentes e complementares, da amplitude e profundidade dessa constelação particular dessa que vejo como a segunda fase da recepção da obra de Hegel e Marx no Brasil, a qual conecta Henrique Lima Vaz, Ruy Fausto, Paulo Arantes e Marcos Müller.
A tarefa que Marcos se colocou, em particular, foi dupla: recuperar a Filosofia do Direito como termo médio dessa relação entre Lógica e Capital, e, consequentemente, refundar uma leitura da Ciência da lógica à altura do materialismo histórico. Vejamos a seguir, num passeio pelas notas da novíssima tradução da Filosofia do direito, alguns aspectos teóricos importantes da configuração dessa tarefa.
..

..
IV
No calor do entusiasmo inicial com a Revolução francesa nas letras alemãs, alimentado em especial por Kant e sua Paz Perpétua, Fichte, Schelling e Fr. Schlegel publicam em 1796 três textos de suma importância, os quais dão ensejo a vigoroso debate em torno da ideia platônica da Politeia: Fundamento do direito natural, Nova dedução do direito natural e Tentativa sobre o conceito do republicanismo. É precisamente contra esses três textos que Hegel reage no Sobre as formas de tratamento científico do direito natural, sua posição na filosofia prática e sua relação com as ciências jurídicas positivas (1803), bem como nas anotações privadas coligidas sob o título de Systementwürfe. Hegel reage sobretudo contra a superficialidade filosófica dessas tentativas da escola transcendental. Elas não dão nenhum sinal de um conhecimento minimamente detalhado do debate corrente em torno do direito natural, da ciência jurídica existente (positiva), e da ciência do Estado em especial, e não passam, assim, de palpites especulativos mais ou menos bem fundamentados lançados sobre o tema, mas de fora dele. Hegel está tão certo de si ao apontar tais déficit não porque detenha ele sozinho uma intuição intelectual mais profunda dos fatos: são os próprios fatos que o atestam.
A bibliografia de que Hegel faz uso nessa época para denunciar as sutilezas da filosofia política do partido transcendental/romântico nos dá alguns indícios interessantes: além de Smith, Steuart e Gibbon, leituras do período de Berna e Frankfurt, agora Hegel faz alusão a Herder e a questão da linguagem, a Justus Möser e a questão da alienação dos direitos dos camponeses, a Fr. Karl von Moser e a crítica ao militarismo prussiano. A Staatswissenschaft superdesenvolvida nos altos círculos da burocracia de Stuttgart (vale a pena mencionar ainda Johann Jakob von Moser), cujo conhecimento Hegel deve certamente a seu pai, que havia sido advogado importante da administração pública de Württenberg, dá a Hegel balizas historiográficas e técnicas, positivas, importantes contra os assaltos e aventuras dos românticos. Ela abre-lhe o caminho às doutrinas do direito natural e dos povos do século XVII, às elaborações políticas de Bodin e Maquiavel, mas particularmente à história positiva de todo o esforço alemão pela constituição de uma burocracia jurídico-política esclarecida, modernizante e racionalista, que ainda guardava seus vínculos de classe originários, i.e., que ainda se reportava à irrupção da urgência de reconstituição do Estado e das leis, desde as Guerras Camponesas do século XV até a Guerra dos 30 Anos no XVII, e isso contra a aristocracia e seus privilégios feudais.
Mas em 1803 tudo aquilo não passava de um projeto de um jovem professor de filosofia de trinta e poucos anos. Quinze anos depois — intervalo em que a Alemanha foi invadida por Napoleão e em seguida recuperada pelo nacionalismo prussiano — o cenário em que Hegel publica a sua Filosofia do direito é um bocado diverso. Schelling e Fr. Schlegel, que antes tentaram fundar o rousseauísmo dentro do quadro da filosofia transcendental, agora renegaram sem nenhum remorso suas aspirações juvenil-republicanas e se fizeram apologetas de primeira hora da Restauração, da monarquia absolutista e do fundamento nacional-religioso, sagrado, da soberania estatal. Por outro lado, outra força político-ideológica se levantava, o partido capitaneado por J. F. Fries, que também pretende partir de Kant, mas, contra o platonismo de Fichte e dos românticos, propõe levar adiante o projeto transcendental via Hobbes e Aristóteles. Os friesianos formavam uma pasta mole ideológica, uma Wortsalat nacionalista, antissemita, e no entanto autodeclararada liberal e progressista, que fazia muito barulho e aparente oposição à Restauração, mas na verdade apenas impunha mais obstáculos, demagógicos, ao caminho cada vez mais estreito e descendente dos burocratas esclarecidos/reformistas. Foi dessa pasta mole ideológica friesiana que surgiram tipos como Ludwig Börne — ao qual Heinrich Heine dedicara enorme atenção satírica —, que deram vida à inação, errância e descompasso tão característicos da atuação político partidária da burguesia nas tratativas parlamentares de 1848-51 em torno da constituição da Alemanha.
Vemos assim que a antinomia na qual se equilibrava magistralmente a teoria kantiana da Paz perpétua — a saber, entre o contrato social de Rousseau e o contrato individual de Hobbes — desdobrou-se nas primeiras décadas do século XIX em dois extremos, fortemente opostos, mas complementares enquanto duas faces da nascente ideologia do nacionalismo alemão: o rousseauísmo demonstrado transcendentalmente de Fichte e sua teoria do Estado fechado, de um lado, e o hobbesianismo bem analisado e posto em consonância com a pretensa raiz aristotélica do sistema kantiano, de outro, tal como professado por Fries e sua teoria do Estado aberto (leia-se, aberto exclusivamente para os cristãos), de outro. Se Fichte e os românticos deduziam a realidade do direito natural a partir do entusiasmo, e com isso tinham em mente boas intenções como Selbstbewusstsein durch Freiheit (autoconsciência mediante a liberdade), de reconhecível teor anticolonial[5]; Fries agora se reencontra com as raízes da nação alemã no sentimento do sangue e do solo, na positividade do direito e da propriedade, na ânsia por expansão colonial — visto que entende Selbstbewusstsein como Selbstbeherrschung (autoconsciência como autodominação), mediada pela Beherrschung des Anderen (dominação do outro).
Nesse conjunto ideológico conflituoso Hegel não vê nenhum sinal de um conhecimento minimamente detalhado do debate corrente em torno do direito natural, da ciência jurídica e da ciência do Estado em especial. Hegel se julga capaz de levar essa antinomia kantiana ao seu fundo na medida em que mostra que ambos os seus extremos não apenas se opõem um em face do outro, mas se contradizem internamente. Para Hegel, Hobbes e Rousseau fundaram suas respectivas teorias do contratualismo sem a devida investigação de suas mediações teóricas e históricas. O primeiro investiga os princípios materiais dos contratos, seus hypokeimenoi fundamentais, seus átomos políticos e suas leis cinéticas. O segundo descreve a essência e os princípios formais e teleológicos dos contratos. Alterna-se, porém, simplesmente, entre o aspecto material e eficiente do conceito de princípio e causa, de um lado, e seu aspecto formal e final, de outro. Em ambos os casos falta, todavia, uma visão de conjunto acerca dessa quadrúplice plurivocidade do par princípio/causa. Se se parte do indivíduo (singular abstrato) ou da vontade geral (universal abstrato) — em ambos os casos um conceito que sozinho se contradiz —, então disso se pode concluir o que quer que seja, algo que na filosofia política significa: desemboca-se em ambos os casos no mesmo beco sem saída ou abismo. Hobbes preenche tal abismo com o fato cru da soberania militar absolutista (é a unidade do representante que dá unidade ao corpo dos representados) e Rousseau, com o ideal do Legislador (que intui e traduz os termos da unidade do corpo político). Em ambos os casos a pesquisa pára onde devia ter começado: quais são os institutos particulares que dão carne e osso, forma e figura particular à relação entre os extremos abstratos (singular/universal; soberania/legislação)? Qual é a lógica própria, qual é a morfologia que tais institutos apresentam?
Hegel não responderá a tais perguntas mergulhando-se na catedral gótica de sua imaginação. As respostas buscadas já estão por assim dizer dadas e acessíveis em longeva tradição de pensamento historiográfico-jurídico-político-diplomático, que encontra em Maquiavel seu mais brilhante epígono renascentista, e que teve longa e documentada reprodução na Alemanha, especialmente em Stuttgart, onde atuara o pai de Hegel, mas também em Trier, onde atuara o pai de K. Marx. Ocorre que o militarismo instaurado por Frederico II, que colocava o Exército acima dos burocratas esclarecidos e, nos postos mais elevados do Exército, os filhos da aristocracia que então agonizava, impôs derrotas significativas a tal processo de modernização burocrática esclarecida iniciado no século anterior, abrindo espaço para que a modernização passasse a ser presidida pelo alto, i.e., pela força militar e, no limite, pelos filhos da aristocracia.[6]
Colocadas diante desse amplo e profundo pano de fundo técnico-positivo, as propostas filosóficas de Hobbes, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Fr. Schlegel e Fries ganham por assim dizer sentido e significado, fazendo-se facilmente nítidas em cada caso as tendências excêntricas, centrífugas, a operarem nessas filosofias políticas, no sentido de tendências de fuga em face do objeto. E o objeto não é, em sentido abstrato, os indivíduos, ou a vontade geral, tomados separadamente, mas, para Hegel, a lógica e a morfologia das configurações particulares da relação dos indivíduos singulares com os corpos coletivos em que co-habitam. É, portanto, nesse abismo, nessa falta de mediação e passagem presente tanto em Hobbes quanto em Rousseau, e que tornará mancas as tentativas políticas de Kant, Fichte e Fries; é nesse abismo que Hegel encontrará a sua América: o conceito e a lógica da eticidade (Sittlichkeit), i.e., dos circuitos institucionais de articulação representativa da opinião pública no direito abstrato, moralidade, família, sociedade civil, Estado, história mundial.
Essa atenção cuidadosa aos fatos, às circunstâncias e prioridades do objeto e ao status quaestionis de sua discussão científica permitem que a filosofia política de Hegel venha dar especial atenção às categorias e estruturas da sociedade civil, em particular às corporações e aos institutos “orgânicos” em que Hegel pretende basear a sua teoria da representação político-social, estamental/corporativa. O processo de formação da consciência social do conjunto dos servos/escravos (Knechte), correlato à decadência do sistema feudal, consolidou a influência das guildas e corporações de ofício nas sociedades em vias de se modernizarem. A potência configuradora da experiência feita pela consciência servil, que Hegel chama de a experiência da nadificação determinada da sua força de trabalho, dá forma a tais institutos, à oficina, à guilda, à comuna municipal e destas à corporação, cuja função é sobretudo impor freios à liberdade voraz do mercado e da política dos senhores e garantir as condições mínimas de trabalho e sobrevivência de comunidades e grupos de trabalhadores qualificados e organizados. A pesquisa acerca da corporação, de sua história natural, mas também de sua lógica propriamente moderna — que a emancipa da guilda e da municipalidade e anuncia o conceito do sindicato e da classe — nos dá a ver de maneira concreta a maneira particular e condicionada com que, em cada caso, se fez a mediação das relações conflituosas entre os indivíduos considerados como muitos, a sua particularização concreta decorrente da divisão social do trabalho e a sociedade considerada como totalidade.[7]
É dessa visada mais próxima ao contexto de surgimento e à lógica das corporações — o que engloba desde as lutas camponesas na Alemanha até a dos africanos escravizados na América —, que Hegel desdobrará os traços fundamentais de sua teoria da representação estamental/corporativa enquanto crítica ao conceito de representação abstrato, burguês, da filosofia política moderna. Este é um ponto polêmico ao extremo, pois a primeira impressão é que Hegel se distancia do ideário republicano-democrático ao excluir a possibilidade de um voto por cabeça. Mas a proposta de Hegel não é, de maneira alguma abolir ou suspender ou obstaculizar a representação política inaugurada na modernidade, bem como o poder constituinte do parlamento de impor barreiras à soberania dos poderosos. Ao contrário, Hegel está em busca do reconhecimento dos traços concretos e efetivos em que essa luta por reconhecimento/representação vem se desdobrando ao longo da história, em particular nas sociedades em pleno desenvolvimento desde o Renascimento e a Reforma. Hegel pretende noticiar e mapear o emaranhamento recíproco entre representação política e representação social, a fim de determinar com precisão os horizontes de atuação capazes de desdobrar e efetivar o conceito da representação política moderna.[8] E se nos lembrarmos de que a experiência mais promissora dos anos conturbados de 1918-21 na Alemanha não ocorreu de fato no Parlamento, mas nos conselhos de trabalhadores[9]; ou se nos lembramos de que na história recente do Brasil a única conquista ou configuração política expressiva de nossa autoconsciência social se deu precisamente mediante um emaranhamento entre o partido e o sindicato; então não é difícil concluir que Hegel estava apontando num sentido deveras pertinente: não apenas à ideia da representação política, mas aos traços históricos de sua efetivação.
..
V
Teríamos, porém, ainda algumas mediações a percorrer desde o conceito filosófico e moderno da corporação hegeliana (e sua conjugação de co-dependência e referência recíproca com o funcionalismo público esclarecido) até os sindicatos, os conselhos dos trabalhadores e os partidos políticos com lastro social — mas este percurso extrapola em muito os limites deste ensaio. Que seja notado apenas, como atalho para a conclusão, que desde a Revolução de Julho de 1830 e com o acirramento da Restauração na Alemanha, o militarismo de corte fredericiano se impôs definitivamente, bloqueando todo e qualquer horizonte de desenvolvimento ao projeto reformista cujo arco vai do Esclarecimento suábio até W. von Humboldt. Ficou claro, assim, para a geração de Gans e Marx, que o projeto burguês-jusnaturalista de reforma e modernização do Estado perdera completamente seu lastro e seu sentido, visto que, então, a classe burguesa estava claramente em vias de cortar suas raízes históricas, que ligavam seu projeto à modernização desencadeada pelas Guerras camponesas, e se aliar inteiramente ao projeto estatal-militarista presidido pela aristocracia. Cansada da tarefa de substituir e transformar a aristocracia, a burguesia em vias de se descobrir capitalista quis, então, se tornar a aristocracia, e consequentemente renovar o projeto de expropriação dos camponeses/proletários. O romance de Lampedusa documentará magistralmente essa “traição” (ou destino) de classe.
O jovem K. Marx, ao se debruçar sobre a Filosofia do direito de Hegel, não via, portanto, alternativa senão o parricídio — que é triplo: em referência ao próprio pai, que dedicara toda a carreira ao projeto da reforma esclarecida do funcionalismo público em Trier; em referência a Hegel, que dera formulação filosófica definitiva ao projeto; enfim, em referência ao pai de Hegel e todo o berço suábio em que se fomentou a ideia do burocrata-cidadão. Com a fórmula “a corporação é a burocracia da sociedade civil; a burocracia é a corporação do Estado”[10], Marx deixa bem claro que os burocratas esclarecidos infelizmente apenas facilitavam o caminho ao militarismo burguês-aristocrata (ergo capitalista) que inevitavelmente grassará pelo XIX afora, incrementando o colonialismo, o imperialismo e a disciplinarização da sociedade europeia. Reforma burguesa e militarização não engendram, segundo tal perspectiva, contradição alguma, mas complementaridade, e serão vistas (o que alcançará a sua formulação teórica adequada apenas no Capital) como a sístole e a diástole mediante as quais o capitalismo ganha “vida”, i.e., consolida sua estranha forma de subjetividade vampiresca e sua articulação estruturalmente excludente da sociedade.
Por mais acertada que tenha sido, no calor do momento, essa crítica de Marx à Filosofia do direito de Hegel, ela, no entanto, se embolava um certo tanto nos argumentos de que lançava mão para se justificar. É conhecido que Marx, nessa crítica, e no lastro da crítica de Feuerbach à Lógica de Hegel, aponta que Hegel estivera destinado, na Filosofia do direito, a tecer menos a crítica e mais a apologia das instituições burguesas que pariam o capitalismo como forma excludente de socialização, e isso em virtude do fato de que a Ciência da lógica já teria, predeterminadamente, enquanto método, demarcado o terreno a ser pesquisado na Ciência do Estado. Era a estrutura metafísica (mística, nos termos de Marx) da Lógica que tornava Hegel cego ao sentido efetivo das reformas burguesas do Estado. Em vista do que foi dito acima, porém, é fácil refutar esse argumento, pois vimos que o lastro concreto das teses jurídico-políticas elaboradas por Hegel na Filosofia do direito não era, fundamentalmente, a Lógica, mas o saber positivo, técnico-jurídico, acumulado na história da modernização burguesa da Alemanha desde o Tratado da Westphalia até a queda do Sacrossanto Império Romano-Germânico. Isso nos permite inverter um pouco as coisas, e aventar a ideia de que a Lógica não predetermina, como estrutura metafísica ou ontológica, a pesquisa concreta a ser feita nos dois campos da filosofia real (natureza e cultura), mas na verdade dela resulta, como formulação metodológica retroativa. E essa formulação metodológica retroativa, por sua vez, retroage sobre a pesquisa concreta em vias de se realizar, dando-lhe forma científica de apresentação, num processo efetivamente dialético, de causação circular.
Mas isso o jovem Marx ainda não vislumbrava. Apenas a partir da década de 1850, como documentam os Grundrisse, é que, embrenhando-se na crítica da economia política positiva tal como Hegel a seu tempo na crítica da ciência jurídica, Marx se viu diante da tarefa da reflexão metodológica acerca da exposição científica do material trabalhado. Redescobriu, aí, a Ciência da lógica de Hegel. Não que isso alterasse radicalmente o diagnóstico traçado na década de 1840. Tratava-se, antes, de elaborar os parâmetros metodológicos que possibilitavam a exposição e, por consequência, a justificação científica, adequadas ao objeto que as novas manifestações histórico-sociais trouxeram à superfície de maneira tão marcante. De todo modo, lidava-se aqui com uma visão sobre a Ciência da lógica qualitativamente diferente, que já superara o enquadramento da crítica feuerbachiana, a qual relegara o coração especulativo da doutrina dialética de Hegel ao campo da mística e da metafísica pré-críticas. Lênin, ao que tudo indica, foi dos primeiros a traçar o projeto de uma leitura do Capital de Marx baseada no estudo da Lógica de Hegel, e não resta dúvida de que o arejamento na filosofia marxista operado pelo livro seminal de Lukács, História e consciência de classe, também se animou desse projeto. No entanto, e certamente por influência de Heidegger, ainda pairou por muito tempo certo tipo de veto sobre a Ciência da lógica, que encontra seus ecos mais estridentes nas reações do pós-estruturalismo francês em face de Hegel. Ora, esse veto caiu, como disse, à medida em que a edição histórico-crítica das obras e cursos de Hegel foi lançando seus volumes ao longo das últimas três décadas.
Com isso podemos voltar ao ponto de partida e enfim concluir este ensaio. Marcos Müller fez sua formação filosófica, como vimos, no lastro da reinauguração da leitura da Lógica desencadeada muito mais intensa e amplamente na Alemanha (com Henrich, Theunissen, Fulda, Reichelt, Jaeschke, Hösle, Hortsmann, Arndt, Vieweg, Iber et al.) que na França e no Brasil (com Lebrun, Arantes, Labarrière, Bourgeois, Kervégan et al.).[11] Considerar a Lógica não mais como o suporte místico, mas como norma metodológica que ao mesmo tempo precede à, e resulta da, pesquisa desdobrada nos dois campos da filosofia real, isso tem de alterar qualitativamente a representação que se fez, ao longo do século XIX, não apenas da Lógica, mas também das doutrinas hegelianas da Natureza e da História. Mas, nisso, não se tem em vista a tarefa (ingrata e impossível) de simplesmente defender Hegel contra seus detratores e assim restituir o “autêntico” Hegel. Antes, o que se desdobrou foi um processo de busca pelas razões de Hegel, todavia no intuito de fazê-las servir ao conhecimento mais complexo e aprofundado das razões de seus críticos, em especial Marx, mas também Schelling, Trendelenburg, Lukács, Walter Benjamin, Adorno, Althusser e tantos outros e outras.
Essa mudança de perspectiva interpretativa, desdobrada em detalhe nas notas de Marcos Müller, nos permite reconhecer, p.ex., que o estrondoso sucesso de Marx e Engels em suas análises de conjuntura histórico-política dos fatos ocorridos entre 1848-51, dispostas no 18 Brumário de Luís Bonaparte e no Revolucão e Contra-revolução na Alemanha (como também, ampliando-se a escala histórica, no texto de Engels sobre As guerras camponeses na Alemanha publicado em 1850), há de ser explicado não apesar, mas justamente em virtude da Filosofia do direito de Hegel, i.e., em decorrência não do abandono, mas do confronto crítico imanente com o método e os resultados da análise de conjuntura hegeliana, contrapostos aos fatos contemporâneos. Embora Hegel tenha, em seu diagnóstico crítico, projetado as linhas fundamentais de um projeto de (re)constituição do Estado que, apesar de razoavelmente bem lastreado institucional e socialmente, definitivamente não vingou — posto que o processo de constituição nacional da Alemanha ao longo da segunda metade do XIX realizou exatamente o contrário do que Hegel projetara, em particular no que concerne à prevalência do militarismo fredericiano e, consequentemente, ao papel estritamente tecnocrático da burocracia, fatores cuja conjugação facilitaram o percurso rumo à catástrofe alemã na primeira metade do século XX —, sua descrição dos processos sócio-políticos efetivos não estava restrita ao enquadramento ideológico em que eram apresentados. O efetivo (“das, was wirklich ist”), em Hegel, não equivale simplesmente ao real ou ao existente, à mera presença instantânea do caso (“das, was der Fall ist”).[12] Por isso é o efetivo a quem cabe, com justiça, e não ao meramente existente, o predicado de: racional. Para aquilo que é efetivo (na natureza e na história) não há, em sentido estrito, salto algum, pois mesmo as revoluções (naturais ou históricas) têm certamente as suas causas, as quais poderiam não ser especialmente determinantes num instante anterior a certo fato inteiramente contingencial, no entanto passam a sê-lo em decorrência das alterações desencadeadas por tal fato. Hegel mantêm, assim — inspirando-se na conciliação proposta por A. von Humboldt para a querela geológica entre netunismo e vulcanismo — o império do princípio de razão e da necessidade, sem abrir mão da influência disruptiva das contingências.
Voltando ao ponto: disso podemos concluir que o efetivo diagnosticado por Hegel em 1821 não deixa inteiramente de sê-lo mesmo quando as revoluções de 1848-51 dão um banho de água fria — de duração secular, até pelo menos os projetos de Estado de bem-estar social do pós-guerra — nos projetos reformistas da burocracia efetivamente esclarecida e lastreada socialmente. E esse efetivo apenas ganha em determinidade com os ajustes de análise desenvolvidos por Marx. Ao enveredar-se por esse filão, a pesquisa de Marcos Müller sobre a triangulação entre Filosofia do direito, Capital e Ciência da lógica nos fornece um aparato teórico capaz de aprofundar e precisar enormemente o conhecimento acerca da sobrevida da dialética, dessa sua característica plástica, sua capacidade de se metamorfosear segundo os condicionamentos efetivos do objeto, sem perder seu gume. A (re)inserção da Filosofia do direito como termo-médio da relação, tão ardentemente buscada na década de 1980, entre o Capital e a Ciência da lógica, retroage, portanto, ampliando-o, sobre o horizonte de compreensão dos termos extremos relacionados, de modo que nem o termo-médio, tampouco os extremos da relação, são os mesmos que se tinha sob os olhos há quatro décadas atrás.
..
VI
Mas por que reativar essa triangulação, tão particular à conjuntura do século XIX? Ora, a sobrevida da dialética, enquanto metodologia de pesquisa e exposição, não é outra coisa senão o reflexo crítico-teórico — e a projeção de uma estratégia de resistência — em face da pervivência das categorias e instituições do militarismo e da tecnocracia burocrática, eixos-motores do imperialismo e colonialismo europeus do XIX, contra os quais Hegel e Marx, cada um à sua maneira dialética, combateram, mas ainda os eixos motores das nossas sociedades contemporâneas capitalistas. Sem dúvida, militarismo, tecnocracia, imperialismo e colonialismo têm hoje traços característicos bem distintos dos que tinham no XIX, vindo a alcançar concretude muito mais ubíqua e quase global. E se Hegel e Marx, segundo Walter Benjamin, estavam longe de poder entender o que viria ser o fenômeno da cultura de massas, hoje podemos observar que Walter Benjamin por sua vez nunca poderia sequer vislumbrar a engenharia informacional das massas operadas pelas mídias sociais, apps e guerras híbridas.
Marcos Müller, em suas notas, não trata desses assuntos. Seu foco está nas instituições jurídico-estatais e sua efetividade, precisamente a efetividade posta em cheque pelo movimento des-instituinte, des-constituinte, que se desdobra hoje à luz do dia (e não apenas no Brasil) e em particular através do violentamento ideológico da novíssima maquinaria de desinformação das massas. Ao fornecer as mediações através das quais podemos compreender os conceitos hegelianos de eticidade, sistema das carências, corporação, idealidade da soberania e Estado-social, Marcos torna mais nítidos e precisos os nexos conceituais e históricos da institucionalidade que, se nunca de fato as tivemos efetivas, estamos agora em vias de perder definitivamente. Em péssima hora! Pois os desafios do aquecimento global, da epidemia de Covid-19, do autoritarismo e militarismo em ascensão, e demais bestas do Apocalipse, tornam absolutamente imprescindíveis — literalmente questão de vida ou morte — a vigência e a facticidade dessa rede institucional de proteção e projeção que só o Estado lastreado democraticamente, i.e., efetivo, pode suster.
..

..
..
Agradeço a Érick Lima e Emmanuel Nakamura, pelas sugestões e críticas a este esboço, bem como a Eduardo Wolf, pela mediação junto ao Estado da Arte.
..
Notas:
[1] Hoje talvez mais que nunca tão vilipendiada, quando se fazem cada vez mais frequentes, e placidamente aceitas como normais, versões a várias mãos em geral inábeis, finalizadas em meia dúzia de meses justamente porque se desconhece por completo a natureza da tarefa; ou, o que tão ruim quanto, versões realizadas por algoritmos disponíveis em plataformas digitais.
[2] Cf. Müller, M. L., A Democracia em Marx: o contexto do surgimento e a ambivalência do conceito, in: Revista Eletrônica Estudos Hegelianos, v. 15, nº 26, 2018, pp. 1-25.
[3] Cf. Reiner, H. O surgimento e o significado original do nome Metafísica, in: Zingano, M. (ed.), Sobre a metafísica de Aristóteles: textos selecionados, São Paulo: Odysseus, 2009, p. 93-122
[4] Müller, M. L., Exposição e método dialético em ‘O Capital’, in: Boletim SEAF, nº 2, 1982, p. 18
[5] Müller, M. L., Paz Perpétua ou Tribunal do Mundo: a aporia jusnaturalista da saída do estado de natureza inter-estatal, in: Revista Eletrônica Estudos Hegelianos, vol. 10, nº 18, 2013, pp. 17-40; e também Kohei Saito, Beyond Recognition in Capitalism: From Violence and Caprice to Recognition and Solidarity, in Buchwalter, A. (ed.), Hegel and capitalism, Suny Press, Nova York, 2015, pp. 35-52.
[6] Cf. Franz Mehring, Die Lessing-Legende: Zur Geschchte und Kritik des Preußischen Despotismus um der klassischen Literatur, Stuttgart, s.n., 1906 / Dietz Verlag, Berlin, 2013.
[7] Cf. Marcos Müller, Nota 444 (FD, 2022, p. 523sq) e também a Nota 445, onde encontramos a importante ressalva: “Mesmo se na Alemanha autores importantes e, sobretudo, o Allgemeines Landrecht, avaliavam positivamente as corporações, os reformadores prussianos vão atribuir muitas de suas funções à polícia administrativa em sua gestão centralizada do processo econômico, enquanto que para Hegel elas têm uma independência na gestão do seu respectivo patrimônio comum e na admissão dos seus membros, que será importante para a descentralização e a articulação interna do Estado em ‘círculos particulares’.” (ibid., p. 526)
[8] Cf. Marcos Müller, A Liberdade Absoluta entre a Crítica à Representação e o Terror, in: Revista Eletrônica de Estudos Hegelianos, v. Ano 5, 2008, pp. 75-99; bem como a Nota 535 (FD, 2002, p. 634sq). Verrah Chamma vem se dedicando com afinco à pesquisa do conceito hegeliano de representação: “Atualizando Hegel: representação corporativa e associativismo civil”, in: Alex Sandro Calheiros de Moura, Gilberto Tedeia, Maria Cecília Pedreira de Almeida (orgs.), Filosofia, política & engajamento, Alameda, São Paulo, 2018, pp. 93-120.
[9] Cf. Isabel Loureiro, A revolução alemã de 1918-23, Editora Unesp, São Paulo, 2020, pp. 77-89.
[10] Marx, K., Crítica da filosofia do direito de Hegel, Boitempo, São Paulo, 2005, p. 64, citado por Marcos Müller na nota 520 de sua tradução (FD, 2022, p. 616).
[11] No horizonte anglo-saxão a Ciência da lógica é uma novidade praticamente restrita ao século XXI.
[12] Sobre a polêmica asserção de Hegel, no Prefácio da Filosofia do direito (“O que é racional, isso é efetivo; e o que é efetivo, isso é racional”, cf.: Apresentação (FD, 2022, p. 19 sq.); Nota 28 (ibid., p. 138 sq.), de Marcos Müller; bem como a Introdução (ibid., p. 40 sq.), de J.-P. Kervégan.
..
..




