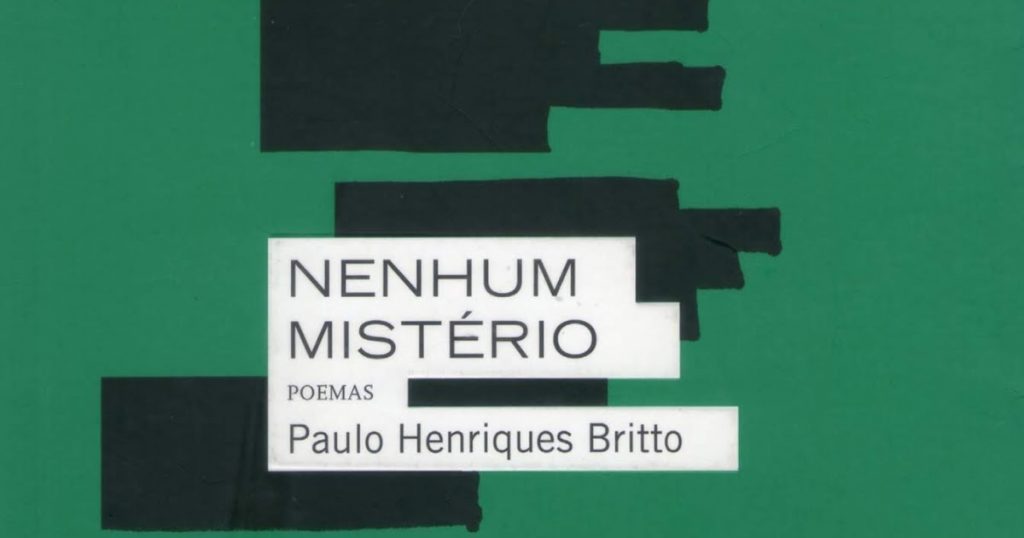
por Cláudio Ribeiro
Em um discurso proferido na cidade de Munique, em 1976, Elias Canetti disse que ao poeta, digno do nome, cabia a tarefa de ser o “guardião das metamorfoses”. Com isso, o autor de Auto-de-fé queria dizer duas coisas: 1) o poeta guarnece as metamorfoses no sentido ovidiano; se apropria da herança literária da humanidade; articula tradição e ruptura, formas e temas. 2) Num mundo que exige de nós alta produtividade, disponibilidade full time, aperfeiçoamento em sentido meramente funcional, num mundo em que aquisição de conhecimento significa, em primeiro lugar, possibilidade de aplicação técnica, neste mundo, é o poeta quem deve manter abertas as vias de acesso entre os homens, é ele quem tem a possibilidade de se transformar em qualquer um. Isto porque é ele quem tem de “criar mais e mais espaço dentro de si próprio para o saber, que ele não adquire em função de quaisquer objetivos reconhecíveis, e espaço para os seres humanos, que vivencia e assume por meio da metamorfose”.
Desde esse ponto de vista, Paulo Henriques Britto é, sem dúvida, um desses guardiões. E dos melhores em atividade.
Nenhum mistério, publicado há poucos meses pela editora Companhia das Letras (que também publicou os outros títulos do autor), é o sétimo livro de poesias de Britto. O título Nenhum mistério alude ao verso “The art of losing isn’t hard to master”, do poema “One Art”, de Elizabeth Bishop. Na tradução do próprio Britto: “A arte de perder não é nenhum mistério”. Mas, no livro do poeta, a expressão “nenhum mistério” acaba assumindo uma ambiguidade fundamental: primeiro, indica aquilo que a tradução de “isn’t hard to master” quis dar conta, isto é “nenhuma dificuldade de dominar algo”; num segundo sentido, aponta para: “nenhum encanto”, “nenhuma transcendência”. Por isso, em vez de “Uma Arte” (“One Art”), Britto denomina a primeira das seções do livro de “Nenhuma arte”. Donde a provocação implícita: seria a poesia uma arte perdida ou uma arte de (se) perder?
As obsessões de Britto, que podem ser rastreadas desde Liturgia da matéria (1982), seu primeiro livro, como o dilema entre corpo (materialidade corruptível) e consciência, as tensões entre a irrupção do instante e a impotência para ação ou entre o fluxo do tempo e a eternidade, a hesitação ante o papel em branco, a poesia e a própria linguagem, estão presentes em Nenhum mistério de modo ainda mais complexo — embora já se mostrassem radicais em Formas do nada (2012). Estão presentes também o cultivo das formas fixas, contrastado com o estilo prosaico e coloquial, e os poemas escritos em inglês (quatro, no total).
Gostaria, contudo, de chamar atenção para um veio específico da produção poética de Britto que, na minha um tanto precária hipótese de leitura, poderia ser denominado de “poética dos vestígios dispersos”. Este veio serpenteia as obsessões que mencionei acima, e aponta para um todo coeso. Daí muitas das peças de Nenhum mistério dialogarem diretamente com outras de Formas do nada e Trovar claro (1997), para ficarmos apenas nestes. Mas minha hipótese de leitura levará em conta, sobretudo, um texto em prosa de Britto: o conto (melhor seria chamá-lo de ensaio) “Os paraísos artificiais”, do volume Paraísos artificiais, livro de contos do autor, publicado em 2004, também pela Companhia das Letras.
Comecemos, pois, pelo segundo poema de Nenhum mistério.
Na seção “Nenhuma arte”, poema II, podemos ler:
Tempo agora perdido
(todo tempo se perde)
vivo só nos vestígios
que resistem por leves
(tudo que pesa afunda)
no mais raso da pele
onde o que foi desejo
(tudo que fica dói)
até hoje lateja.
O uso dos parêntesis para interpor sentenças reflexivas (aparentemente banais) a cada estrofe dá um ritmo especial não apenas ao poema em questão, mas a toda seção. Aliás, o recurso a esses sinais gráficos (e a travessões, também) é um dos trunfos mais sofisticados da técnica de Britto — veremos mais um exemplo presente em Nenhum mistério, adiante. Se agora perdido é tempo, e o que vive, vive “só nos vestígios”, “no mais raso da pele”, outrora era o corpo, o campo da experiência sensória (transcendental, diria Kant), que se esvaía. Lembremo-nos do soneto III, da seção “Biographia literaria”, de Formas do nada:
Corpo agora perdido
além de todo anseio
lá onde nem vestígio
do perdido desejo
lá onde o que é lembrança
de palavras e atos
entre ódios e ânsias
e demais artefatos
esvai-se por completo.
Corpo antes inteiro
tão tangível concreto
quase fictício agora,
névoa sem cor nem cheiro
onde nem mais memória.
Tanto numa peça quanto noutra, o cerne é o desejo, o anseio, o que dá sopro ao corpo e sentido ao curso do tempo. O que fica de rastro cintilante deste movimento de tensão é o objeto da busca do poeta. Esta particular in-vestigação (isto é, o exame dos vestigia) prossegue ainda na seção “Nenhuma arte”, poema V:
Veja e toque, e se contente.
Nada mais lhe é permitido.
Pois tudo que você tem
só é seu no escasso sentido
em que é sua a sombra escassa
que esse seu corpo segrega,
que some assim que se apaga
a exata luz que ela nega.
Na peça seguinte, poema VI, vem a tentativa de síntese, o aprendizado da “cruel lição”, vinda desta (nenhuma) arte, lição que só se aprende “por subtração”: a de que “não saber não é desvantagem”, uma lição que “não é arte/ nem tampouco ciência”, pois “não há teoria — / só práxis — da ausência.” Remata o poeta:
(mas dizer-lhe o nome
já é exorcizá-la:
quem a vivencia
cala.)
“Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar”, já dizia Wittgenstein (filósofo da predileção de Britto). Mas será mesmo? Ou será que há algum modo de modificar a situação que se vivencia? Volto a isto no último parágrafo.
A busca segue por poemas como “Elogio do raso” e “Glosa sobre um mote de Sérgio Sampaio”, este último parte de um verso da música “Dona Maria de Lourdes” (Britto, vale dizer, escreveu um livro de ensaios curtos sobre algumas letras de Sampaio, intitulado Eu quero botar meu bloco na rua (Língua Geral, 2009, 96 páginas)), no qual podemos ler: “Só me interessa o que não compreendo,// só amo o que não sei e não se explica./ Não quero ir aonde vou. Mas vou./ Estou aqui e não sei onde isto fica,/ e onde quer que eu esteja, eu não estou.” Glosa que ecoa a frase de Oswald de Andrade, presente no Manifesto Antropofágico, “só me interessa o que não é meu”. Eis o guardião das metamorfoses.
Em outras peças, como o soneto “Heraclitus meets Pascal”, a busca de Britto revisita o tema da tensão entre a inércia e ação, misturando as filosofias de Pascal e Heráclito com a dicção camoniana de “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, para, por fim, chegar à conclusão mordaz a respeito do fato de que não faria muita diferença se, em vez de ter saído à chuva, o sujeito tivesse ficado em casa: “não muda, porém, a consciência/ de que os sapatos encharcados/ e a calça manchada de lama// terão talvez efeito idêntico/ ao que teria ter ficado/ em casa, quietinho, na cama.” A mordacidade dá as mãos ao prosaísmo, que corta qualquer tom elevado que o título pudesse sugerir ao leitor não familiarizado com a dicção de Britto. Mas ficam as perguntas: Tentar e não tentar dá no mesmo? Esta é a arte de perder?
Este mesmo tema segue em outras peças, como no poema VI da seção que dá título ao livro, “Nenhum mistério”:
Permanecer aqui,
apesar e além.
Estar, mesmo assim,
mesmo sem.
Efeito talvez
da inércia do ser:
mesmo não querendo,
não poder.
Ou então um símile
cru e exato:
como comer após cuspir
no prato.
E já que um pré-socrático foi mencionado, lembremo-nos de outro (Parmênides), que fora sacado por Britto nos versos de “Eleática”, de Formas do nada, e que dialoga com os dois poemas de Nenhum mistério que acabei de citar. Lemos no “Eleática”: “A quintessência do ser/ é estar no mesmo lugar/ exato, sem se mexer,/ até o mundo piscar”. As variações em torno desta preocupação, tanto num livro quanto no outro, são inúmeras. Mas vejamos outro tema recorrente: a escrita, ou o antigo drama ante o papel em branco.
No livro de 1997, Trovar claro, o poema de abertura, intitulado “O Prestidigitador”, presente na sequência “Três peças circenses”, começa assim:
Este papel que se oferece virgem
ao bel-prazer da pena e tinta
é todo teu, só teu, como não é,
nem nunca foi, a tua vida.
E logo a possiblidade de se eliminar o que o papel reteve em tinta de um só átimo, sem “nenhum vestígio”, se faz imperiosa:
As vértebras flexíveis da espiral
não vão guardar nenhum vestígio
(como fazem as lombadas traiçoeiras)
deste pequeno infanticídio.
Em Nenhum mistério, na seção “Caderno”, poema XVII, podemos ver, como o próprio nome indica, um retorno à imagem do caderno (cito o poema na íntegra):
Naquela página antiga
não se lê mais o que escreveu
o proprietário do caderno
(que por acaso sou eu.
(Melhor dizendo: um eu que fui
já não sei quando nem onde,
e que pensava ser alguém
que nunca foi, nem de longe.
(O que também não quer dizer que
quem escreve agora nesta tela
seja precisamente o ser que
julga ser, tampouco aquela
pessoa ainda incognoscível
que anos depois virei talvez
a ler isso que, noutro agora,
leitor irmão, agora lês.
(No entanto, mesmo sem saber
se sou quem fui ou sou ou somos,
nem por que faço isso que faço,
escrevo até cair de sono.)))).
O engenhoso recurso dos sinais de parêntesis, para o qual eu já havia chamado atenção, neste poema tem seu momento mais radical. Vemos um ser decomponível que se desdobra em várias camadas, no tempo (até chegar ao avesso, ao limite, o nada?). Se voltarmos a Trovar claro, especificamente ao poema “O Funâmbulo”, que se vale da imagem da cebola, podemos perceber como tal metáfora se articula com a proposta de “Caderno”: “Entre a palavra e a coisa/ o salto sobre o nada (…) // “Em torno da palavra/ muitas camadas de sonho. Uma cebola. Um átomo./ Uma cebola ávida./ Entre uma camada e outra/ nada”.
Aqui podemos caminhar para o cerne da minha hipótese de leitura: a reflexão que está presente no texto “Os paraísos artificiais”. A tensão entre ação e inércia e entre o ser e nada se faz presente também nos poemas que têm por tema a espera, e também a esperança (ou a falta da mesma), e, sobretudo, a imagem do homem sentado numa cadeira. Em Nenhum mistério, o poema “À margem do Douro” traz isso à tona, onde o sujeito sentado, à margem do rio homônimo (tão cantado por Antonio Machado), diz: “Não espero nada, e já me satisfaço/ com a consciência de ainda estar em mim/ e não de volta ao nada de onde vim.” Em Formas do nada, tal tensão chega ao extremo em “Man in a chair (Lucian Freud)”, uma leitura da tela do pintor britânico, cuja escolha das palavras compõe um andamento fônico que entrecorta a respiração de quem o recita, isto é, proporciona a sensação física da tensão que o quadro quer transmitir — isto merece um ensaio à parte. Fato é que, já em Trovar claro, no poema VII da seção “Dez exercícios para os cinco dedos”, a imagem do homem numa cadeira, “sentado, imóvel, sem razão”, já estava presente. Isto não é gratuito, claro.
Uma cadeira. Objeto para repouso, mas também para reflexão, circunspeção. É precisamente o ato de estar sentado numa cadeira, numa sala qualquer, que constitui o tema de “Os paraísos artificiais”, espécie de ensaio ou de poema em prosa de Britto. Vemos um trecho que me parece tão belo quanto perturbador:
[…] Naturalmente, nada impede que você recoloque a cadeira no mesmo lugar de antes, se sente nela e permaneça ali por quanto tempo quiser, ou conseguir, e durante todo esse tempo goze da sensação de estar na posse da sua materialidade perdida. Mas essa sensação é ilusória, pois esses vestígios não fazem mais parte de você: só podem ser ocupados provisoriamente, como uma roupa que se veste. Assim que se cansar desse jogo e se levantar da cadeira, você vai voltar a perdê-los: mais ainda, vai perder também uma pequena porção adicional de sua matéria, mais vestígios seus que vão ficar no ar, superpostos aos anteriores. Esses vestígios mais cedo ou mais tarde vão se dispersar, com o movimento constante do corpo no quarto, e se perder para sempre. Assim, você está constantemente largando camadas sucessivas do seu ser, desintegrando-se a cada instante de sua existência no espaço; e é por isso que você não é eterno, não pode ser eterno, pelo mesmo motivo que um lápis ou uma borracha não podem ser eternos.
Esse tipo de prosa é mais iluminador do que muitos tratados de fenomenologia e analítica existencial. Pode-se entrever aí não uma “teoria” da “poética dos vestígios dispersos”, que tem atravessado a poesia de Britto, mas a própria “práxis da ausência” da qual a “cruel lição” de “Nenhuma arte” dá notícia. Não à toa, “Ao sair da sala”, último poema de Nenhum mistério, dialoga justamente com “Os paraísos artificiais”, volta a se dirigir àquele que estava na sala e que, agora, ao sair dela, tem a seguinte sensação:
Você ao sair da sala
escuta um murmúrio discreto,
Pensa: é alguém que me fala
em pleno discurso direto.
Porém não é nada disso.
É o murmúrio impessoal
do silêncio quebradiço
que se ouve mal e mal
onde não há o que se ouça.
Se ao seu ouvido ele soa
como algo que talvez possa
emanar de alguma pessoa,
é pra desdizer a certeza
de que, atrás da porta fechada,
na sala ainda há pouco acesa
agora não há nada.
Por fim, gostaria de dizer que se engana quem se prende à interpretação niilista (ou fatalista) da poesia de Britto. Por quê? Porque o poeta, como bom guardião das metamorfoses, oferece uma possibilidade de modificar o modo como vivencia uma situação. Qual seja: escrever. O último parágrafo de “Os paraísos artificiais” de certo modo fornece a leitura a contrapelo para o eco wittgensteiniano dos últimos versos do poema VI de “Nenhuma arte”. Diz o narrador: “(…) para todos os fins práticos modificar a sua percepção de uma situação é a mesma coisa que modificar a situação em si.” Então “bastar sentar-se na cadeira, pegar um lápis e uma folha de papel, e começar a escrever”. Escrever sobre a “práxis da ausência”, sobre a experiência que melhor se vivencia quando dela não se fala, já é driblar o nada. Elias Canetti, para quem há uma lei própria dos poetas, ainda no discurso de 1976, dá o tom preciso do que quero dizer: “Que se procure o nada apenas para encontrar-lhe a saída, indicando-a para todos. Que se persista na tristeza, bem como no desespero, para aprender a tirar dele os outros; mas não por desprezo da felicidade que cabe às criaturas, ainda que estas desfigurem e dilacerem umas às outras”.
Que Britto continue sua busca e a sua função para com as “metamorfoses”.
Nós o leremos.
NOTAS
[1]Cf. CANETTI, Elias. “O ofício do poeta”. In: A consciência das palavras. Tradução de Márcio Suzuki e Herbert Caro. São Paulo: Cia das Letras, 1990, pp. 275-286.
[1]A referida tradução encontra-se no volume O iceberg imaginário e outros poemas (São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 309).
[1]BRITTO, Paulo Henriques. “Os paraísos artificias”. In: Paraísos artificiais. São Paulo: Cia das Letras, 2004, p. 11.
[1] Idem, p. 12.
[1]CANETTI, Elias. Op. Cit., 1990, p. 286.




