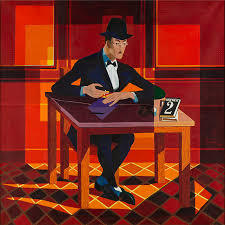Voltamos a janeiro de 2008. O jovem doutor Antônio Nogueira compõe o grupo formado por professores e pesquisadores da área de letras responsável pela correção da prova de português de um dos vestibulares do país. Antônio ocupa silenciosamente um dos cantos de uma longa e ruidosa mesa retangular. Apesar dos 34 graus Celsius que fazem do lado de fora do prédio, ele veste uma blusa abotoada até o pescoço para se proteger do vento glacial que sopra dos aparelhos de ar condicionado instalados no alto das paredes.
Como se quisesse demonstrar disponibilidade, o supervisor caminha de um lado para o outro da sala. Gaspar impressiona os corretores por dois motivos que se relacionam entre si: ele está de mangas de camisa e leva o controle do ar-condicionado no bolso de trás da calça. A temperatura mínima que esses aparelhos atingem é 18 graus. Por dedução, sabemos qual é o motivo de as unhas de Antônio estarem roxas, por que ele se encolhe na cadeira como uma ovelha tosquiada e o que o leva a acompanhar de soslaio, com ares de assassino, os passos lépidos de Gaspar por entre as fileiras de mesas. Se repararmos bem, Antônio usa ainda um par de acessórios — um tampão de espuma laranja inserido em cada ouvido.
Ao longo de duas semanas, nosso corretor avalia milhares de respostas dos candidatos, sonha cinco vezes com algumas intrigantes formulações, passa nada menos do que sete horas entre discussões a respeito das respostas encontradas por ele e pelos colegas e reproduz ou ouve delas as barbaridades com as quais se deparam durante a correção. São os ossos do ofício. Incômodos vêm e vão. Como de hábito, os jornais publicam no dia seguinte à aplicação da prova comentários de professores de cursinho sobre a dificuldade e a atualidade do exame. Os cursinhos formulam seus gabaritos, distribuídos em folhetos e divulgados em páginas na internet. Com pequenas variações, os principais deles respondem de modo similar aos itens a) e b) que compõem a questão 08, da qual Antônio é um dos corretores. Nada ao longo do processo o marca negativamente. Nada a não ser uma coisa — uma coisa que Antônio não pode suportar: a própria questão 08. Vamos a ela.
Q.08
Sou o descobridor da Natureza.
Sou o Argonauta* das sensações verdadeiras.
Trago ao Universo um novo Universo
Porque trago ao Universo ele-próprio.Alberto Caeiro, Poesia.
*Argonauta: tripulante lendário da nau mitológica Argo; por extensão, navegador ousado.
Nos versos acima, Alberto Caeiro define-se a si mesmo de um modo que tanto indica sua semelhança como sua diferença em relação a um tipo de personagem de grande importância na História de Portugal.
Em sua definição de si mesmo, a que tipo de personagem da História portuguesa assemelha-se o poeta? Explique brevemente.
Considerados no contexto geral da poesia de Alberto Caeiro, que diferença esses versos assinalam entre o poeta e o referido tipo de personagem histórica de Portugal?
Explique sucintamente.
Antônio relê a questão, dessa vez atentando a cada detalhe. Que livro é esse, Poesia? Não seria Poemas Completos de Alberto Caeiro? Não vem ao caso. Ele se detém na nota, com estranhamento um pouco maior. Ela já não responderia à primeira pergunta? À que tipo de personagem da história de Portugal Caeiro se equipara, senão, justamente, ao descobridor, ou “navegador”, figura central da expansão marítimo-comercial durante o século XVI? Um pouco decepcionado, o diligente corretor se volta para o item seguinte. Eis o xis da questão.
Qual é a diferença, afinal, entre Caeiro e o navegador? Segundo esses quatro versos, a diferença se estabelece entre duas concepções de “descobridor”. Os navegadores prestam serviço à Coroa e são movidos direta ou indiretamente pela glória e pela cobiça. Ao encontrarem novos territórios para expandir rotas comerciais e ampliar zonas de extração, eles enriquecem o Império colonial. Para esses Argonautas das sensações falsas, as descobertas não valem por si mesmas, como novidade, mas pelos dividendos que representam para a Monarquia portuguesa. Já Caeiro é um descobridor por ser capaz de olhar para o mundo sem a sua carga representativa, seja ela econômica, política ou metafísica. O que lhe interessa é o mundo empírico, revelado pelo olhar virginal, desinteressado, que não busca nas coisas nada além delas mesmas. Trata-se, portanto, de perceber o mundo em si, exclusivamente por meio dos sentidos.
Essa seria, com um excesso de desenvolvimento, uma “resposta cheia”, tal como Gaspar orientou, mais tropo menos tropo, que se realizasse a avaliação.
Ocupadíssimo com as centenas de questões que deve corrigir diariamente, Antônio não dispõe de tempo para colocar seu desassossego em palavras, embora o incômodo persista, como uma unha encravada, Para ele, esse “poeta”, ou essa imagem do “descobridor” — que “gabarita” a questão, segundo expressão que Gaspar pronuncia de boca cheia —, não é Caeiro. Durante
o treinamento pelo qual os corretores passaram, Antônio chegou a levantar a mão e, assim que o supervisor olhou em sua direção e disse, com voz de general, “Você! Fale para que todos ouçam!”, Antônio esboçou, para que ninguém “ouvisse: “Mas esta é apenas a proposição”. Imediata e incompreensivelmente, o supervisor agradeceu com um “Obrigado”, que soou como se ele tivesse batido uma porta, e passou adiante, abandonando o viajante solitário que lançara aquele quase imperceptível comentário no espaço gélido da sala.
Ao final do dia, já em casa, Antônio se dispõe a reler o poema XLVI d’O Guardador de Rebanhos, aquele do qual haviam extraído a famigerada passagem. O que ali se passa lhe parece justamente o contrário do que a questão demanda. Desde o seu verso de abertura, “Deste modo ou daquele
modo”, o eu lírico confessa suas hesitações, deixando claro que é impossível se tornar aquele que pretende ser: “Procuro dizer o que sinto/ Sem pensar em que o sinto./ Procuro encostar as palavras à ideia/ E não precisar dum corredor/ Do pensamento para as palavras”1. Antônio repara em como a repetição do verbo “procurar” reforça o seu contrário, “não conseguir”. A dicção do mestre assemelha-se, nesse poema, à de um discípulo — um discípulo de si mesmo. O que estamos lendo, Antônio se agita, é este “corredor do pensamento”. E então Caeiro lança uma nova confissão de uma coerência impossível: “Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir”2. O peso da cultura e da memória já reveste o pensamento e as sensações de sentidos prévios, de conotações específicas. Como Caeiro pode ser Caeiro se todas as coisas, afinal, já se apresentam paramentadas de significados?
A procura de Caeiro está em desautomatizar o próprio olhar, aprender a desaprender, sentir sem o condicionamento que a cultura, a história e a vida em sociedade implicam. Em suas palavras, Caeiro esforça-se para “raspar a tinta com que” lhe “pintaram os sentidos”, “desencaixotar as suas “emoções verdadeiras” e, uma vez despido, desembrulhado, ser apenas ele, “não Alberto Caeiro,/ Mas um animal humano que a Natureza produziu”3. Por que “não Alberto Caeiro”? Porque mesmo os nomes carregam uma genealogia cultural, prendem-nos a um sentido pregresso. Ser um “animal” não significa simplesmente ser um selvagem, mas voltar ao estado de liberdade protocultural, como uma tabula rasa. Antônio chega até aí.
Estamos muito próximos da “hipótese da estátua”, por meio da qual “o empirista inglês Étienne de Condillac, baseando-se nos estudos de John Locke e David Hume, procura demonstrar, no Tratado das Sensações (1754), que a única forma de se obter uma sensação pura seria anulando a memória e ativando apenas um órgão do sentido por vez4. Henri Bergson define a “sensação pura”, no Ensaio sobre es Dados Imediatos da Consciência (1888), como um estado no qual o indivíduo perde a consciência de si e se confunde com o que vê, com o que sente”5. Ora, Caeiro dirá, justamente, “sou do tamanho do que vejo”6. Mas esse ideal perceptivo é inatingível. Na Fenomenologia da Percepção (1945), Maurice Merleau-Ponty demonstra a impossibilidade de se obter uma “sensação pura”, uma vez que os objetos, no ato da percepção, irremediavelmente se revestem de significados para o sujeito perceptor7. Não nos consta que Antônio conheça esses textos, mas a sua intuição condiz com milhares de páginas empiristas e fenomenológicas: Caeiro não se limita a ser o que pretende ser. Ele é a projeção, a ética positiva e didática, a vontade de realização de um ideal empirista na poesia de Fernando Pessoa — de um sujeito que fosse só sensação.
“Mas esta é apenas a proposição” é uma frase desacompanhada e triste de Antônio. E, no entanto, ela sintetiza muito. Quando Caeiro afirma, sempre no mesmo poema, “E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem sequer como um homem,/ Mas como quem sente a Natureza, e mais nada”, ele está, como constantemente ocorre em sua poesia, “ensinando-se a ser ‘Caeiro’”8. Como um “cego teimoso”9, Caeiro é persistente, mas sabe que nos apresentou um paradigma que, ele próprio, não é capaz de realizar.
Então chegamos ao trecho da questão. Nesse ponto, Antônio terá se surpreendido ainda um pouco mais. Isso porque a estrofe reproduzida na questão não está completa. Os examinadores suprimiram o primeiro verso: “Ainda assim, sou alguém”10. Ora, ao afirmar o que é, nos quatro versos reproduzidos pelo vestibular, Caeiro só pode fazê-lo, com a convicção com que o faz, depois de assumir uma ficção existencial. A expressão “ainda assim” expressa oposição entre a ideia contida nos quatro versos subsequentes, que compõem a questão, e o sentido do texto como um todo. Apesar de saber que não pode chegar a ser apenas esse “animal humano que a Natureza produziu”, Caeiro projeta um “alguém” ideal, já distante da realidade. Depois de tanto esforço, de tanta procura hesitante e por vezes malograda ao longo dos poemas que compõem O Guardador de Rebanhos, o eu lírico faz essa afirmação com um laivo de angústia: preciso ser alguém. É esse o sal do desengano que lhe está por detrás. A tragédia de Caeiro está em ele ter memória, em ser consciente. Mas sem a consciência, a sua poesia, que é roda reflexiva — um pensar sobre não pensar —, não seria possível. Ao excluir o primeiro verso da estrofe, os examinadores ocultam a tensão dramática do poema, convertendo o desejo de ser em simples realização.
O faz-de-conta-Caeiro, de um sujeito que pudesse viver num eterno “pasmo essencial”, sem abstrair o mundo percebido, com a sensação desarticulada da memória — um sujeito todo sentidos —, é um dado evidente do poema. Mas se o candidato que está às voltas com a questão 08 for capaz de diferenciar esse Caeiro ideal de sua realidade ontológica, isto é, do drama que constitui a impossibilidade de a poesia-Caeiro se transformar no ideal-Caeiro, ele corre o risco de não a responder corretamente. Caeiro é mestre porque a sua poesia projeta um ideal de libertação, como um novelo voltado para fora — um arqui-Caeiro capaz de anular as inquietações do pensamento. Mas o que é a sua poesia, afinal, senão uma inquietação? Em que consiste o ideal-Caeiro senão numa falsa pista, num pretenso desejo de realização cujo resultado é a contradição? A sua grandeza está relacionada, justamente, com a impossibilidade, com o caráter dramático dessa aspiração — com a produção, e não a resolução, de tensões. O sentido total de Caeiro depende, afinal, da compreensão de que o seu ideal de percepção se mostra, de partida, irrealizável.
Já o verso de abertura de O Guardador de Rebanhos é a proposição de um acordo ficcional: “Eu nunca guardei rebanhos,/ Mas é como se os guardasse”11. Esse “é como se”, que se repetirá ao longo do primeiro e de outros poemas, é a proposição de um pacto com o leitor. Não somos tolos
para não o aceitar. Mas o sentido total dessa poesia não pode desconsiderar a presença e a identidade desse “Eu” que abre o poema. É na distância existente entre o olhar transfigurador de Caeiro e a realidade efetivamente apreendida que, para Eduardo Lourenço, “o seu verbo (a sua voz) irónica e gravemente se articula”12. Devemos ser capazes de atentar tanto para o pastor quanto para esse sujeito que, em suas palavras, nunca guardou rebanhos, e compreender qual deles é o sujeito e qual deles é o objeto desses poemas.
Espremido no desvão ontológico entre o ser e o querer ser, Antônio está incomodado. Mas não na aparência. Em meio aos demais corretores, aos alunos que “gabaritam” a questão 08 e ao passeio despreocupado de Gaspar pela sala, cabisbaixo e aplicado, como se apertasse parafusos, ele
parece reproduzir a irônica serenidade de Caeiro.
LEIA TAMBÉM: O ironista Fernando Pessoa ou “a vida inteira que podia ter sido e não foi”, resenha do livro de Caio Gagliardi por Rodrigo Valverde Denubila.
Notas
- Fernando Pessoa, Poesia Completa de Alberto Caeiro, 2007b, p. 72. ↩︎
- Idem, ibidem. ↩︎
- Idem, ibidem. ↩︎
- Cf. Étienne de Condillac, Tratado das Sensações, 1993. ↩︎
- Cf. Henri Bergson, Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, 1988. ↩︎
- Fernando Pessoa, Poesia Completa de Alberto Caeiro, 2007b, p. 27. ↩︎
- Cf. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, 2018. ↩︎
- Leyla Perrone-Moisés, Fernando Pessoa: Aquém do Eu, Além do Outro, 2001, p. 198. ↩︎
- Fernando Pessoa, Poesia Completa de Alberto Caeiro, 2007b, p. 73. ↩︎
- Idem, p. 72. ↩︎
- Idem, p. 16. ↩︎
- Eduardo Lourenço, Fernando Pessoa Revisitado, 2020, p. 232. ↩︎