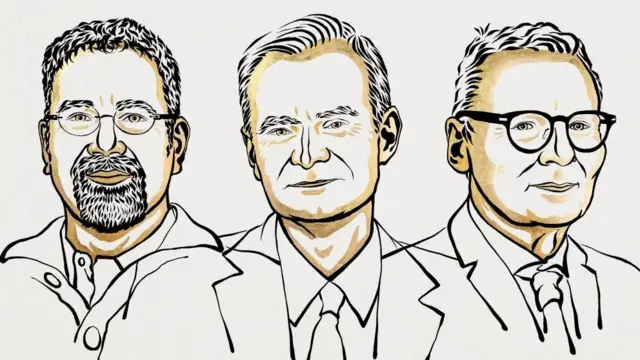“Profundos pensadores que miram a todos os lados à procura das misteriosas causas para a pobreza, ignorância, crime e guerra não precisam ir muito além de seus próprios espelhos. Todos nascemos neste mundo pobres e ignorantes, e com impulsos completamente egoístas e selvagens.”
Assim Thomas Sowell desdenha as diversas teorias desenvolvidas para explicar o fenômeno da pobreza persistente. Ao contrário de muitos acadêmicos aficionados pela pobreza, ele a conhecia de perto. Afro-americano, nascido em uma paupérrima família na segregada Carolina do Norte, radicado no conflagrado bairro nova-iorquino do Harlem, ele superou incontáveis adversidades até graduar-se em Economia por Harvard, obter seu PhD na prestigiosa Universidade de Chicago e tornar-se um dos mais prolíficos autores na profissão.
A pobreza, argumenta Sowell, não deveria ser objeto de investigação: trata-se do estado natural da Humanidade. Surgimos nas planícies da África após um longo e tortuoso processo evolutivo, despidos e desprovidos de conhecimento e bens. A prosperidade que conseguimos produzir nos últimos séculos é, esta sim, o fenômeno que merece investigação. Não à toa, um dos mais antigos livros na Economia, do filósofo Adam Smith, chama-se “Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações”. Riqueza tem uma causa não óbvia que precisamos entender — especialmente se quisermos replicá-la para que atinja o maior número de habitantes deste planeta.
O Prêmio de Economia em Honra de Alfred Nobel de 2024, divulgado no último 14 de outubro, reconheceu nas pessoas de James Robinson, Daron Acemoglu e Simon Johnson essa relevante e antiga linha de pesquisa. Por quê? Em uma explicação sintética, porque conseguiram produzir relevante documentação científica que tornava difícil negar o que as hipóteses de grandes teóricos como Smith, Douglass North e o próprio Sowell já postulavam: que um conjunto de instituições que respeitem a todos os indivíduos os seus direitos naturais inalienáveis (viver em segurança, criar e manter propriedade), e a sua liberdade de escolha, estimulam a criação de riqueza em qualquer lugar.
Mas, se a linha de pesquisa dos premiados é antiga, incluindo até mesmo um economista já agraciado pelo Nobel (North), o leitor (com razão) deve se perguntar qual a inovação trazida por eles que justifique uma nova premiação.
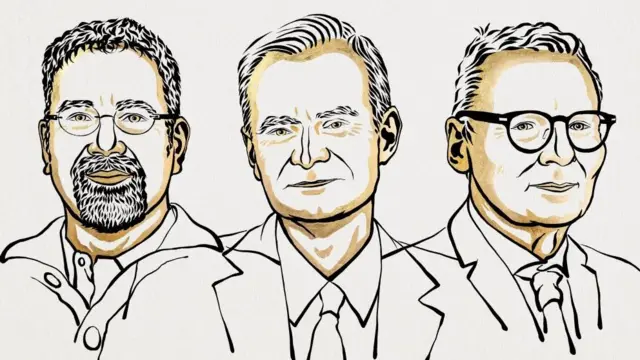
Uma analogia com a Física pode nos ajudar a entender. Entre 1905 e 1915, Albert Einstein formulou o que se convencionou chamar, anos depois, de Teoria da Relatividade e, em 1916, postulou a possível existência de ondas gravitacionais. Mas as evidências sobre sua plausibilidade só foram encontradas anos depois: faltavam instrumentos para conseguir medi-las. Até que em 2015 o Observatório de Ondas Gravitacionais por Inferômetro a Laser (LIGO) capturou as ondas geradas pela fusão de dois buracos negros de massa estelar. Em 2017, os líderes responsáveis pela condução do LIGO, Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne, foram agraciados com o Nobel de Fisica.
Guardadas as devidas proporções, o trabalho desenvolvido por Robinson, Acemoglu e Johnson está para Economia como o de Weiss, Barish e Thorne está para a Física. Entre 1998 e 2021, o trio de economistas é responsável por atuar conjuntamente, ou aos pares, em pelo menos 43 obras entre trabalhos para discussão, artigos e livros que compõem o arsenal de testes e dados a comprovar que boas instituições promovem a prosperidade. Apesar das diferenças, o desafio não é menos monumental. Isso porque as ciências sociais (como a Economia) se diferem das ciências naturais pela virtual impossibilidade de executar um experimento artificial para testar potenciais causas para um fenômeno.
Os físicos podem muitas vezes testar diferentes replicações de um fenômeno em laboratório até identificar a causa. Na Economia, essa possibilidade não está ao alcance do pesquisador. Seria inimaginável (além de desumano e antiético) isolar uma parcela representativa da sociedade em um gueto para testar nela diferentes causas até entender qual delas explica a pobreza de uns, e a riqueza de outros.
Resta aos economistas “contar com a sorte”: observar o mundo à procura de “experimentos naturais”. Situações em que grupos sociais são submetidos (por vezes, involuntariamente) a eventos com repercussões econômicas completamente diferentes do status quo pelo acaso, por uma particularidade locacional ou, frequentemente, pela decisão unilateral dos seus governantes. O que também torna complexa a identificação do nexo causal. Afinal, em experimentos naturais as causas da pobreza acontecem simultaneamente a uma infinidade de outras situações: escolhas de vida, epidemias, calamidades, choques, eleições, guerras, o surgimento da inteligência artificial… Como separá-las para chegar à resposta?
A estratégia investigativa criada pelo trio foi engenhosa ao (1) transformar as bem formuladas hipóteses em um modelo com indivíduos que interagem de forma dinâmica e estratégica (Teoria dos Jogos), sob dois conjuntos de regras distintas (boas e más), e (2) testar esse modelo em uma compilação de diferentes bases de dados com diferentes experimentos naturais institucionais em diferentes sociedades ao redor do mundo (e na História), conseguindo separar os efeitos dessas instituições daqueles das demais potenciais causas. Para separar os efeitos das diferenças institucionais dos demais, os autores buscaram contextos sociedades similares. Um exemplo é anedótico o suficiente para demonstrar esta engenhosidade.
Como explicar que apenas 74 anos depois da sua divisão em Norte e Sul, os habitantes da península da Coreia tenham níveis tão diferentes de prosperidade? O “experimento natural” da divisão separou uma mesma sociedade em duas que vivenciaram, desde então, conjuntos de regras completamente diferentes. Ao Norte, o que os autores chamaram de instituições políticas e econômicas extrativistas: regras desenhadas e controladas por uma pequena elite com privilégios políticos e econômicos para controlar e extrair a riqueza produzida pelo restante da população.
Ao Sul, as regras são outras. Os cidadãos experimentam instituições inclusivas: as regras do jogo permitem que eles busquem a sua felicidade. Seus filhos estudam em escolas com excelentes resultados internacionais. Qualquer empresa pode ser criada, ou lá se instalar, respeitando os direitos de propriedade. O risco tomado por um deles pode dar certo, e lhe premiar com mais renda e sucesso. Aqueles com vocação para a vida pública podem se candidatar e, se sua plataforma interessar aos demais, ser eleitos por período definido. Se cometerem malfeitos, serão processados em um sistema com regras claras para ser julgados por seus pares. E, se você se tornar um cidadão sul-coreano, poderá jogar sob praticamente as mesmas regras. Uma sociedade aberta.
Respondida a pergunta sobre quais instituições promovem o desenvolvimento econômico, o leitor pode se perguntar como construir boas instituições. Seriam elas dádivas que recebemos de uma herança social ou cultural específica e, portanto, estariam alguns grupos sociais desprovidos desse “maná” e fadados a viver em sociedades disfuncionais eternamente?
Deirdre McCloskey, economista autora de uma das obras mais magistrais na história econômica (The Bourgeois Virtues), em artigo de 2021 (“The Statist Neo-Institutionalism of Acemoglu and Robinson”), assim como o próprio Thomas Sowell (Wealth, Poverty and Politics), tecem críticas a uma suposta ausência do reconhecimento por parte dos premiados para a importância da cultura como um fator que influencia endogenamente as instituições. Argumentam, e reproduzo de forma mui simplificada, que não há como se falar em melhores ou piores instituições para estimular o desenvolvimento sem considerar que a cultura das sociedades que criam essas instituições é fonte de inspiração e influência para o desenho dessas regras.
A resposta pressupõe um necessário esclarecimento: o que é “cultura”? Se por cultura o leitor considerar artes, crenças espirituais e seculares, preferências alimentares, arquitetônicas e congêneres, então a resposta da pesquisa premiada é negativa. As evidências não permitem concluir que, por exemplo, foi a herança cultural inglesa que legou melhores instituições para os EUA, haja vista que os ingleses também colonizaram a Nigéria e a Índia, com resultados institucionais e econômicos completamente diferentes.


Contudo, há uma outra acepção para cultura: atitudes, comportamentos e regras tácitas em um grupo social. Nesse caso, a resposta é categórica em confirmar que a cultura, assim entendida, pode afetar o resultado institucional. Afinal, as regras formais das instituições são (eventualmente) construídas com base nas regras informais que já são seguidas de modo tácito.
Concomitantemente, a mera existência de boas regras informais (a ética de valorizar o trabalho em nível familiar, por exemplo) é condição necessária para a criação das boas instituições — em consonância, portanto, com os argumentos de McCloskey e Sowell. Necessária, porém não suficiente. O próprio exemplo da colonização inglesa é o que nos permite explorar melhor a sutileza do argumento. As pessoas não agem exclusivamente como podem ou gostariam, mas da melhor forma para satisfazer seus interesses dadas as circunstâncias em que estão inseridas.
Perceba o leitor que isso é completamente diferente de uma espécie de determinismo institucional. Não é o meio em que estão inseridos os indivíduos que determina o que farão. Os indivíduos, explicam os economistas agora premiados, fazem escolhas sobre quais instituições querem criar com base em seus interesses, seus valores, a cultura (regras informais), mas também considerando quais dessas escolhas conseguem efetivamente tornar realidade no meio em que estão inseridas. E, uma vez criadas, essas instituições deixam marcas que podem perdurar no tempo.
Não foi apenas por valores e cultura que os ingleses criaram melhores regras nos Estados Unidos do que aquelas que criaram na Nigéria e na Índia. Criaram porque a estratégia ibérica não lhes daria frutos como deu aos espanhóis e portugueses na América, argumentam os autores. Não havia recursos abundantes nem povos nativos mais fáceis de dominar. O clima era mais inóspito. A única forma de explorar e garantir a colonização era criar regras a partir das quais quem para lá fosse pudesse aproveitar os frutos de seu trabalho. E quando, alguns séculos depois, a Coroa Britânica quis alterar essas regras e exigir uma fatia maior desses recursos, tentando mudar o modelo para o extrativismo ibérico, 13 colônias de homens livres e donos do seu destino reagiram. Boas instituições também deixam marcas, e aqueles colonos tinham recursos e estavam dispostos a arriscá-los para que não fossem submetidos a regras piores.
As elites, portanto, têm um papel fundamental no modelo de construção institucional dos autores. Elas podem ser parte do problema, quando promovem instituições extrativistas em prol de seu exclusivo interesse em detrimento do que acontece com os demais indivíduos de suas sociedades. Mas podem também ser parte da solução, quando passam a ter uma visão de longo prazo sobre seus interesses e percebem que têm muito mais a ganhar em um país onde os demais indivíduos são mais prósperos, mais educados e podem perseguir seus interesses para se tornarem parceiros das empreitadas dessa própria elite.
O conceito de “elite”, em uma acepção clássica e compatível com a teoria institucional, tem raiz latina compartilhada com “eleitos” ou “escolhidos”. Trata-se, portanto, daqueles que são percebidos em um grupo social como os capazes de influenciar e liderar os demais. Não se trata de um conceito necessariamente conectado a recursos financeiros, prestígio político ou reconhecimento em massa — mas, sim, à capacidade de convencer os pares a empreender esforços em comum.
Traçando um paralelo com o clássico de Julien Benda, A Traição dos Intelectuais, um dos males das elites de nossos tempos é o abandono de sua vocação para se engajar em compromissos políticos deletérios, pueris e efêmeros — emprestando sua autoridade para tal. Assim, se o clássico de Benda nos lembra que a ascensão dos totalitarismos à esquerda e à direita no século XX contaram com a traição dos intelectuais, em completa violação de sua vocação, o agora clássico trabalho de Robinson, Acemoglu e Johnson nos ensina que não apenas intelectuais, mas também qualquer membro de uma elite trai seu papel de liderança quando se engaja na construção (ou na manutenção) de instituições extrativistas.
Assim como os colonos ibéricos que aqui chegaram, todos os dias aqueles que podem influenciar e liderar na academia, na imprensa, nos órgãos de estado, nas empresas, nas comunidades, em organizações filantrópicas e em projetos de ativismo também têm uma escolha a fazer. Empresários podem escolher seguir sua vocação e otimizar os processos produtivos em sua empresa, ou alocar seu tempo nos corredores de Brasília fazendo lobby por uma proteção especial que os proteja da concorrência. Servidores públicos podem exercer seu compromisso de executar o trabalho de forma técnica, ou violá-lo para atingir suas preferências políticas pessoais que não fazem parte do exercício do cargo. Nossos magistrados, em qualquer instância, podem escolher seguir a letra fria da lei, ou compactuar com interpretações flexíveis dela, muitas vezes difíceis de encontrar no seu texto ou na jurisprudência. Os editores de jornais também podem escolher relegar as opiniões sobre os fatos às colunas de opinião, ou publicá-las nas páginas de reportagens como se fatos fossem.
O grande ensinamento do Nobel de 2024 é uma verdade inconveniente, da qual se desconfiava há muito tempo, mas que agora encontra provas irrefutáveis para explicar a trajetória de pobreza e desperdício em que o Brasil se encontra. É a elite que cria e alimenta todos os dias nossas débeis instituições se (e quando) trai sua vocação de agir como líderes íntegros para construir boas regras do jogo, em troca de pequenos benefícios espúrios. É hora dessa elite se olhar no espelho e se questionar se as instituições que criam são tão diferentes assim de seus criadores.
Essa pergunta é fundamental se quisermos que o Brasil do futuro não seja o Brasil do presente. Ela talvez inspire a próxima geração de líderes a mudar a nossa trajetória. Por ora, a imagem no espelho tem quase nada a nos orgulhar.
*
Gabriel Picavêa Torres é economista.