por Adriana Novaes
………….
A chamada Regra de Ouro da conduta moral — não faça aos outros o que não quer que façam a você — enunciada nos Evangelhos e em formas semelhantes em textos de outras religiões como o islamismo, budismo e hinduísmo, retomada por pensadores ao longo dos anos, é uma espécie de régua, referência do modo como nos relacionamos com as outras pessoas, na medida em que estabelece um protocolo de não agressão, não coação, não prejuízo àqueles com quem convivemos no cotidiano amplo de nossas vidas. O ponto de partida, no entanto, não é o outro, mas o eu, porque por receio de que alguém faça algum mal a mim, vou agir primeiro por precaução, e não vou fazer mal a ninguém. O medo de ser alvo de algum ataque, roubo, violência, será minimizado se eu não errar primeiro e não fizer algo ruim ao outro, o que abriria caminho, criaria a possibilidade, para que o outro fizesse algo contra mim. O pressuposto é de que a reciprocidade é a norma moral. Sempre aumento os tipos de atos prováveis dos outros em relação a mim se eu também agir de certo modo, o que dá espaço e chance para que os outros me tratem de certa maneira. Mas no espectro das relações sociais em geral, a ação ruim não precisa partir necessariamente de mim. Se uma sociedade tolera atos maus sem indignação e prontidão em coibi-los, esses atos entram para um rol de ações reais e tornam-se vocabulário e prática à mão. Daí o perigo das ações de personalidades públicas, políticos e governos, pois toda resolução, ao se concretizar, torna possível e muito provável sua repetição. Um mal realizado ganha uma chancela para se replicar, como o assassinato sistemático de vítimas inocentes nos totalitarismos, o assassinato estabelecido como possibilidade legal em ditaduras e o descaso criminoso como falta de assistência mínima a cidadãos no enfrentamento de uma pandemia.
A Regra de Ouro está nos Evangelhos de Lucas (6,31) — “E tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedei com elas do mesmo modo” — e de Mateus (7,12) — “Tudo quanto quiserdes que vos façam as pessoas, assim fazei vós a elas. Pois esta é a lei e os profetas.” O tradutor Frederico Lourenço chama atenção para o fato de que em Mateus, Jesus afirma que na regra está resumida toda a Escritura hebraica, ou seja, “a lei e os profetas”. Trata-se, portanto, de lei predominante.
Na análise que faz da permanência da validade das regras morais por aqueles que, mesmo pressionados, de formação e classes sociais variadas, resistiram ao mal cometido pelos governos totalitários, Hannah Arendt considera as principais proposições morais da tradição. Além da Regra de Ouro, examina uma referência da Antiguidade grega e destaca a norma estabelecida por um pensador moderno, Immanuel Kant. O imperativo categórico é a regra da conduta moral kantiana em que se estabelece o princípio de que antes de cada ação é preciso imaginar sua extensão geral, ou seja, a todas as pessoas. Se ela puder ser praticada por todos, então está autorizada. Kant formula essa regra de vários modos, mas vou me ater aqui à destacada por Arendt: “Aja de tal maneira que a máxima da sua ação possa se tornar uma lei geral para todos os seres inteligíveis”.
Junto com o imperativo de Kant e a Regra de Ouro, Arendt cita outra passagem de Mateus, “Ama o teu próximo como a ti mesmo” (22, 39), e a afirmação de Sócrates no diálogo platônico Górgias, segundo a qual é melhor sofrer o erro do que praticá-lo. Ao longo do diálogo, essa regra é repetida em formulações diferentes por Sócrates, que percebe sua fragilidade, mas insiste na ideia de que é maior o peso da vergonha de quem pratica o mal. O que une as proposições destacadas — dos Evangelhos, da Antiguidade e de um autor moderno — é que todas elas têm o eu como ponto de partida da regra moral. O que fundamenta essa referência de conduta guarda um entendimento a respeito de nossas capacidades mentais/espirituais.
……………

……………….
Nossa existência se caracteriza pela consciência que temos de nós mesmos. Por exemplo, a mais determinante e dura delas, sabemos que somos finitos. Identificamos as coisas de que gostamos ou não, quem nos dá afeto e protege ou não. Mais comuns ou por vezes traumáticas, as referências daquilo que nos causa prazer e desprazer vão moldando nossas expectativas. A consciência e a consciência de si são alimentadas ou negligenciadas e as consequências desse cuidado ou sua falta vão concorrendo para nossa vida; vida aqui entendida como nossa condição humana, nossas capacidades e escolhas. A consciência é a noção de realidade, do espaço e do tempo. A consciência de si é a atenção a motivações, ações e limitações, o conhecimento de si mesmo. Se não tivermos clareza em relação a quem somos, nossos limites e possibilidades, a chance de cometermos erros é considerável, ainda levando em conta que esse “eu” não se completa; ao longo de nossa vivência o que acontece é um processo de mudança em que é preciso elaborar constantemente quem somos, sem que possamos chegar a uma resposta definitiva.
Na medida em que vivemos, percebemos que lidar com certas situações desafia nossa clareza quanto ao que somos e queremos. Se aparece uma oportunidade de realizarmos algo muito almejado, mas que vai prejudicar uma relação ou alguém, precisamos examinar se vamos poder lidar posteriormente com esse prejuízo ou com o efeito em outras pessoas. É preciso lembrar que vivemos em um tempo no qual o desejo geralmente prevalece. Realizado o desejo, vamos conseguir dormir tranquilos? A ideia de colocar a cabeça no travesseiro e não dormir tranquilamente, de não usufruir de um período de descanso necessário por causa do “peso na consciência”, como se diz, de uma má conduta, é algo que nos incomoda e serve de alerta. A questão é que a principal pessoa com a qual convivemos somos nós mesmos. O que há de mais recôndito em nossas intenções está guardado em nossos corações como sombras. Algumas vezes não é nada bonito de se ver, pois somos seres imperfeitos, que sentem raiva, inveja, preguiça. Não mentir para si mesmo sobre essas imperfeições, talvez seja um dos mais importantes compromissos que temos para conosco. A consciência de nossa falibilidade nos leva à maior consciência da fraqueza humana, mas também, consequentemente, de sua força e potência. Se fazemos o mal ou o bem, teremos que conviver primeiro com quem praticou certos atos, ou seja, nós mesmos, daí a máxima da moralidade socrática: “cometer injustiça é pior do que sofrer injustiça”, desdobramento da ideia de que não podemos entrar em contradição com nós mesmos, logo, não podemos fazer algo ao outro que não gostaríamos que ele fizesse contra nós.
Aquela elaboração de Arendt chega à seguinte conclusão: do reconhecimento do eu chegamos à capacidade de pensar, de dialogar com nós mesmos. Na moralidade está implicada a consciência de si que conduz ao pensamento, à capacidade que precisamos reconhecer e praticar de conversarmos com nós mesmos, de nos esforçarmos para não estar em contradição com o que somos, de não agir contra o outro porque, de certo modo, estaríamos agindo contra nós mesmos. O mal — a desumanidade que é estreiteza, superficialidade, negação, descaso — pode ser evitado se cada um se comprometer a pensar, ou seja, a não ser negligente no exame de si.
Em um pequeno texto de 1990, Paul Ricoeur trata da tensão central para a ética cristã entre a Regra de Ouro e o “Ama a teu próximo como a ti mesmo”. O paradoxo entre a lógica da equivalência da Regra — pois a minha conduta equivale à dos outros — e a lógica da superabundância do mandamento — pois o amor transborda como referência e se estende a todo próximo, até ao inimigo — desorienta, porque é um conflito entre o autointeresse e o autossacrifício, entre a justiça bilateral e o amor unilateral. E aqui o raciocínio faz lembrar outra vez a moralidade socrática, como destacada por Arendt. Contudo, afirma Ricoeur, essa desorientação tem o propósito de reorientar, levar a uma reinterpretação necessária da moralidade. Para ele, a superabundância se torna a verdade escondida da equivalência, ou seja, a consideração magnânima do amor ao próximo se impõe.
……………..
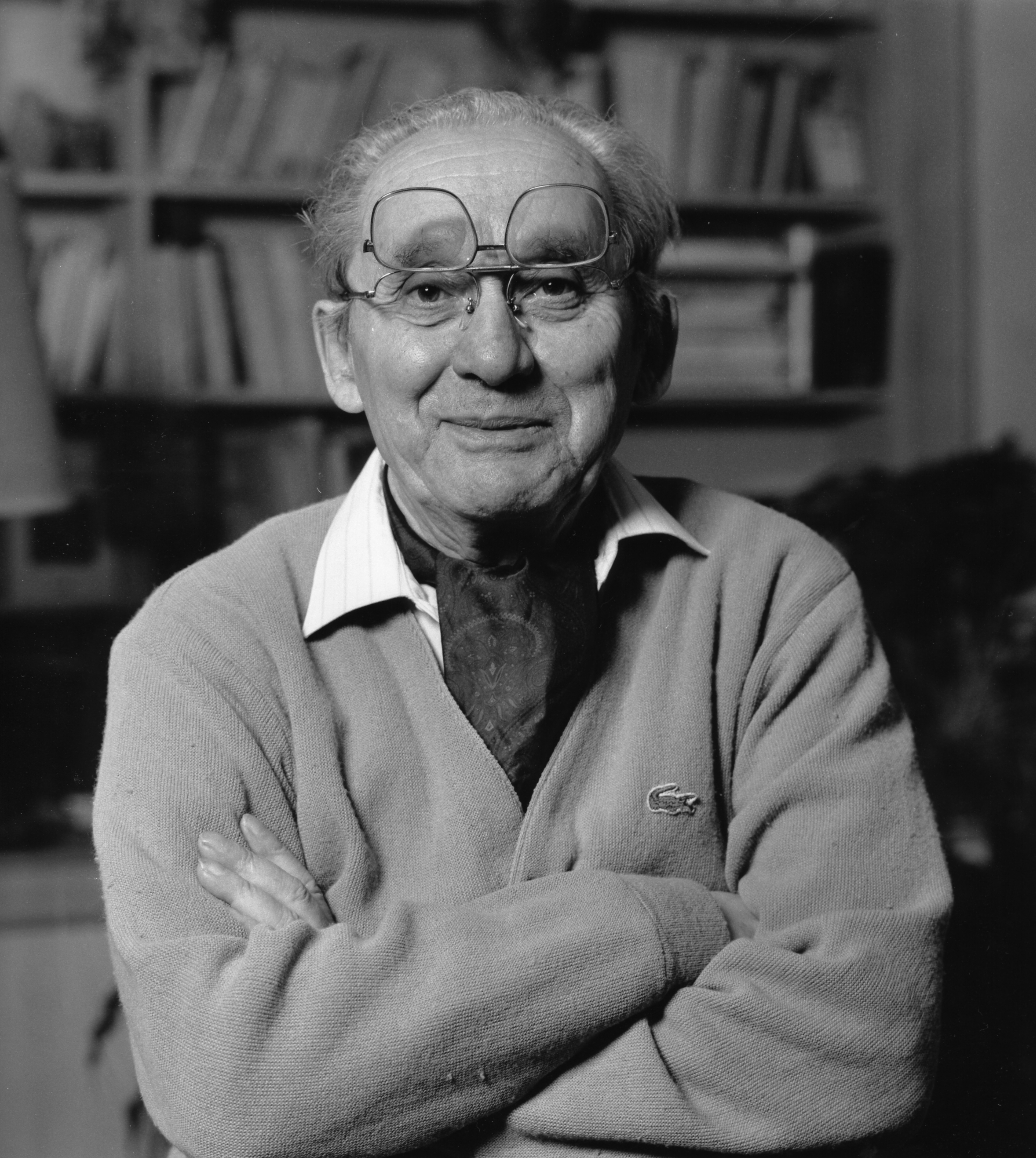
……………..
No entanto, a questão da autorreferência permanece; a tensão do conflito entre o interesse próprio e o autossacrifício de amar até mesmo um inimigo. E voltamos à ideia de Sócrates: é melhor sofrer o erro do que cometê-lo. Como consideramos hoje esse conflito? É possível que esse amor se sobreponha? Será que ele, transformado em respeito, vá lá, ainda pode ser evocado como princípio efetivo de conduta moral? Como e em que está transformada essa convivência que temos com nós mesmos? Nas condições em que vivemos, na situação de urgência, de limite, como fica a moralidade? Qual é a reinterpretação, uma reorientação possível dos princípios destacados aqui?
A pandemia exigiu de nós respostas para um conjunto de perguntas a respeito de nossa própria situação e da consideração das condições de vida dos outros. No Brasil, muitos precisam sair de casa todos os dias para ganhar a vida, conseguir o almoço e, com sorte, o jantar. Ficamos sabendo do cotidiano de trabalho estafante dos profissionais de saúde. Ouvimos e pensamos sobre as consequências de “sair de casa”, não usar máscara, “aglomerar”. Ligamos a TV e ouvimos as orientações de médicos e de cientistas. Muitos relatos dramáticos de sofrimento terrível, destacados por grande parte da imprensa para sensibilizar as pessoas e estimulá-las a seguir a ciência e deixar disputas, na verdade antipolíticas, de lado.
Além dos relatos de situações terríveis, ficamos sabendo de iniciativas de arrecadação de cestas básicas, de mutirão para conseguir oxigênio, mas também de gente que foi tomar a vacina fora do Brasil, de empresários que pagaram uma falsa enfermeira que aplicou vacinas falsas. Enfim, gestos de solidariedade, podemos dizer de “amor ao próximo”, e do mais mesquinho interesse privado. Alguns têm claramente a medida do que se deve fazer: proteger a si mesmo, respeitar o próximo e cobrar medidas contra a desumanidade que, infelizmente, vemos todos os dias. Tenhamos em mente que o mal não é propriamente a doença. O vírus é natural e na natureza não há moralidade, a distinção entre bem e mal, certo e errado. O mal que enfrentamos é a má conduta para enfrentar a ameaça da doença. O mal está em alguns seres humanos, não no vírus.
Portanto, as perguntas são: ainda é válida e forte a ideia segundo a qual é pior causar o mal do que sofrê-lo? Quantas pessoas pensam que é pior ser irresponsável e transmitir a doença do que sofrer o mal? A resposta a essa pergunta repete em novo cenário as máximas que comentamos: (1) Há preocupação com o que faço porque não quero que os outros façam algo ruim comigo. Não vou fazer nada que prejudique outros e não serei conivente com quem age e comete o mal. (2) Amo — ou respeito — as outras pessoas. (3) Não suportaria causar mal, porque teria de conviver com a culpa de ter feito mal a alguém. A validade dessas concepções se destaca em contextos de urgência, quando o cenário é absolutamente assustador e os seres humanos são obrigados a parar as suas vidas. Mas ao mesmo tempo, sabemos que esses princípios são frágeis porque é débil ou inexistente o cultivo da atenção profunda ao eu, tanto hoje como há 2.400 anos.
Negar a realidade e fugir dos desafios são recorrentes e alimentam a desumanidade por serem atitudes rasas. Podemos insistir na ideia do pensamento, na importância da consciência de si, do conhece-te a ti mesmo, de se reconhecer o perigo pelo qual passamos graças à atenção à realidade, por mais dramática e complexa que seja. Na urgência, a realidade é duramente jogada sobre nós. Mas até que ponto essa cobrança de boa convivência consigo mesmo, que é o pensamento, é realista? Antes da pandemia já vivíamos em um contexto de difícil estímulo ao pensamento, aos momentos de silêncio sem celulares nem “selfies”, sem apelo constante à criação e à manutenção de uma imagem de si mesmo substituta da consciência de si.
A tentativa final de Sócrates/Platão no diálogo Górgias, assim como n’A República, é a ameaça do castigo depois da morte. Sofrimentos e suplícios sem fim esperam os tiranos, os maus, no além vida. A resposta da tradição religiosa investe na mesma ameaça. Estamos, portanto, há séculos lutando para encontrar um argumento que convença, que possa bastar para que o ser humano escolha agir pelo bem. Hoje esta tradição já não se sustenta, apenas sendo lembrada por estarmos acuados e desesperados. O pensamento, então, toma a frente, mas em uma sociedade anestesiada pelo investimento no falso eu das redes sociais, das fotos retocadas, das mentes entregues a qualquer delinquente que pareça resolver a complexidade da vida com uma arma e com a linguagem chula de quem nunca compreendeu a gravidade e a responsabilidade da vida pública.
Se a alma humana é mesmo um abismo, como nos ensina o poeta, para conseguir sobreviver a grandes desafios é preciso passar para além da dor. Mergulhados nela, precisamos compreendê-la para resistir e seguir. O fato desafiador é que, na verdade, as pessoas que agem do melhor modo em situações-limite talvez nem tenham parado para pensar em como agir, porque essas ideias de reciprocidade e consideração ao outro já são claras, autoevidentes para elas. Como fazer para que esses princípios que impedem o mal sejam autoevidentes? Não basta fazer campanhas, criar mais leis, muito menos imaginar que a escola resolva o problema. Também é uma esperança vã imaginar que nos livraremos totalmente do mal. Mas é possível constrangê-lo, reduzi-lo, o que demanda tempo, exemplo, esforço para preservar a memória, justiça e proteção da verdade dos fatos. A pandemia ainda não acabou e só poderemos dimensionar as suas consequências, também no âmbito da moralidade, quando ela passar. Não temos motivos para acreditar em um profundo e duradouro aprendizado, mas sabemos que a dor e a indignação que explode diante da repetitiva negação de sua realidade destrutiva às vezes ensinam a amar/a respeitar o outro, este ser igual e tão diferente de nós mesmos.
…………

…………………..
Referências
ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. Ed. Jerome Kohn, Bethânia Assy. Tradução Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
BÍBLIA, volume I: Novo Testamento: os quatro Evangelhos. Tradução, apresentação e notas Frederico Lourenço. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2005.
PLATÃO. Protágoras, Górgias, Fedão. 2.ed.rev. Tradução Carlos Alberto Nunes. Belém: Ed. UFPA, 2002.
________. A República. 7.ed. Introdução, tradução e notas Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.
RICOEUR, Paul. “The Golden Rule: Exegetical and Theological Perplexities. New Testament Studies, Vol. 36, Issue 03, July 1990, pp. 392-397. Disponível em: http://journals.cambridge.org/abstract_S0028688500015812 (Agradeço a Ana Carolina Batista por encontrar e compartilhar este texto de Paul Ricoeur.)




