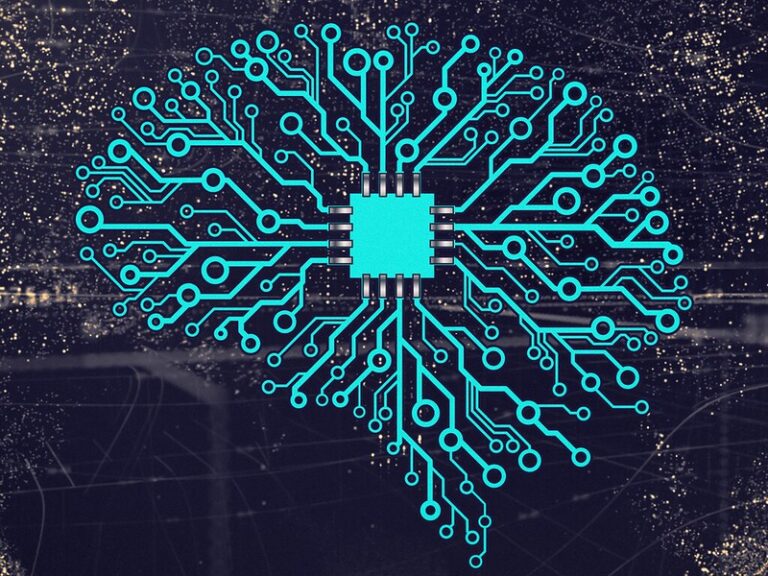por Marcio Luiz Miotto
…..

…
Com o início da pandemia, rapidamente difundiu-se o tema de que, ao menos desta vez, temos a nosso favor a tecnologia. Sob esse tema, o uso de “instrumentos remotos de aprendizagem” foi vendido como espécie de panacéia para dizer que, ao menos em torno da educação, o “emergencial” poderia minimizar, ou até substituir, o “normal”, tanto quanto o “remoto” substituiria o “presencial”.
Mas 2020 também trouxe coisas inesperadas, como as ondas de fake news, o negacionismo científico e as campanhas de ódio. Remédios foram vendidos como panacéia para curar Covid-19 sem a devida comprovação científica. E além disso, há diferentes gestões para a crise. Há políticas públicas não unificadas que vão das formas diversas de enfrentar a pandemia ao (não)suporte ao trabalhador. Isso autorizaria a perguntar também sobre as políticas pedagógicas: como, nesse contexto mais amplo, insere-se o “ensino emergencial”?
Sobre isso, o presente texto pretende chamar a atenção a duas questões: a respeito do “ensino remoto”, talvez não se tenha dado a devida atenção ao que o termo diz de “remoto”, isto é, ao que está em jogo quanto às tecnologias empregadas. E quanto à discussão sobre o “ensino”, talvez a discussão pedagógica, sobre os efeitos do “ensino remoto” (que não é EAD), também não tenha sido inteiramente feita. Qual é o sentido do “ensino remoto” na pandemia de 2020, entre as promessas tecnológicas e o negacionismo vigente?
…..
Generalização dos aplicativos, Big Data e educação (o “ensino remoto” requer a pergunta sobre o “remoto”)
Nos idos de março, quando estourou a pandemia, anunciava-se que empresas como o Google ou o Facebook perderiam dezenas de bilhões em anúncios. Mas esse foi um dado parcial: se em áreas como o turismo os anúncios perderam investimento, em outras áreas, como YouTube, computação em nuvem e aplicativos de teleconferência houve grandes saltos. As cifras do Facebook com usuários cresceram em 17% e aplicativos como o Instagram tiveram aumento de 10% no número de usuários. Em relação a outros períodos, a receita do Google aumentou 13%. Caso se olhe para a evolução das ações de ambas as empresas, uma queda drástica entre fevereiro e março deu lugar a uma recuperação vertiginosa depois, ultrapassando vantajosamente os patamares anteriores (exceto na recente campanha contra o ódio e as fake news).
…

…
Os termos acima dão o tom: o uso de serviços de aplicativos online e teleconferência, bem como das redes sociais, multiplicou. Se sustentamos o discurso de que essa pandemia seria diferente das demais porque teríamos ao nosso lado a tecnologia, é inegável que as “tecnologias da inteligência” do Google, do Facebook, da Microsoft e de outros estão de vento em popa. Isso desconsiderando algo ainda mais visível: essa é de fato uma pandemia dos aplicativos e dos diversos serviços relacionados, como os de delivery.
Como se sabe, um dos grandes motivadores desse aumento de consumo é a educação. Em determinadas semanas de março, a procura por Chromebooks, por exemplo, aumentou 400% em relação a anos anteriores. A busca por algumas plataformas de cursos aumentou em 500%. O Google Classroom ao menos dobrou o número de acessos. O Google Meet chegou a ter a mais 3 milhões de novos usuários por dia. O mesmo com as outras empresas: os valores aumentados parecem ser sempre da ordem da multiplicação. Esse chamado à “educação remota” pareceu se transformar num imperativo incontornável, a ponto de certos veículos de imprensa anunciarem que, enquanto a educação privada embarcou no bonde da História com seus tablets miraculosos e inúmeros outros gadgets, a educação pública teria ficado para trás.
Mas olhando com um pouco mais de atenção, o exemplo acima do delivery permite entrever certas coisas, uma vez que a palavra “aplicativo” não tem o mesmo significado em diferentes serviços (comecemos com algumas obviedades, mas que revelarão questões não tão óbvias). Dizer, por exemplo, que a entrega de um serviço – como o de pizza — foi do real para o virtual via aplicativo não equivale a dizer que se educa da mesma forma no real e no virtual via aplicativo. A pizza comprada no balcão ou recebida via motoboy continua sendo pizza — os meios, a mídia do serviço mudou enquanto a finalidade continua relativamente a mesma —, mas parece bastante evidente que a educação em sala de aula é bem diversa daquela do aluno em casa, no meio de uma pandemia e inerte diante de uma telinha (muitas vezes, só a do celular). Por assim dizer, a substituição da pizza do balcão por aquela do aplicativo não mudou o produto do trabalho — a pizza —, embora não se possa dizer o mesmo com a educação, que passou do presencial para o remoto (logo mais retornaremos a isso).
Há diferenças também quando se pergunta sobre quem é o cliente e quem presta o serviço. No mercado de aplicativos de entrega de algum tipo de serviço, há ao menos dois tipos: no primeiro, o dono do restaurante, responsável pela entrega da pizza, paga taxas ao aplicativo para poder fazer parte da plataforma. Nesse caso, quem é o cliente do aplicativo? É o empresário. Quanto ao usuário do serviço (quem “pede a pizza“), ele também é cliente, mas da pizzaria. Em relação ao aplicativo — repitamos —, ele é apenas um usuário. No segundo tipo de serviço, o aplicativo se responsabiliza apenas pela entrega: a empresa contrata o aplicativo, que liga o motoboy (que acessa o aplicativo) ao empresário (que entrega o produto). O cliente do aplicativo, assim, é a empresa. Quanto ao público em geral, nesse caso ele não é sequer usuário do aplicativo. Se ele é cliente, é da empresa.
Essas duas modalidades de aplicativos de serviços permitem ver o seguinte: em relação ao prestador de serviços (o empresário que quer entregar seu produto), o público em geral é cliente. Mas em relação ao aplicativo, no primeiro caso o público é apenas um usuário, e no segundo não. Em nenhum destes casos o público é cliente. O cliente do aplicativo é o empresário que quer impactar o usuário no primeiro caso, ou fazer uma boa entrega no segundo.
E em educação? Quando se faz “educação remota” com aplicativos, que posição ocupa a escola, o professor, o aluno e o aplicativo? É preciso aqui alargar o horizonte, pois softwares de computador com função educativa não são novidade. Tome-se por exemplo pacotes como o do Office: a não ser que o usuário pirateie o programa (o que é um crime), o Office e similares são pagos (e as plataformas da Microsoft e outras tem cada vez mais explorado o conceito de que os pagamentos precisam ser renováveis). Nesses casos, o usuário é igualmente o cliente. É claro que há pacotes gratuitos e de fonte aberta, mas nestes o usuário é também uma espécie de “cliente” ou destinatário final.
Ou melhor — importa realçar também isso —, no caso dos programas de software livre ou fonte aberta, a relação não é a mesma daquela do “software proprietário” (aquele, como o Office, cujos direitos permanecem restritos ao dono do aplicativo). No software livre ou de fonte aberta o usuário não é um cliente, mas sim uma espécie de colaborador. O princípio mesmo de software aberto diz isso: o programa, o “serviço” a ser oferecido, não é um produto a ser vendido, mas um projeto colaborativo cuja finalidade pode ser sempre alterada, derivada por ex. em forks de softwares alternativos. O usuário não é cliente de um serviço e nem apenas usuário: mesmo que permaneça por assim dizer “passivo” (não desenvolvendo programação), a finalidade mesma do aplicativo se altera com o próprio uso do usuário. O código permanece aberto e pode ser desdobrado por outras pessoas, incluso sob finalidades não previstas no início. E isso significa, mais uma vez, dizer o seguinte: em programas pagos, como o do Office, é certo que há mudanças em relação a demandas de clientes, mas o princípio básico é que o código permanece fechado – sob direitos de uso dados pela empresa – e o cliente emprega uma tecnologia cujos fins e por vezes até a duração do uso já são prescritos por outrem, pelo prestador (mesmo que modificáveis pelo prestador). No caso do open source, não se emprega um instrumento produzido por outrem, pois o princípio da fonte aberta implica que se produza o próprio produto. A noção de “usuário” é deslocada para a de colaborador, ou melhor, de “co-criador” do serviço.
Isso toca numa questão sensível, pois percebe-se que um gadget tecnológico não é algo “neutro”. Quem define a linguagem definirá também a estrutura da fala, do uso: os donos de um programa fechado são capazes de definir boa parte de seus meios e fins, interferindo no uso inteiro dele, naquilo que — digamos assim — ele “produzirá” na realidade (de modo que a importância de um software ser “aberto” é evidente). Não apenas em educação, mas em diversas outras áreas, a plataforma escolhida definirá em muito o resultado a ser entregue. Há, inclusive, imensas disputas em relação a isso. Acabamos de ver o governo brasileiro buscando privatizar a Serpro e recorrendo por meio dela a serviços privados como os da Amazon (mas também estão na lista o Google, a IBM, a Huawei e outras). Antes da pandemia, a Amazon já pregava pesado a necessidade de empregar gadgets como os seus em educação. Só o governo de São Paulo já investiu 1 bilhão em tais negócios. Nos EUA, a mesma corporação já enfrentava duras críticas de seus próprios funcionários, aplicando softwares de reconhecimento facial para filtrar imigrantes ilegais (o Google já recebera críticas de fundo ético semelhante). No caso do Brasil, gigantes assim desenvolvem e oferecem sistemas responsáveis por inúmeros dados públicos de um governo situado em outro país.
O detentor de uma plataforma não apenas vende seus serviços, mas orienta os fins aos quais serão empregados. Diante disso, os defensores do “software livre” sempre argumentaram que autonomia tecnológica e governamental são irmãssiamesas (e países como Alemanha, França, Espanha, África do Sul e China desenvolveram plataformas autônomas pujantes para defender seus próprios interesses). É ver tais coisas e constatar que um país que se importa com sua autonomia, soberania e questões estratégicas nunca deixaria de lado a autonomia sobre suas próprias mídias (caso contrário, o que significaria valorizar apenas os setores militares?). Igualmente, na era dos Big Data, não deixa de surpreender como certos países sequer se engajam em informar os dados sobre a pandemia.
E no que diz respeito à pesquisa e à fortuna documental e intelectual dos países, sempre ocorreu o mesmo: diversos empreendimentos de vários países tentaram contornar hegemonias de gigantescas iniciativas privadas que passaram a controlar o uso de pesquisas científicas e bibliotecas digitais. Um dos casos mais dramáticos desse tema é o de Aaron Swartz, um dos criadores da licença Creative Commons: após liberar ao público aberto milhões de artigos científicos do diretório JStor (de acesso fechado e pago), ele foi envolvido num esquema de assédio e criminalização que culminou em sua morte. O pesquisador que hoje conhece sistemas como o LibGen e o Sci-Hub e todas as polêmicas decorrentes do uso livre ou não do conhecimento talvez não imagine que se, hoje, uma gentil programadora dá um “tchauzinho” a cada artigo vinculado no Sci-Hub, em outros tempos já morreu gente lutando por tais assuntos.
….

…
O uso de softwares para questões culturais e intelectuais nunca foi neutro, nem na forma e nem na preservação do conteúdo. Países interessados na própria autonomia e riqueza sempre prestaram atenção nisso.
Sob esse contexto é possível retornar à questão da educação no contexto da pandemia. Dizia-se mais acima que, com a pandemia, o “ensino remoto” apareceu como opção incontornável num mundo que passou a multiplicar o uso de aplicativos. Nesse admirável mundo novo, aplicativos de vídeo, teleconferência e vários outros dão lugar a um universo generalizado de lives (e outros) tornado imperativo. Dados tais fatores e considerando escolas, professores e alunos que recorrem aos aplicativos, a pergunta retorna: quem é o cliente, e quem é o prestador do serviço? Os aplicativos de videoconferência ou de organização de materiais escolares (como o Google Meet ou o Classroom), por exemplo, não são simples filantropia, e existem porque prestam serviços. Mas a quem?
Sabemos bem quem são os usuários — são os professores e os alunos. Mas em nenhum dos casos há uma transação financeira deles, eles não são clientes salvo numa contratação explícita de serviços destinada ao aplicativo. As opções acima, nisso tudo, tornam-se insuficientes para explicar o que tem ocorrido: os aplicativos de aprendizagem não são semelhantes nem às prestações de serviço exploradas mais acima (nas quais o prestador do serviço paga pelo aplicativo), nem ao princípio de software proprietário (no qual o usuário é também cliente e paga pelo aplicativo), tampouco ao princípio de software livre (no qual o usuário é também — mesmo que em tese — co-criador e desenvolvedor do aplicativo). Isso porque, conforme já entrevisto acima, os usuários — escola, professor e aluno — não são, necessária e suficientemente, os clientes.
Tampouco os professores, ou mesmo as escolas, “recorrem” aos aplicativos para prestar um serviço aos alunos sob os mesmos moldes dos aplicativos anteriores. Mesmo considerando os casos mais bizarros, nos quais faculdades privadas demitiram em massa professores para dar lugar à contratação de simples palestras por instrumentos remotos, o uso eventual do aplicativo, sem a explícita contratação, não posiciona as faculdades como clientes. Os clientes dos aplicativos, como se sabe, são predominantemente os anunciantes.
Qual é então a função do usuário? É — como diz gente tão diferente como Jaron Lanier e Brittany Kaiser — a de aprimorar o engagement, o “engajamento”, isto é, a interação do usuário com o produto anunciado ou com a plataforma anunciadora do produto: quando não é objeto direto de um anúncio (cujo sujeito é o anunciante), o usuário de um aplicativo e suas operações nele são objeto indireto para aprimoramento do engagement (não à toa o vocabulário se parece com o militar: criar estratégias para gerar impacto e engajamento). Nesse sentido o usuário, além de não ser cliente, sob o ponto de vista do aplicativo jamais é sujeito das operações que efetua (a não ser que o chamemos de “sujeito” no mesmo sentido empregado nos experimentos de comportamento psicológico). Seus comportamentos no aplicativo servem, assim, como fontes de informação para bancos de dados que entrecruzam imensos dados e padrões estatísticos para aprimorar o engagement, tornando o aplicativo mais eficaz e atrativo aos anunciantes porque atrai ou gera operações com usuários. O princípio do aplicativo “gratuito” corresponde ao que diz o ditado popular sobre “não haver almoço grátis”, ou àquele outro meme que dizia: se o usuário não é cliente, é porque é o produto.
Jaron Lanier, cientista da computação e co-criador da interface de realidade virtual, tentou recorrer à linguagem dos psicólogos para descrever como funciona os aplicativos de rede social e em que sentido o usuário é alvo ou “produto” de estratégias de “engajamento”. Em seu livro Dez Argumentos para deletar agora suas redes sociais, ele atacou a psicologia comportamental de B. F. Skinner para ilustrar como esses aplicativos funcionam. Apesar de suas críticas serem um pouco injustas (incorrendo em mal-entendidos clássicos sobre o behaviorismo), o livro não é apenas um libelo para “deletar” redes sociais, mas sim uma reflexão sobre controle e contracontrole (um tema skinneriano) na internet.
….

….
Skinner, quando vivo, chamava a atenção ao fato de que o homem nunca deu real importância à questão do controle, pois sempre ligou a noção de controle ao controle aversivo, aquele que por assim dizer é punitivo, do tipo que se tentaria evitar porque em geral “cria sofrimento” ou “faz doer” (embora isso seja inexato). Mas — Skinner o demonstrava — o controle aversivo, com suas punições e proibições, é apenas uma pequena parte do controle do comportamento (pois para ele todo comportamento implica controle). Nem todo controle “diz não” ou apenas castiga. E se é assim, teria restado sempre uma grande lacuna sobre como encarar outras formas de controle e sua possível generalização. Ninguém teria prestado atenção nisso.
Skinner demonstrou muitas vezes que há controles não aversivos, que são por assim dizer “produtivos” e não se primam por evitação (ou “esquiva”), afastamento (ou “fuga”) ou revolta (ou “respostas emocionais”) dos indivíduos controlados, mas pela colaboração ou engajamento proativo deles. Por exemplo, uma criança que “escolhe” um sorvete está, para além de um “ato livre”, implicada com diversas contingências de controle: a presença do sorvete ou de situações nas quais ele é apresentado (e outras eventuais circunstâncias importantes), o histórico das outras vezes nas quais pôde ou não escolher, as consequências possíveis da “escolha”, e assim por diante, de forma que cada um desses aspectos contextuais concorreriam para algum tipo de “escolha” possível. A análise desse tipo de contingências controladoras sempre foi vista com desconfiança pelos críticos de Skinner, por motivos óbvios: se Skinner dizia que uma pessoa que faz algo por “livre vontade” ou “escolha” estaria no fundo agindo sob contingências controladoras, é porque no fundo o behaviorista negaria o livre-arbítrio e a autonomia das pessoas. Pior ainda: ele estaria promovendo formas de controle irrefletidas (por vezes ligadas aos costumes do norte-americano médio). Como concordar que, no livre exercício de sua escolha, um homem agiria no fundo sob certo controle, e mais ainda, que a “liberdade” não passasse de um nome (uma etiqueta verbal) para certas ações e a “ação livre” seria objeto de certas técnicas de controle? Skinner respondia advertindo que a ausência de discussão sobre isso poderia levar nossa cultura a péssimos caminhos.
…

….
É exatamente a esse problema aplicado às redes sociais e aplicativos atuais que Lanier, usando um pouco de folk psychology, tenta chamar a atenção (imaginando que, ao fazer isso, estaria criticando Skinner). Tome-se o exemplo mencionado da criança que “escolhe” o sorvete. Imagine o leitor se existisse um aparelho no qual todas as situações de escolha da criança pudessem ser registradas, bem como os eventos de “escolha” propriamente ditos e as consequências oriundas delas. Seria possível antever sob que circunstâncias uma escolha seria mais provável ou não, e mesmo, tendo em mãos esses dados, arriscar boas hipóteses sobre quais eventos antecedentes poderiam ocasionar determinadas escolhas.
Se fosse possível recolher todos esses dados, imagine-se o quanto seriam preciosos para o vendedor de sorvetes. E é precisamente essa a questão colocada por Lanier: os aplicativos de redes sociais tornaram-se imensas plataformas de colhimento de dados com modelos probabilísticos para gerar engagement e, por meio dele, receita (na interação com anúncios). Muito melhor do que o ambiente “aberto” do mundo real (cheio de circunstâncias de difícil controle), as delimitações de um aplicativo o tornam uma mina de informações. É impossível prever de forma absoluta um comportamento de escolha de produto, mas é possível criar modelos estatísticos de predição, arriscar hipóteses e registrar os resultados para melhorar o desempenho desses modelos. Some-se a isso que não há apenas um indivíduo operando o aplicativo, mas milhões, e as possibilidades preditivas se multiplicam. Lanier chamou a atenção: até os anos 1990, quando alguém se tornava objeto de algum tipo de colhimento de informações, isso geralmente ocorria nas universidades, em departamentos de psicologia que davam formulários de consentimento. Mas desde alguns anos, basta que o usuário assinale uma caixinha de concordância e um aplicativo comercial pode colher e usar qualquer informação pessoal baseando-se naquelas cláusulas que ninguém nunca lê.
Usando o linguajar de Lanier e considerando os aplicativos de redes sociais, diferentes dos aplicativos descritos mais acima eles são verdadeiras “caixas de Skinner“. Neles, o usuário torna-se objeto (ou target, alvo) de estratégias de engagement que visam ao mesmo tempo a permanência do usuário e de outros usuários na plataforma, e interações que satisfaçam os verdadeiros clientes — os anunciantes.
Mas não é apenas isso. Gerar receita a partir de engagement não é a única finalidade dos aplicativos de redes sociais. Até porque, como se percebe, é preciso estar no aplicativo e fazer com que outros também o visitem para realizar os princípios do engagement e da receita. É preciso estar “motivado” a permanecer o máximo possível no aplicativo, por assim dizer ele tem que “trazer algum benefício” que garanta a permanência do uso. É preciso que o aplicativo seja funcional para atividades diárias — um pacote de aplicativos úteis, acessíveis e fáceis de usar cumprem bem esse papel. É preciso, igualmente, que o aplicativo seja funcional para relações com outras pessoas — uma boa rede social, onde todo mundo também pode ser encontrado, também o cumpre. Se é assim, nada melhor do que uma rede de aplicativos que ultrapassem um simples produto e multiplique a estadia e frequência de acesso. Afinal, quanto mais presença ou atenção na plataforma, maior é o engagement.
Talvez não se trate, com isso, apenas de dizer que os aplicativos nos “excitam” ou “roubam nossa atenção“, pois eles foram feitos precisamente para gerar permanência. “Roubar a atenção” não é um efeito colateral, mas a própria finalidade das estratégias de engagement, que envolvem por assim dizer “técnicas de controle” (e não à toa a folk psycology de Lanier compara os aplicativos de rede social aos vícios nos jogos de azar, exemplo não apenas dele). Veja-se, por exemplo, a concorrência para que certos serviços de transmissão de vídeo ofereceçam a plataforma não apenas mais funcional, mas com maior público de usuários. Em jogo não está simplesmente a filantropia ou o combate à pandemia, mas o engagement que aumenta a probabilidade de receita. A peça-chave é: obter mais permanência e permanência de mais gente.
Por isso é preciso ter também estratégias de market share — conquistar diversas frações de mercado — em segmentos que não são exatamente os mesmos daqueles que geram receita. Navegar em determinado navegador e não em outro, por exemplo, serve de contexto para que provavelmente se acione certa máquina de busca e não outra, ou usar certo programa de vídeo e não outro (e assim por diante), o que aumenta a probabilidade de clicar em certo anunciante e não em outro. E o mesmo ocorre com as licenças limitadas, os pacotes freemium ou mesmo os softwares livres que tornam quase imperativo o uso de certos pacotes de aplicativo e não outros. É preciso criar um ambiente virtual inteiro, orgânico, totalizante, que permita comportamentos intermediários (interações sociais, usos educativos, home office etc.) mas cuja finalidade última é de aumentar as probabilidades de engagement.
Poder-se-ia dizer que sob a noção de engagement alguns ideais de qualquer empresa se realizariam: manter cativas as fontes de interesse dos clientes (isto é, manter os usuários sempre “expostos” ao produto anunciado), universalizar a marca (para clientes e usuários) e maximizar os índices de interação (dos usuários) para gerar receita (dos clientes). Afinal, as pessoas — os clientes-sujeitos da publicidade ou os usuários-objetos de engagement — assinalam seu ok nas devidas cláusulas. E poder-se-ia dizer, igualmente, que antes da pandemia já era assim. Professores já destinavam vídeos, arquivos e inúmeros outros materiais que os próprios alunos igualmente trocavam entre si, nas mesmas redes que agora lideram o boom do ensino remoto.
Mas mesmo que alguém (e esses seres hoje existem) dispense a ideia de que o liberalismo econômico e político deva garantir a livre e autônoma ação de seus cidadãos, tornados sujeitos de todas as interações (não apenas target passivo de estratégias de controle intermitente para engagement), há aí uma mudança essencial. Se antes as decisões para utilizar um aplicativo se pautavam pela individualidade ou pela informalidade, elas agora se tornaram massivamente coletivas; não apenas coletivas, mas institucionalizadas; não apenas institucionalizadas, mas sob certa universalização jamais alcançada anteriormente (realizando talvez o “ponto sem volta” ao qual advertia Martin Moore). A pandemia criou uma injunção na qual não vivemos mais a situação do amigo que recomendou uma nova plataforma de e-mail gratuito, ou do professor eventualmente disponibilizando seus arquivos numa nuvem. No ano 2020, abundam os relatos nos quais se é praticamente constrangido a usar um aplicativo privado para realizar certas tarefas sob um imperativo dado como supostamente incontornável (Skinner diria: aqui, sim, trata-se de um controle aversivo, de esquiva contingente à provável apresentação de futuras consequências punitivas).
…

…
E isso ocorre com instituições inteiras. Sob o exemplo da educação, escolas, faculdades e universidades prescrevem o aplicativo X ou Y para o “ensino remoto” de milhões de alunos. Chega-se a determinar que professores e alunos arquem com dinheiro próprio para comprar certos aparelhos, conexão e eventualmente aplicativos para aderirem aos “instrumentos mediados por computador”, sob combinados de regras não explícitas nos quais estão sujeitos ao limbo do assédio ou da reprovação. São, enfim, constrangidos (por pretexto de ter que resolver uma contradição entre “economia x saúde” criada por certos governos) a se tornar objetos de instrumentos cujos beneficiários finais são terceiros. Instrumentos esses que, conforme visto acima, são eminentemente privados, muito lucrativos, apenas relativamente orientados aos usuários e, no caso das instituições públicas, sequer cogitados para licitação (até licitações, aliás, tornaram-se problema). Trata-se do serviço perfeito: máximo resultado para maximização de clientes (via de regra, anunciantes), não raramente envolvendo sem burocracia organizações estatais ou os até certos governos. Chegando-se, finalmente, ao paroxismo de que todo mundo use a mesma plataforma e gere uma espécie de engagement absoluto.
Isso tudo ainda poderia parecer inofensivo se não envolvesse escândalos como os ocorridos há alguns anos, quando se descobriu que consultorias de marketing político — como a Cambridge Analytica — passaram a atuar pesadamente nas redes sociais, influenciando resultados como o do Brexit e da eleição de Trump. Afinal, as redes sociais se tornaram uma mina de ouro, e a simples permanência na rede já garantiria o ouro (estar na rede significa oferecer material para qualquer eventual cliente, inclusive político). Mesmo que o usuário não deseje ser objeto de estratégias políticas, a simples “permanência” nos aplicativos já é estofo para tais estratégias. Conforme o pesquisador Giuliano Da Empoli situou em seu livro Os Engenheiros do Caos, os novos populismos mundiais ancoram-se precisamente no engagement: eles não apenas usam as redes sociais para obter resultados, mas a própria política transformou-se numa espécie de rede social, usando cuidadosamente estratégias de engagement por pretexto de “apartidarismo” (muitos governantes estão aí por causa disso). Cria-se uma espécie de “tecnopolítica” populista por escrúpulo de atitude “antipolítica”, e os grandes atores disso são as redes sociais.
…

…
Inclusive, um episódio marcante do uso político das redes é o recente boicote aos aplicativos sociais (especialmente o Facebook) devido à propagação de discursos negacionistas e de ódio. O que, dados os termos acima, parece mais notável? É o fato de que, se os usuários continuam recorrendo aos gadgets de Big Data aos milhões, o boicote não partiu dos usuários, mas dos clientes.
O uso universalizado e não refletido dos aplicativos “gratuitos” de Big Data em educação, e a visão fatalista de que são instrumentos incontornáveis numa pandemia que se prolonga proporcionalmente à sua negação, não apenas reforçam estratégias universalizantes de engagement para anunciantes, mas também hábitos, comportamentos e modos de pensar e viver ligados ao uso dessas tecnologias. Isso significa dizer que, sob o termo “educação remota”, não estão em jogo apenas questões de institucionalização ou universalização desses instrumentos (cujos beneficiários finais são terceiros). Igualmente, não está em jogo apenas a falsa aparência de normalidade durante uma Pandemia ou a falsa contradição entre saúde e política. Citamos acima o velho tema de que a “linguagem” determina a “fala”, a plataforma escolhida determina os modos de ser e aprender. Isso requer também que se pergunte o seguinte: o que se aprende, quando se supõe aprender sob o “ensino remoto”? Nesses tempos pandêmicos, educadores, alunos e lives infinitas talvez tivessem muito a dizer.
……
Critérios pedagógicos e “ensino emergencial remoto” (o “ensino remoto” requer a pergunta sobre o “ensino”)
A implicação econômica, estratégica e política — e sanitária — dos aplicativos de Big Data não esgota as questões em jogo no “ensino remoto”. Comportamentos e cognições também são condicionados em função da tecnologia escolhida, e não existe formação sem o emprego de certo tipo de tecnologia. Não é diferente nas “tecnologias remotas” empregadas “emergencialmente” na pandemia.
O termo “ensino remoto” não se esgota nas “tecnologias mediadas por internet”. Isso porque ensino envolve pedagogia, perspectivas e tecnologias de aprendizagem, começando com o fato de que essas “tecnologias de aprendizagem” não se reduzem ao uso de aparatos de computador e não os implica necessariamente. E aqui salta aos olhos como a discussão pedagógica sobre a pedagogia remota, exceto por raras menções, praticamente não ocorreu.
O “ensino remoto” na pandemia é veiculado em muitos lugares como uma necessidade autoevidente, uma obviedade que, se não foi amplamente discutida, é porque traz consigo implicitamente dois pressupostos: (1) ele teria algum grau de “correspondência” ou “simetria” com a educação presencial e (2) haveria então uma possibilidade de passagem sem prejuízos, ou ao menos o de uma compensação (mesmo que não inteiramente adequada), entre o presencial e o remoto. Em suma: do presencial ao remoto haveria uma simetria ou transposição relativamente (ou possivelmente) harmônica, de onde os calendários escolares poderiam ser readotados “normalmente” (ou, numa tese mais soft, “semi-normalmente” ou “de modo adaptado”). Esses pressupostos têm como correlato um terceiro: o de que outras alternativas, como a suspensão dos calendários escolares (o que em 2020 valorizaria o caráter médico do isolamento social e a situação de não-normalidade em casa), são desconsideradas.
Mas de saída salta aos olhos a contradição do próprio termo empregado, “ensino emergencial”, bem como a admissão acrítica de que ele não seria diferente de outras modalidades de ensino. Mas ensino remoto não é EAD. E igualmente, “emergencial” não corresponde exatamente, ao menos nesta pandemia, a situações nas quais esse termo já foi utilizado, como as de guerra.
Tome-se a menção a exemplos de “ensino emergencial” mais recentes, como o da guerra no Afeganistão: onde as estruturas sociais estão esfareladas e as escolas também são alvo de bombardeios, as mídias ou modalidades “emergenciais” ou alternativas de ensino (rádio, celular, internet quando existe etc.) são por vezes as escolhas mais racionais, senão as únicas. Liga-se a isso o fato de que não há governo ou é impossível implementar políticas públicas, de modo que estar em casa (1) não é uma escolha e (2) nem o resultado de uma política civil propositiva. Em lugares como no Afeganistão, ficava-se em casa para reduzir o risco de ser bombardeado e de sofrer violência (incluso sexual).
…

..
Mas não é esse o caso da pandemia, ao menos no Brasil: se ela obriga o afastamento da escola, isso não significa impossibilidade de políticas públicas. O afastamento da escola tem sentido como parte de uma estratégia global de saúde (não de ausência de estratégias), a estratégia de isolamento social — isolamento que também só tem sentido caso se mantenha seu caráter médico. Isso significa dizer que o “estar em casa” não é e nem deveria ser tratado como uma situação normal. Além disso, o isolamento requer apoio de outras políticas, como as de proteção ao trabalhador (realizada hoje nos países mais liberais). Supor que há contradição entre o isolamento e a vida laboral (entre saúde e economia) não apenas põe em risco o isolamento agora, como mais adiante compromete a economia (o que se começa a ver com a má gestão do isolamento e das “flexibilizações”). O essencial, nisso tudo, é considerar que estar em casa não é uma situação normal, e mesmo quem trabalha com home office sabe disso.
Voltemos à guerra: sabe-se que nela o “ensino emergencial”, quando empregado, tem sentido não apenas pela necessidade de estar em casa, mas pela impossibilidade de vida civil. A “emergência” não é uma política pública com todos os direitos, mas é o que é, uma emergência, pois qualquer aluno, professor ou cidadão sabe que aprender “emergencialmente”, de improviso ou por fontes alternativas, não se compara à educação normal, curricular, multimodal na escola. Não há ilusão de correspondência, de transposição, de simetria. Se há programas de “educação emergencial” em tempos de guerra, é porque a guerra não dá garantias nem espaciais nem temporais, não há planejamento possível porque não há vida civil.
Mas não é assim aqui, no Brasil, nesta situação de pandemia. Não há (ou não deveria haver) falta de planejamento, de políticas públicas ou de preservação dos direitos civis. Não há cancelamento do cenário pedagógico “normal”, apenas suspensão em termos provisórios, o que numa pandemia parece tão inevitável quanto a necessidade de também garantir provisoriamente o isolamento social dos trabalhadores enquanto baixam as curvas epidemiológicas. Mas também aqui as diferenças saltam aos olhos: o trabalhador sabe que uma variedade gigantesca de “trabalhos em casa” não equivale ao trabalho “normal” (com todos os meios disponíveis), bem como o refugiado de guerra sabe que “ensino remoto” não equivale ao presencial, mas durante a pandemia pretende-se em muito passar a idéia de que o ensino remoto seria simétrico ou equivalente ao ensino presencial.
A comparação mostra ainda mais diferenças quando se considera que o não-normal em casa dificulta a ideia de “correspondência para com o normal” do próprio ensino remoto. Se o ensino presencial não evita as desigualdades sociais, ao menos ele agrupa os alunos de uma mesma escola sob meios pedagógicos comuns. Mas no ensino remoto as condições dos alunos nem de longe continuam as mesmas, considerando o tamanho das residências, as condições socioeconômicas agravadas pela crise, a disponibilidade de pontos de internet, TV, rádio e de computadores (e o compartilhamento deles), a (in)existência de lugar para estudar (somando-se aos outros familiares em casa), a necessidade de dar atenção aos filhos, os familiares atingidos pela pandemia, os problemas de saúde mental correlacionados com o isolamento, os casos de violência contra a mulher, o esgotamento psicológico das atividades remotas, a precarização do trabalho, a falta de perspectivas pós-Covid, o risco de contaminação coletiva com a entrega de atividades escolares materiais e outros fatores.
O ensino também não é o mesmo. Mesmo que se desconsidere as demissões em massa de professores, suas perdas de direitos ou o fato de que muitos são abandonados ao simples improviso, não há equivalência pedagógica.
Não há equivalência pedagógica em primeiro lugar porque, conforme mencionado, tecnologias mediadas por computador não são nem as únicas escolhas disponíveis para um país com posse de suas políticas públicas, e nem configuram fim educativo (seu emprego puro e simples, fiado no improviso e em milagres individuais, não garante transposição didática, e a transposição didática é o princípio regulador, e não o fim eventual, de uma pedagogia). Aplicativo é um meio e não o meio — deve-se ir das escolhas pedagógicas ao aplicativo, e não do aplicativo às escolhas pedagógicas. Como qualquer professor com licenciatura sabe, tecnologia informática é mais um meio entre outros, numa educação que o século XX inteiro ensinou que não deve ser separada da vida e precisa envolver multimeios ou ser multimodal. Se o exemplo sobre a guerra mostrava o remoto como “meio” e não finalidade, no Brasil chovem exemplos mostrando movimentos de precarização e pressões para transformá-lo num fim em si mesmo. Não são poucos os setores que aproveitam a pandemia para demitir ou precarizar professores, sob a idéia de que o remoto substitui “normalmente” o presencial.
Se a guerra supõe o emergencial, na pandemia há movimentos imensos para fazer do emergencial o próprio normal. Lembremos que isso ocorre no Brasil, um país no qual o discurso prega que os alunos deveriam ser “inteligentes”, “criativos” e possuirem “competência interpessoal”, mas a realidade mostra que enfrentamos altos índices de analfabetismo, incluso funcional. Se isso já era sério pela situação de má oferta de ensino, acrescenta-se agora a emergência, a excepcionalidade e o improviso, não raramente usados como desculpa para mudar imensas estruturas pedagógicas.
Em segundo lugar, não há equivalência pedagógica porque toda a pedagogia que acompanhou qualquer debate do século XX constatou sobre a importância do corpo (e das emoções, não importando, por ex., se a perspectiva é walloniana ou neuropsicológica), das interações sociais, dos vínculos concretos e da linguagem. Se o “ensino emergencial” não supõe excluídas todas as outras possibilidades educativas num país que permanece com a posse de sua esfera pública e civil, e se o “emergencial” quer se fazer como correspondente do “normal”, então esse termo não passa de um oxímoro, um termo autocontraditório. Começando com o fato de que ensino não é simples transmissão de informação e qualquer passo requer o efetivo aprendizado do aluno, sua apropriação ativa e propiciada pelo máximo de meios possíveis. Há uma temporalidade própria da aprendizagem que não se rege pelo primado de esquemas “emergenciais” regidos por transmissão de dados e, principalmente, não se resolve com receitas pessoais ou soluções individuais mirabolantes de professores. Ter didática é ponto de partida, é solo comum e não “diferencial de mercado”. A licenciatura e a pedagogia modernas não supõem professores “bons ou ruins”, e sim professores (sem o que não há pedagogia, ou transforma-se a pedagogia e a própria docência num darwinismo social de péssimo gosto). Isso tudo atenta contra o princípio do “emergencial”, especialmente se considerado o improviso, os treinamentos rápidos, a precarização docente, os lobbies já existentes contra o presencial e a ausência de projetos políticos-pedagógicos prévios (que até a EAD possui). Não há pedagogia correta na qual cada professor não siga uma tecnologia amplamente compartilhada e reconhecida de ensino (o que não se reduz a usar o mesmo aplicativo). A discussão sobre as implicações pedagógicas do ensino remoto parece atropelada por uma espécie de mandamento difuso de “ter que ensinar remotamente”, ignorando outras opções (como a suspensão de calendário e a manutenção do caráter emergencial com atividades complementares). O puro e simples mando irrefletido do “remoto” deixa décadas de pedagogia para trás, talvez porque o critério que o rege não seja sequer pedagógico.
No ensino básico não há pai ajudando seus filhos nas “aulas remotas” (isso quando os pais tem essa oportunidade) que não reconheça isso: o uso do tempo e do espaço, a dose na atenção, a necessidade das interações com os colegas, os tempos de distração, o manejo dos “erros”, a questão do corpo, uma necessária formação de professor, tudo transborda aquele tempo e lugar fixos em frente a uma telinha com professores que muitas vezes estão ali apenas porque foram constrangidos a estar.
E situação semelhante ocorre no ensino superior: o pressuposto de que há uma passagem sem problemas entre o presencial e o remoto ignora a necessidade de inúmeras competências transversais, envolvendo por ex. o aprendizado “tácito” do rigor na leitura dos textos em ciências humanas ou os exercícios e traquejos de cálculo para a correta exatidão nas ciências naturais (sem o que os alunos se transformam em meros preenchedores de tabelas). São questões que supõem diversas discussões e retomadas presenciais, sem as quais a análise de texto ou o cálculo tornam-se meras questões protocolares. Imagine-se, por exemplo, as consequências concretas de psicólogos que se formam sem aprender a analisar textos — ou narrativas —, realizando ainda estágios açodadamente e de forma remota. Mesmo que se queira fazer com que os alunos aprendam “psicologia remota” assistindo episódios de Dr. House, negligencia-se um ensinamento básico do próprio Dr. House: o insight, o aprender exige, como dizia Georges Canguilhem, que se “perturbem hábitos de aprendizagem”, que se ocasionem “estágios estacionários” de um saber (traduzindo: deve-se partir do princípio de variação das mídias, o que a educação presencial, mesmo com todos os defeitos, oferece muito mais do que a “emergencial remota”). Se, conforme dito, sob o contexto presente existem problemas até de alfabetização funcional, imagine-se os efeitos a médio prazo da redução das mídias e modalidades educativas ao primado da simples tela (considerando, novamente, que “emergencial” não chega a ser EAD, e nem mencionamos a prática corrente do “ensalamento“).
….

….
Isso tudo conduz a dizer que, colocando-se a lupa sobre o “ensino remoto”, ele perde algo de sua autoevidência. O termo “remoto” deixa na sombra uma série de questões pouco esclarecidas sobre o uso político-econômico dos aplicativos. Quanto ao termo “ensino“, ele se distribuiu como se não merecesse maior discussão pedagógica, nem atenção sobre os movimentos que visam transformar o “emergencial” em “normal”. Não se compreende, por exemplo, por que não houve decisão maior por manutenção de atividades complementares e suspensão de calendários normais, enquanto as curvas (e os ânimos) baixam e permitem o retorno à escola e ao trabalho.
Não há aqui qualquer crítica a priori sobre ferramentas remotas que, conforme dito, já eram usadas antes da pandemia. O que chama a atenção é o caráter fatalista e de substituição acrítica e universalizante do normal pelo emergencial, sabendo-se que não são a mesma coisa. Parece, nisso, haver um jogo de ambiguidades entre os termos “emergencial-remoto”, de um lado, e “normal-presencial”, de outro. Pressupondo-se o remoto como igual ao presencial, grosso modo, substitui-se o normal pelo emergencial. Igualmente, o “remoto” passa a ganhar um estranho primado: nas aulas concretas, não é mais dado passar das escolhas pedagógicas ao uso eventual de aplicativos, mas o aplicativo imprime-se sobre as demais escolhas pedagógicas, em muito predeterminadas pelo remoto. Além disso, essa predeterminação minimiza a discussão pedagógica propriamente dita, o que acaba reduzindo a pedagogia ao aprendizado de aplicativos e a discussão pedagógica ao sucesso ou insucesso de soluções individuais (a pedagogia moderna sempre mostrou a importância contrária, de seguir das perspectivas pedagógicas aos instrumentos utilizados). Isso tudo sem contar o contexto da Pandemia: a ausência de normalidade em casa, que torna a transformação do emergencial em normal uma medida mal pensada, não colocando ainda na conta o restante da instabilidade social e sanitária.
Como se vê, o “ensino remoto” não flutua no ar e faz parte (ou deveria fazer) de uma estratégia global. Ele não se destaca de um contexto bastante específico, que inclusive mereceria comentário. É o contexto do (agora) segundo país do mundo em número de casos de Covid-19. Trata-se de um país governado por marcada negação dos dados científicos, por rivalismo contra as universidades, por pedagogos reconhecidos internacionalmente transformados em “inimigos” e por estranhas teorias da conspiração denunciando filosofias e filósofos. Um país no qual os ministros de educação realizam plágio ou tem falas célebres acusando princípios pedagógicos amplamente reconhecidos de “conspiração ideológica”. É um país em situação pandêmica mas sem ministro da saúde durante meses, e cujo próprio ex-ministro chegou a dizer que a promoção de medicamentos milagrosos, como a cloroquina, tinha por função estratégica enfraquecer o isolamento social e trazer o trabalhador de volta às ruas.
….

…
O caso da cloroquina e das campanhas contra o isolamento social cumprem bem o papel de ilustrar como diversas práticas são conduzidas a despeito de qualquer debate científico. Desde o início, a recomendação científica sobre o isolamento social como medida médica — como “não-normal em casa” — foi constantemente atacada, por acusações de ordem política, ideológica, econômica e por vezes pseudocientífica (ou tudo ao mesmo tempo). No caso da cloroquina, conforme o ministério interino ela foi adotada como remédio visando dois critérios: “clamor popular” e “equanimidade” (isto é, “igualdade de acesso” para ricos e pobres). O critério é curioso porque depõe contra princípios básicos da medicina moderna, que por ser moderna prega que só há medicamento de fato quando há comprovação científica (sem o que a cloroquina vale menos do que a própolis).
Consideremos as histórias recentes do uso da cloroquina e do pseudo-conceito de “isolamento vertical”, tal como relatadas por Carlos Martins e pelo epidemiologista Naomar de Almeida Filho. No caso do “isolamento vertical”, Almeida Filho mostra que os discursos iniciais defendendo “imunidade de rebanho” e “isolamento vertical” ocorreram no fim de março, quando o presidente brasileiro queria restringir o isolamento “vertical” apenas aos idosos. Diziam: é uma “gripezinha”, “o Brasil não pode parar”, “a cura não pode ser pior do que a doença”, a saúde não pode afetar a economia etc.. De onde vieram esses termos? Diretamente de Trump, alimentado por dois jornalistas, por sua vez alimentados pelo nutrólogo David Katz que, conforme disse o segundo jornalista (Thomas Friedman), caught my eye. Katz, que não é epidemiologista e foi publicamente refutado por apresentar credenciais que não possui, havia publicado um texto de opinião defendendo a vertical interdiction. Eis aí a “origem” do isolamento vertical: sequer é um conceito, mas vem de uma fala pinçada num artigo de opinião sem fundamento, que foi requentada por canais de imprensa e então caiu na boca de Trump, para depois comandar por aqui as falas presidenciais, as polarizações políticas e os ataques a cientistas. Surpreendente síntese de Almeida Filho: “Impressiona a velocidade dessa pandemia ideológica: em apenas seis dias, um vírus de desinformação atravessa hemisférios e ameaça a política de toda uma nação, a saúde de toda uma população e a vida de toda uma geração”.
Surpreendente também é a provocação de Martins (baseada nessa fonte) sobre o caso da cloroquina: segundo ele, no dia 11 de março três pessoas reunidas por acaso no Twitter conversaram sobre hidroxicloroquina e resolveram escrever um artigo. Logo depois, um deles topou com uma postagem de blog escrita no Medium, de um certo Adrian Brye (intitulado “filósofo“) que perguntava: a Itália não teria tantas mortes porque, diferente da Coréia, deixou de receitar cloroquina? O raciocínio de Brye era furado — nem a Coréia havia usado cloroquina —, mas antes de saberem disso os companheiros de Twitter publicaram um texto no Google Docs, incluindo credenciais (falsas) de universidades e organismos de pesquisa americanos. Tudo permaneceria assim se Elon Musk — o famoso executivo da Tesla — não viralizasse o “artigo”, endossando o fato de que a cloroquina curaria o coronavírus porque ele mesmo, Elon Musk, teria usado cloroquina contra… a malária. Não demorou alguns dias e Trump adotou a receita. Logo depois chegou aqui, requentada para o discurso presidencial. Do papo no Twitter à política brasileira de saúde foi questão de dias. Fiando-se em tais palavras, eis um princípio surpreendente que animou o “clamor popular” e o desejo de “equanimidade” de uma política inteira de saúde!
…

..
As duas anedotas acima apenas realçam mais uma vez a discussão (ou ausência dela) entre a ciência e seus “usos”. “Clamor popular” não faz a criança aprender ou a Terra girar (ou, para alguns, o sol girar em torno da Terra, plana…), e a “equanimidade” é uma ilusão se o instrumento para alcançá-la é inócuo. No caso da cloroquina e do “isolamento vertical” (há outros termos, como “imunidade de rebanho”), viu-se relativa reação contrária dos médicos, pois admitir falsos conceitos ou práticas significa desfazer a separação entre a terapêutica que busca objetividade e as demais crendices que a medicina deixou para trás. Se o médico não é capaz de definir qual medicamento supõe determinada cura, então qualquer coisa torna-se possivelmente válida para curar não importa o que seja.
Retornando à educação, seria de perguntar se, com essa imensa pressa de tornar o emergencial algo normal, não ocorre algo correlato. Afinal, conforme dito, alguns jornalistas chegaram a reprovar as universidades públicas por não se engajarem tão rapidamente no ensino remoto (como não cumpririam o óbvio?). Mas surpreende o fato de que, se economistas e administradores falaram prontamente em tablets e jornalistas falam em “novo normal”, os setores de educação e os pedagogos foram muito pouco solicitados a falar sobre ensino (ou, quando falaram, pergunta-se sobre onde foram ouvidos). A regra, parece, foi a de sobrepor outras esferas sobre a pedagógica, tornada coadjuvante em seu próprio palco.
Sobre isso, é preciso novamente dizer que o “ensino emergencial” é uma ferramenta válida (como eventualmente qualquer outra). Mas será válida como substituição ou compensação do normal? Não seria recomendável fazer valer a palavra emergencial na presente situação (que é excepcional), mantendo então cautela para evitar guinadas tão grandes na educação e implementando políticas emergenciais complementares de atividade, enquanto crianças e trabalhadores permaneceriam em isolamento, no “não-normal” de suas casas? Tudo isso tranquilizaria ambos os lados: alunos, professores e famílias. Não seria mais prudente conjugar por exemplo estratégias de suspensão de calendário com oferta de atividades pedagógicas complementares, ao invés de substitutivas? Aí o “remoto” encontraria seu devido lugar.
Pois a alternativa concreta tem mostrado o contrário: 2020 parece o ano dos isolamentos que não isolam e não terminam, dos trabalhos que não pararam de verdade para retornar, e da educação emergencial “remota” que dificilmente veste a aparência da normalidade. Não bastando tais coisas, valeria prestar atenção também no número de mortos.
…

…
…
Com agradecimentos a Adriana Pellanda Gagno.
…