…………….
uma parceria com a Foco – Revista de Cinema
………………
Por ocasião do lançamento do número 8-9 da Foco – Revista de Cinema no dia 30 de abril, convidamos críticos e curadores para uma leitura dos textos seguida de uma conversa com os editores. São nomes cujos trabalhos guardam afinidades com o formato e o conteúdo das pautas, com quem a troca de ideias serviu para explorar alguns dos temas tratados na revista. Os diálogos aconteceram entre fevereiro e abril de 2021, e serão publicados nas próximas semanas no Estado da Arte.
Nesta primeira parte, trazemos a conversa com Aaron Cutler. Nascido em 1985 nos Estados Unidos e residente no Brasil desde 2010, Cutler escreveu em diversas publicações de língua inglesa (Artforum, Film Quarterly, Sight & Sound, The Village Voice, entre outras), e atua em São Paulo como programador de eventos como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2012-14) e o Indie Festival (2015), além do festival Olhar de Cinema (2018-19), em Curitiba. Foi curador ainda de uma série de retrospectivas (muitas vezes em colaboração), entre elas as de F. W. Murnau, Kira Muratova e Thom Andersen. Desde 2018, organiza junto com Mariana Shellard o programa Mutual Films no Instituto Moreira Salles de São Paulo, no qual projetam e debatem filmes em sessões duplas, comparando e interligando os mais variados gêneros e períodos do cinema. Cutler publica também regularmente no blog The Moviegoer.
…………
.…….…….
………….
AARON CUTLER: Começo minha fala de abertura, de certa forma, no começo: agradecendo a vocês pela oportunidade de conversar a respeito da Foco, uma revista que admiro faz muito tempo. De fato, acho esta nova edição da revista especialmente rica, e que o longo período que demorou para ser produzida claramente valeu a pena. Sem chegar a dizer que a publicação em si é uma obra-prima (inclusive porque não li todo o material ainda), pensei muito, enquanto eu a lia, o que significa usar esse termo tão comum à crítica de cinema. E a resposta que tenho provisoriamente (pois acho que, na crítica, toda posição deve ser provisória, e sempre sujeita à revisão) é que uma obra-prima deve oferecer uma coesão sintética de forma e conteúdo que traz, justamente através dessa junção, uma reflexão inédita sobre as capacidades e possibilidades para a linguagem artística. Vejo uma tentativa de criar isso na nova edição da Foco, e acho a tentativa extremamente empolgante.
A harmonia de forma e conteúdo que percebo tem a ver com o que talvez seja a questão central da edição: os pontos de sobreposição entre o cinema que é comumente chamado de “narrativo” e aquele que é comumente chamado de “vanguarda” ou “experimental”. É uma afinidade especialmente cara para mim, que me interessa a partir da minha própria experiência como espectador. Por exemplo: eu morei em Nova York por três anos, e durante esse tempo me comprometi a ver o máximo possível de projeções de filmes de repertório; como as salas do Film Forum e do Anthology Film Archives ficam em torno de 20 minutos a pé uma da outra, eu frequentemente passei tardes e noites transitando entre esses espaços, de modo que sessões duplas de filmes de Nicholas Ray e Maya Deren (para citar dois óbvios exemplos de cineastas cujos filmes trabalham com dinamismos inesgotáveis de corpo e espírito) se tornaram extremamente possíveis de se realizar. No processo, entendi mais claramente do que nunca que um plano é um plano, um corte é um corte, um som é um som e que uma das maiores riquezas do estudo de cinema como uma arte foi a de pensar a respeito das diferentes maneiras em que as mesmas técnicas básicas poderiam ser aplicadas para diversos fins. (Quero constatar para os tempos de pandemia: a experiência de projeção em sala ajuda muito o entendimento de um filme, e não há como substituí-la.)
Essa ideia salta aos meus olhos quando vejo as imagens no final do índice: um retrato paisagístico de Paul Cézanne, junto a stills paisagísticos de filmes de Michael Snow, Straub-Huillet e Marcel Pagnol — todos artistas trabalhando com matéria prima essencialmente similar, de formas extraordinariamente diferentes, para tentar achar equilíbrios justos entre a representação e a realidade, tentativas que reverberam em textos encontrados ao longo da publicação. Penso em textos originais de vocês sobre os cineastas citados — por exemplo, o impactante trabalho da Valeska sobre o cinema de Pagnol [“As alegrias não riem, as tristezas não choram”], que expressa muito bem como o cineasta delineia a liberdade humana ao colocá-la entre uma série de restrições físicas e formais. Também penso nas novas traduções de textos pré-existentes — por exemplo, textos importantes que já conheço faz muito tempo de nomes como Burch, Michelson, Farber/Patterson e outros que aqui fazem sua estreia bem-vinda em português de maneira fluidamente integrada. Até achei que o importante ensaio de Fred Camper, “O mito do filme de vanguarda”, era uma tradução de um texto do Chicago Reader (pois há outros dois textos prévios de Camper presentes aqui), e fiquei feliz de ser corrigido por Lucas a respeito disso. É um texto essencial no qual Camper basicamente afirma que todo filme narrativo deve ser apreciado a partir de suas propriedades formais para ser avaliado de forma justa (e que, junto a isso, é essencial entender que todo filme experimental veicula uma espécie de narrativa). Fiquei impressionado que ele contribuiu com este texto original, e ao mesmo tempo, não fui surpreendido, pois já conhecia faz tempo a generosidade dele.
Mas voltando para o assunto principal: vejo o tema de narrativo/experimental claramente na seção “As duas vanguardas” (um título que cita o famoso texto de Peter Wollen, cuja tradução para português aparece aqui) e nas diversas discussões no Jornal. Também o vejo nas discussões dos dois cineastas “em foco”, Sergio Sollima e Richard Fleischer, que me parecem ser artistas especialmente conscientes de possíveis explorações de como contar uma história através de escolhas e recursos formais que pertencem só ao cinema. Segundo vocês (acredito), eles são inovadores, experimentadores, renovadores cujos trabalhos merecem ser discutidos com a mesma seriedade crítica que se espera ser aplicada aos cinemas de Jean-Luc Godard e Hollis Frampton (ou Chantal Akerman, ou Yvonne Rainer, ou Andrea Tonacci, e por aí vai.) A epígrafe de Walter Benjamin comentando a relação entre gênero e forma me parece já uma espécie de orientação de leitura neste sentido.
Então faço minha primeira pergunta pedindo para todos vocês, cada um de vocês, comentar o seguinte: Como surgiu a ideia de colocar em diálogo os cinemas narrativos e experimentais? Quais escolhas feitas na composição da revista vocês acham especialmente interessantes neste sentido? E, para cada um de vocês (da maneira mais concreta possível), quais foram os elementos particulares que você trouxe para a discussão e composição da nova edição da revista, neste sentido ou no geral? Quais aspectos da curadoria maior da Foco 8-9 (de temas, textos e imagens) te orgulham mais, e por quê?
………….
BRUNO ANDRADE: Caro Aaron, antes de tudo, agradeço em nome de todos nós a leitura cuidadosa, bem como o tempo que você dedicou às questões que colocamos. É importante que, de alguma forma, a comunicação que desejávamos estabelecer esteja se dando, tornando-se completa a partir do momento em que o leitor afronta o conteúdo e responde a ele.
Você pergunta sobre os dois cineastas que colocamos em pauta. Em termos de abordagem crítica, o mais importante nesses casos era fornecer o contexto em que cada um pôde desenvolver sua obra: quando e em quais circunstâncias Sergio Sollima realizou seus filmes e quais premissas desse trabalho podemos detectar nos textos que escreveu quando era crítico, atividade que antecede a sua carreira no cinema, ou então como um prodígio como Richard Fleischer (tinha 30 anos quando realizou seu primeiro longa-metragem, que é também sua primeira obra-prima) pôde ser assimilado ao corpo da indústria hollywoodiana e como conseguiu desenvolver uma carreira ao mesmo tempo fecunda e extremamente singular num período de mais de 40 anos. Examinando a fundo essas duas filmografias, bastante ricas se considerarmos suas origens (nacionalidade, sistema de produção a que se vinculam, público a que se dirigem), podemos encará-las como paradigmas de um certo tipo de realização cinematográfica e, a partir disso, incorporá-las às pautas das vanguardas e ao recorte proposto no Jornal. Se esse exame foi bem-feito nos dois casos, a sua integração aos outros temas abordados não deverá parecer tão estranha ao leitor. De qualquer forma, essa dialética entre as potencialidades e os limites da criação é, ao que me parece, o que liga todos os grandes artistas, e o ponto em comum entre realizadores tão distintos quanto Richard Fleischer e Paul Sharits, Sergio Sollima e Michelangelo Frammartino.
Quanto às interseções entre o filme de vanguarda e o filme narrativo, esse horizonte se abre a partir de conversas com o Lucas a respeito do tema em 2012, em decorrência do interesse crescente dele por cinema experimental e pelas obras dos principais críticos e teóricos do campo. Posteriormente, Lucas transformou esse interesse em material de sua pesquisa acadêmica, e a partir de então os pontos de convergência entre vanguarda e realismo foram se tornando mais claros. Encontramos aos poucos os objetos que pareciam ideais para explorar esse conceito das “duas vanguardas”. A vontade de fazer um trabalho crítico voltado a esses dois pólos que tiveram uma comunicação tensa, acidentada, surge definitivamente em 2014, enquanto trabalhávamos na edição dedicada a Jean-Claude Brisseau. Na ocasião, cogitamos incluir alguns textos no Jornal, mas concluímos que seria pouco, um desperdício em se tratando de um material tão rico. Mais tarde, quando finalizamos a revista, a definição que demos no editorial do que nos interessa no cinema contemporâneo — de que não se trata do cinema feito hoje, mas de “todo o cinema feito até hoje” — impeliu-nos a continuar, com mais meios e mais tempo, esse trabalho.
Entre as escolhas de composição da edição, as discussões sobre quais redatores deveríamos chamar e quais deveríamos traduzir foram provavelmente as mais parcimoniosas que tivemos. Foi a ocasião para entrarmos em contato com Adriano Aprà e Fred Camper, dois críticos cujos trabalhos admirávamos de longa data e que nunca haviam colaborado conosco. Além disso, a procura por redatores capazes de trazer um olhar mais voltado à pesquisa, à reflexão de longo prazo, algo que os textos pareciam exigir, demandou-nos bastante tempo. Há um tipo de texto, recorrente na edição, que acredito ser o seu maior aporte, mais voltado ao que eu chamaria de morfologia histórica, seja de um diretor (Sergio Sollima, Richard Fleischer), de um gênero (o western) ou de um problema (as duas vanguardas).
O elemento principal que acho que contribuí para a composição do número no seu todo é a estrutura do Jornal, na qual trabalhamos por muito tempo e que tem como ponto de partida a leitura do texto de Godard sobre a decupagem clássica. Esse esforço pôde ser levado a cabo graças ao empenho e à tenacidade da Valeska, que conseguiu tornar viáveis a pesquisa necessária e a subsequente tradução de uma massa até então inédita de textos. De certa forma, essa estrutura nos permitiu uma plasticidade considerável no tratamento das três pautas principais. É como se, ao final da leitura delas, o Jornal encadeasse e desdobrasse as principais questões nelas abordadas, fornecendo-lhes os ecos ou as sínteses necessárias. Pelo menos nesse sentido, essa edição não constitui uma ruptura com a linha editorial da Foco; esta já estava bem definida desde o primeiro número, baseada em dossiês sobre cineastas e no diálogo com certas linhagens da crítica. Os números seguintes consolidaram um tratamento da crítica como sendo uma tradição, algo a ser estudado, e para isso, documentado. Isso é algo que permanece ainda hoje, e que a meu ver é fundamental: traduzir e colocar em discussão, apresentar ou retomar os nomes que atravessam mais significativamente os objetos escolhidos.
Quanto à curadoria da edição, o aspecto que mais me satisfaz é a mescla de filmes de todas as épocas, que é análoga à composição do corpo da redação, que traz críticos de várias gerações. Tanto na abordagem quanto na escolha dos objetos, trata-se do velho e do novo em constante diálogo.
………….
LUCAS BAPTISTA: Se eu tentasse destacar um elemento na edição que me parece motivo de orgulho, eu provavelmente chegaria a uma versão desse mesmo ponto. É inevitável se referir às tentativas de “equilíbrio” ou “integração”, entre os períodos e gêneros, entre a representação e a realidade, entre o cinema narrativo e o experimental etc. Essa busca por uma “variedade organizada” foi realmente o que conduziu o nosso trabalho. Isso está presente em cada uma das pautas (no caso das vanguardas, é declarado explicitamente), e talvez seja ainda mais intenso no Jornal. Não apenas no tema dos artigos, mas nos próprios modos de abordagem: um leitor que ali vaga livremente pode se deparar com análises de vários nomes do cinema moderno, logo em seguida passar à tradução de um manifesto do período silencioso, disso a observações pontuais sobre obras lançadas nos últimos anos e finalmente a uma leitura entusiasmada do faroeste clássico. Se a discussão inicial sobre as duas vanguardas é posta como uma insuficiência de diálogos, essa variedade serve como sugestão para como atacar o problema — serve pelo menos como indicação de que abordá-lo por esse ângulo pode ser produtivo. Além disso, acho que a ideia de que “as técnicas podem ser aplicadas com diversos fins” é mais do que um dado importante: é, na verdade, o que mantém essas várias partes conectadas. Uma das nossas convicções foi que, mesmo se um texto seguir mais em direção à historiografia, outro em direção à especulação teórica e outro em direção à apreciação cinéfila, se todos guardam alguma proximidade desse núcleo (se reconhecem o valor de uma atenção à forma, e até de uma prioridade da forma), então mesmo com inúmeras outras diferenças é possível efetuar as devidas ligações.
É interessante que se traga a noção de obra-prima — e a definição do termo como uma “coesão sintética de forma e conteúdo” me parece adequada —, porque cada vez mais, vivemos em uma época avessa aos cânones. Hollis Frampton, tomando emprestado o vocabulário de Eliot, se referiu ao “conjunto finito de monumentos” que estabelece uma tradição, e tanto a finitude como a monumentalidade não são hoje critérios exatamente positivos nesse contexto. Se há certamente um impulso válido e até mesmo valioso na revisão dessas ideias, a ausência de um conhecimento sobre as suas raízes, seu valor e sua função, soa como algo pouco construtivo. Não temos dúvida de que só foi possível cruzar os diversos fios nesta edição porque nos aprofundamos nessas tradições, e porque antes de tudo nos esforçamos para entender a lógica própria dessas linhagens, para só então colocá-las em questão; e mesmo assim, tendo em vista mais a correção mútua, a complementaridade, do que a simples negação ou reformulação. Sabemos que é preciso ver o que há de “não-narrativo” em um filme predominantemente narrativo, e vice-versa. Sabemos que essas dimensões interagem em cada obra, e que moldam a visão dos espectadores de maneiras inesperadas. Mas foi importante percebermos o quanto isso envolve não apenas os filmes, mas também a produção crítica ao redor deles, que fornece, afinal, o recorte histórico e o arcabouço conceitual por meio dos quais o cinema é discutido. O texto já citado de Fred Camper nos deu uma formulação clara e ressonante dessas questões, sobre as quais refletimos desde o início.
Quanto a uma contribuição pessoal, além de parte da bibliografia sobre as vanguardas, eu apontaria o texto “Mitos de origem e destino”, pela tentativa de esquematizar algumas discussões que permeiam todo o número. Essa mistura de uma pesquisa acadêmica com um formato mais ensaístico (natural em uma revista online) a mim também pareceu um dos caminhos mais interessantes. Por uma série de coincidências, recebemos vários artigos com essa mesma tendência. E como nem todos propõem um diálogo deliberado, perceber num texto o eco ou a resposta de outro deixa a impressão de que há uma sintonia para além de um projeto consciente: como se, uma vez iniciado o debate, restasse inclusive a nós a tarefa de fazer ali algumas descobertas.
………….
MATHEUS CARTAXO: Assim como Lucas, minha participação nesta edição da revista foi muito influenciada pela presença na academia ao longo desses anos, motivo pelo qual, no meu caso, por estar envolvido na escrita de minha dissertação de mestrado, não pude acompanhar tão de perto a gestação desse número quanto os demais editores. Porém, estar na universidade nesse período não deixou de se encaixar com a proposta levada adiante. Em números anteriores, assumimos um olhar para os filmes mais mediado por paixões, pelo ímpeto de defender nomes ou “cinemas”, enquanto aqui nos interessou ter uma compreensão dos filmes em outros termos. Algo que se destacou mais do que nunca para mim como uma etapa crucial da crítica foi a descrição precisa do objeto. Arrisco dizer que fazer com que nas palavras escolhidas o objeto abordado seja reconhecido é mais do que a metade do trabalho. Cumprindo bem essa etapa (o que não implica fazer uma paráfrase do filme, saturando o texto com minúcias, mas identificar as linhas de força que dão a sua forma, que tornam-o reconhecível), caminhos se abrem para os próximos passos serem dados, seja comparar o filme com outros do mesmo autor ou da mesma época ou de épocas diferentes etc. Nos meus dois textos (“Duas Antígonas”, em que abordo duas adaptações da peça para o cinema, e “A loteria de Paris”, sobre Holy Motors) eu sinto ter posto em prática esse esforço, o qual identifico também, por exemplo, no que escreveu Fábio Visnadi [“Três faroestes de Charles Marquis Warren”] ou Matheus Zenom [“O mundo como palco”]. A descrição é como uma coleta de dados, e ajuda a frear o impulso do crítico de perder de vista o objeto e passar a reinventá-lo, o que significaria justamente a perda da função da crítica, ou melhor, o seu deslocamento para outros territórios da escrita: a memória, a crônica, a psicanálise. É sempre importante ir aos filmes, ouvir o que eles têm a dizer, antes de tomar a palavra.
………….
VALESKA G. SILVA: Fiquei muito feliz ao saber das suas palavras sobre o meu trabalho, Aaron. Não sei se eu trouxe elementos particulares para a discussão dessa edição, pois quando integrei a equipe o processo já estava bastante avançado. Passei por um corpo a corpo com os textos, traduzindo, formatando, revisando, e as ideias sobre os “pontos de sobreposições” — para usar um termo que você aplica bem — surgiram muito naturalmente. Essa oportunidade de rever algumas noções, e de aplicá-las a objetos inesperados, foi um trabalho muito inspirador. Ter trazido o nome de Marcel Pagnol para o contexto da edição é uma felicidade imensa; encontrar “o ponto de experimento” — aquele que possibilita a nossa fantasia — em seus filmes foi um trabalho muito instigante. Tendemos a contrapor a narrativa ao experimento, como se aquela fosse um dado, e este um processo mais subjetivo – mas a narrativa se apresenta também de outras formas. Toda grande obra possui um ponto de experimento, e ao comentá-lo, é de um universo novo e particular, de influência, que falamos. Pagnol se ocupou de um ambiente familiar para então encontrar um cotidiano estranho não àquele espaço, mas a um determinado tempo — quando tudo parece escapar do destino e sofrer com as mudanças. E tanto o cinema clássico de Pagnol quanto o que existe de prática muito antiga no cinema experimental de Jacques Tati, por exemplo — que recorre ao gesto para prescindir da fala —, requer muito do espectador. Quando Pedro Costa descreve a gravidade para com o realismo no olhar de Warhol, é o mesmo sentido do trágico da condição humana e a desconfiança perante o mundo que encontro no cinema de Fleischer, de Sollima, de Pagnol e de Tati. Universos de matérias distintas, no entanto, nasceram de uma percepção fundamental, de que “no que se filma há quase que mais trabalho para quem vê do que para quem faz”, como diz Costa na entrevista concedida à revista.
Destaco também a pauta Fleischer. Um cineasta da indústria hollywoodiana da era clássica, atravessado por um senso de realismo crítico ao destacar o temperamento que rege o mundo, como é indicado em diversos textos que trazemos, por diferentes autores. Um visionário: basta pensar em Soylent Green, que reflete muito do que vemos hoje, uma época de pandemia e crise mundial. E eu mencionaria ainda o interesse crescente que a cinefilia online tomou por ele nos últimos anos, como por Sollima e, também, Frampton, tornando mais acessíveis os seus filmes, legendando, divulgando e discutindo-os, alimentando um ambiente muito frutífero de expectativa para com as pautas.
…………………..

…………………..
AARON CUTLER: Eu acho saudável para um crítico reconhecer de início os desafios do trabalho, então confesso que leio suas respostas com uma mistura de empolgação e receio. Empolgação por perceber ainda mais de perto o tremendo rigor e seriedade que vocês levam para seu trabalho, e receio por me sentir um pouco incerto, frente a todo esse material, a respeito do próximo passo. Me identifiquei muito com a ideia que Matheus traz sobre como achar um distanciamento justo de um objeto de estudo — você nunca quer ser demasiado geral sobre seu objeto, nem se perder em detalhes. E, quanto mais rico o material, mais difícil frequentemente se torna o trabalho de síntese. Como, então, ser justo e sintético com as elucidações de vocês frente à nova edição da Foco?
Quero primeiro voltar para a palavra “rigor”, pensando também naquela frase de Rivette, “Nós não somos mais inocentes”. Me parece que uma espécie de ideal da crítica é sermos, ao invés de inocentes, autoconscientes — do cinema, de seus gêneros e truques, e de nossos próprios conhecimentos e capacidades de abordá-lo. Eu penso não apenas em uma necessidade moral para alguém que trabalha com as artes ser rigorosamente crítico, mas também esse trabalho ser autocrítico em si para realmente poder fazer jus ao espectador. Fico pensando nisso a partir das escolhas comentadas de Camper e Aprà como críticos “em foco” — são dois artistas da crítica que prosseguem negando e desafiando seu próprio conhecimento do cinema para poder encontrar tudo de novo com olhos e ouvidos claros e mentes frescas. (A discussão com Aprà sobre obras-primas desconhecidas é um momento especialmente tocante neste sentido.) E penso nisso, por exemplo, quando Bruno observa a presença recorrente na edição de uma espécie de trabalho crítico que ele chama de “morfologia histórica”. Entendo este tipo de texto, em seus casos mais bem-sucedidos, como uma espécie de movimento constante entre desconstrução e construção: nós não sabemos isso, então precisamos saber disso, e assim construímos nossas pontes. A meu ver, não é coincidência que o próprio texto do Bruno sobre Sollima, “O teatro de feira dos desertos de Alméria”, soe como grande exemplo. É um texto construído de forma cinematográfica, remetendo ao mesmo tempo a um road movie e um whodunit, com a perfeição que Sollima consegue atingir no faroeste italiano (“spaghetti western”) nos esperando no final como uma solução agradável e gratificante a um mistério.
Qual é o mistério? Para mim, é como trazer algo novo e irredutível a uma série de gêneros e elementos já bem explorados — e, pelo que vi e li do trabalho dele, creio que Sollima conseguiu fazer isso através de um processo rigoroso de autocrítica. Me refiro primeiro ao seu trabalho como crítico. Os textos que vocês escolheram traduzir demostram ele fazendo uma leitura exaustiva do cinema hollywoodiano de seu início até o final da década de 1940, privilegiando algo que sempre valorizei nesses filmes e que acho que muito falta no cinema hoje em dia: uma crítica clara do sistema de classe e das batalhas que ele naturalmente gera. Acho que faz todo o sentido para Sollima também prestar atenção ao tratamento do tema no cinema italiano (eis o belo texto sobre De Sica) e pensar em como tratá-lo na tela, com as aventuras de um personagem como Cuchillo, uma revelação brilhante de como transformar ideias, gestos e gêneros norte-americanos em um contexto italiano, e com isso, fazer algo inédito. Me parece que ele foi um artista que trabalhou muito para entender seu próprio lugar dentro da história do cinema, e depois, compartilhar este entendimento com o mundo.
Fleischer também me parece um artista extremamente autoconsciente, e muito da riqueza de sua arte surge como resultado disso. Algo que penso ao ler os textos que vocês juntaram sobre Fleischer é que ele conseguiu trabalhar em tantos gêneros cinematográficos porque o interesse principal dele não foi pelos gêneros em si, mas pelas reflexões que ele poderia fazer sobre a natureza humana e suas tendências violentas através deles. Fiquei especialmente encantado com os argumentos da Valeska, nos seus dois textos sobre o cineasta (“Conspiração a favor” e “O horror em Richard Fleischer”), a respeito da necessidade, nos filmes de Fleischer, de mostrar certas coisas para poder denunciar outras. Entendo a partir da leitura dela que os filmes de Fleischer mexem com os limites dos gêneros para melhor criticar a sociedade humana como algo demasiado limitada — de fato, constrangedora e sufocante para muitos de seus desempoderados cidadãos. Acho as colocações da Valeska extremamente perturbadoras, no bom sentido.
“Precisamos mexer com a forma para mostrar que a forma do mundo precisa mudar”, talvez seja uma maneira de caracterizar essa mexida dupla, que sinto que podemos encontrar nas obras de diversos artistas ambiciosos ao longo da história do cinema. Pode ser nos filmes de Leo McCarey. Pode ser em Rogério Sganzerla. Pode ser em Ousmane Sembène. Pode ser em Manoel de Oliveira, ou em Ida Lupino. E gosto de pensar, através de vocês, que está lá nos filmes de Sollima e Fleischer, assim como eu sempre entendi que estava lá em Frampton e Godard, dois artistas colocados lado a lado de forma instigante por Lucas em seu texto central “A era de Godard e a enciclopédia de Frampton”. São duas figuras que tentaram fazer catalogações extensas do mundo em imagens para depois entender o que não foi representado, o que talvez não poderia ser representado e por que — um trabalho sempre extremamente político. Uma coisa muito legal que é transmitida no texto de Lucas é a natureza elementar deste trabalho, com o cinema parecendo algo que todo cineasta constrói a partir de elementos pré-existentes. O esforço de expor os mecanismos deste processo, para poder delinear melhor o trabalho humano que o cinema representa e apresenta (uma questão tanto estética quanto moral), é algo que vejo nos trabalhos de diversos cineastas cujos filmes Lucas seleciona como pontos de partida ao longo da edição — não apenas Frampton e Godard, mas também, por exemplo, Ernie Gehr, Sergei Eisenstein, os irmãos Lumière e o grande formalista-estruturalista John Carpenter, sempre estabelecendo o espaço entre o Bem e o Mal. Aliás: não sei se o texto “Mitos de origem e destino” (que utiliza os filmes dos Lumières como o ponto de partida para uma leitura técnica-humanística da história de cinema) é o texto mais longo da edição, mas com seu tamanho desenvolvido de quase 14.000 palavras, entendo que está a poucos passos de ser transformado em um breve livro. (E, enquanto todo mundo estiver aqui, acrescento um aliás ao aliás: entendo que houve um projeto no passado de publicar um livro com textos de várias edições da revista Foco, e me agradaria se alguém pudesse comentar sobre o andamento disso.)
Sobre os dois textos de Matheus: lamento não conhecer melhor o cinema de Cottafavi, mas entendo bem seu argumento de que toda nova encenação de uma obra ou um motivo traz consigo a capacidade de reivindicar o momento de sua montagem. Ou, como Godard uma vez colocou, através de André Chénier, e que vocês colocam de novo: “A partir de pensamentos novos, façamos versos antigos”. Invocação, recitação, repetição, entonação como gestos de rebelião e de insurreição — não sei como melhor descrever o cinema de Straub-Huillet, que tenta descartar todos os elementos de cinema que não pertencem a isso, e cuja própria versão cinematográfica de Antígona é uma obra exemplar da clareza (em diversos e amplos sentidos) que o cinema pode trazer. Nem sei como melhor descrever o estado da arte que Carax atinge em Holy Motors — as diversas referências de filmes que Matheus traz no texto “A Loteria de Paris” (e as associações que eu mesmo faço com o texto na edição de Guilherme Savioli, “Mecânica da incerteza”, que posiciona bem Holy Motors como um filme sumamente moderno) me faz ponderar até quais pontos M. Oscar e seu criador-diretor são personagens compostos e emoldurados pelo cinema, e até quais pontos essas composições devem ser consideradas sublimes ou grotescamente magoadas. Entendo que o filme faz uma jornada perpétua, peripatética, sempre interrompida, sempre autocrítica. Matheus me fez refletir sobre Holy Motors como uma fenomenal autorrevisão.
E falando em revisão: chego finalmente à minha próxima pergunta, que coloco para vocês mais como escritores do que como redatores. Frente a obras individuais e conjuntos de trabalho tão rigorosos, como foram os processos de escrita e revisão para vocês para atingir níveis semelhantes de rigor em seus próprios textos? Me interessa saber não apenas a respeito do trabalho feito sozinho, mas o tipo de feedback que vocês deram ou não deram um ao outro; e me interessa saber, também, não apenas sobre a construção das frases e o ordenamento dos parágrafos, mas as escolhas das imagens e integrações delas nos textos, que me parecem ter funções e sentidos fundamentais em termos de ritmo e espaço, além de ilustração. Vocês podem citar quaisquer textos que quiserem, mas acho que já listamos muita coisa até agora que bem poderia servir como pontos de partida. Acrescento só, para Bruno, as duas partes de “Para acabar de vez com a mise en scène”, que me interessam muito por utilizar obras e artistas individuais para situar argumentos históricos mais abrangentes. Podemos até dizer que as escolhas de traduções de textos pré-existentes também fazem isso ao colocar pensamentos e específicos momentos no tempo como indicações de fluxos e debates maiores, e que essas traduções (de espanhol, francês, inglês, italiano e um exemplo alemão, se não me engano) merecem reconhecimento como trabalhos críticos e artísticos em si. Mas o trabalho com as traduções já me parece ser uma outra linha de pensamento, então, agora libero a sala para vocês mais uma vez se projetarem.
……………

……………….
BRUNO ANDRADE: O maior interesse da edição, para mim, é possibilitar a cada leitor lidar com os conteúdos propostos de forma autônoma. O ideal seria que, tendo assimilado todo o material apresentado, o espectador mais ligado ao cânone experimental fosse capaz de abordar ou rever o filme narrativo-clássico com um outro olhar, e vice-versa. Da mesma forma, o cinéfilo ligado ao corpo tradicional do cinema americano, seus gêneros e seus modelos narrativos, poderá arriscar-se na prospecção de uma cinematografia como a italiana, vizinha daquele em vários pontos, mas com uma variedade e, a bem dizer, uma mescla de propostas (industriais, autorais; para-industriais, para-autorais) que garante a sua singularidade. Em suma: que, ao fim e ao cabo, a leitura dessa edição possa tanto dissipar alguns preconceitos quanto acrescentar algumas vias de acesso para uma compreensão mais expansiva do cinema. Nesse sentido, são dadas várias opções, várias portas de entrada e saídas.
Fico contente em ver que, no meio de todo o material, você começa comentando o que foi provavelmente nosso principal norte para a composição desta edição: a impossibilidade da fantasia do Éden, a necessidade de nos reconhecermos, justamente, como não inocentes. Em alguma medida, o movimento de que falas, entre construção e desconstrução, tem a ver com esse jogo que desejamos manter com o leitor. Se a inocência, para o crítico, é uma impossibilidade, só lhe resta transformar o seu contrário, neste caso a consciência, no seu pilar. E é essa consciência “de nossos próprios conhecimentos e capacidades de abordá-los” que nos leva, na medida do possível, a afrontar os nossos limites, que afinal é a única maneira de superá-los. Há algo disso no texto do Rivette que mencionas, e há igualmente na sua filmografia, como é o caso com Godard. Foi, de certo modo, o que tentamos fazer: buscar limites e abordá-los criticamente para então seguirmos rumo a novas questões.
Devo dizer que eu vejo o caso de Sollima de uma maneira muito particular. Os textos escritos por ele em que são abordados os temas, os ambientes, a técnica e as principais personagens do cinema dos Estados Unidos são textos de introdução e informação, escritos do ponto de vista de um espectador versado (um espectador italiano do pós-guerra, é bom lembrar) que viu e reportou as características principais desse cinema sem acrescentar muito da própria personalidade. É um trabalho de historiador que, nos seus limites e no seu rigor, desemboca num trabalho crítico. Como cineasta, é provável que Sollima tenha aprofundado todo esse conhecimento ao acrescentar-lhe sua fantasia pessoal (a consciência política nascida durante a luta na resistência, os sonhos com os arquétipos hollywoodianos, a batalha contra o fascismo e todas as forças retrógradas da cultura europeia etc.), mas acredito que o que há de especial na sua obra cinematográfica é a maneira como a reflexão do universo do filme de gênero se dá a partir de um imaginário cinéfilo intimamente ligado à tomada de consciência política de um homem europeu do séc. XX. Acredito que tenha sido isso o que estimulou Sollima a sofisticar certos tropos e certas estruturas já existentes no cinema clássico americano, estruturas que os filmes não transformam ou viram do avesso (como em Leone), mas antes depuram. A maneira de construir elos de significados vem, evidentemente, da tradição americana (de Dwan a Aldrich, de Griffith a Fuller), mas Sollima os conduz, principalmente em La resa dei conti e Faccia a faccia, a novos limites expressivos (a construção por elipses, cujo principal produto nos filmes de Sollima é o silogismo, é intensificada, e seus encadeamentos precipitam a tensão dialética das forças em jogo). “Uma crítica clara do sistema de classe e das batalhas que ele naturalmente gera” é, como em A regra do jogo, O intendente Sansho e O portal do Paraíso, o que Sollima dispõe no grande tabuleiro da história, mas é como cineasta, e não como historiador nem como militante, que ele a situa em sincronicidade no grande tabuleiro da história das formas. Como disse Barthes, e como lembra Lucas, “quanto mais um sistema é especificamente definido em suas formas, tanto mais é dócil à crítica histórica”. Estamos em total acordo quanto à necessidade de “uma crítica clara do sistema de classe e das batalhas que ele naturalmente gera”, e acredito que isso está intrinsecamente ligado à ideia de “mexer com a forma para mostrar que a forma do mundo precisa mudar”. É algo de que sinto falta na maior parte da produção contemporânea (as exceções, não por acaso, são quase todas comentadas nesta edição, em particular no Jornal), e acredito que podemos avançar a hipótese de que todos os grandes cineastas, todos os grandes filmes o fazem nos termos propostos por Barthes.
Para chegarmos na organização dessas questões, o trabalho em conjunto foi crucial. A definição da estrutura começou já à altura da escrita dos primeiros textos, e de lá para cá tratou-se basicamente de insistir na disposição mais consistente das pautas. Foi importante, inclusive para a elaboração dos nossos textos, incluir as imagens no índice bastante cedo. Na medida em que avançávamos com os conteúdos e a estrutura geral da edição se tornava mais evidente, seguimos alterando ou adicionando imagens, tentando encontrar uma organização coerente com o movimento interno das pautas. Além disso, trabalhamos com os redatores em cima dos textos e das traduções, a partir de discussões que nós, como editores, tínhamos a propósito da importância de cada texto no conjunto geral. Quanto à escrita dos nossos artigos, cada editor contou com o feedback dos outros em algum nível, em algum ponto ou outro da redação (no meu caso particular, tive a ajuda constante da Valeska durante todas as etapas da escrita, e mais tarde pude contar com as revisões do Lucas e do Matheus). Já a seleção das imagens teve início com as que integramos ao índice ao longo dos anos. Alguns textos, como os de Luiz Carlos Oliveira Jr. e Adriano Aprà, já vieram com as imagens selecionadas, enquanto em outros casos foi preciso trabalhar junto com os autores para se chegar a uma disposição interessante. Ao fim desses processos, que correram por boa parte da composição do número, fizemos uma última leitura de cada texto e em alguns deles, levando em consideração o conjunto, acrescentamos imagens, pois havia nestes a inclinação ou a possibilidade de uso.
Nas duas partes do ensaio que escrevi sobre mise en scène, a abordagem adotada surge da mesma questão que nos orientou por toda a edição: a ideia de que sem uma atenção à forma (os exemplos tomados “das obras e artistas individuais”) é impossível a concretização de uma crítica verdadeiramente histórica. Mas isso tudo remonta ainda a outra questão: o que a nossa perspectiva atual pode ter de original, não em si mesma, mas justamente por incorporar tal perspectiva de 1975, ou tal de 1955? Qual ângulo privilegiado temos hoje que não existia nessas épocas, e mais: como fazer com que esse ângulo assimile o que pôde ser privilegiado em 1975 e em 1955 ao que pode ser privilegiado hoje? De minha parte, posso dizer que esses seis anos de trabalho na revista tiveram dois efeitos sobre os meus textos. Primeiro, com relação ao que havia sido feito nas edições anteriores, mas também com relação à própria discussão sobre mise en scène, eu pude organizar uma documentação crítica a partir da evolução formal do cinema de Fleischer que, apesar de seguir a tradição dos Cahiers e do mac-mahonismo ligada ao cinema americano, não chega a se alinhar de todo com eles. O outro efeito foi que essa discussão pôde se dar em um novo contexto, inaugurado com esta edição, o que tornou necessária a escrita de um ensaio complementar [“De Dwan a Dwoskin, ou O cinema na era do presente absoluto”], que ao seu modo também parte de uma documentação crítica, neste caso mais heterogênea, para acompanhar as transformações do conceito de mise en scène concomitantes à evolução formal do cinema a partir dos anos 1970. Essas questões precisavam de uma resposta consistente, uma resposta capaz de sintetizar “pensamentos e momentos específicos no tempo como indicações de fluxos e debates maiores”. Foi o que tentei fazer com esse ensaio, que de certa forma conclui uma linha de reflexão que começamos na primeira edição da revista, a partir do cinema de Samuel Fuller.
………….
VALESKA G. SILVA: Fleischer me perturba, no melhor sentido, claro. Mas eu faria um adendo ao que você disse, Aaron: a diversidade dos gêneros e o que estes possibilitam em termos dramáticos é o que torna ele um artista extremamente autoconsciente, a meu ver. O filme de aventura, o western, o filme policial, permitem certas reflexões através da mudança de energia exigida por cada um deles. A partir dos gêneros, pode-se abordar a natureza humana, seus esquemas, seus vícios, suas estruturas injustas e naturalizadas, em ambientes e climas específicos, obtendo um leque de resultados. Mandingo, por exemplo, trata de um acontecimento histórico muito pontual no quadro de um melodrama; no entanto, ainda que as situações dramáticas possam ser encontradas em outros filmes, como no caso da comovente incapacidade da autodefesa, a voz crítica de Fleischer é exaltada de forma única pelos sentimentos que movimentam a trama, e pertencem à substância mesma do gênero. Por certo, Fleischer passa por essas tradições sempre com uma nova consciência. Podemos encontrar o mesmo caso nas obras de Fuller, Carpenter, Sollima, Cimino. É uma tendência que surge às vezes dentro do cinema industrial e que pelas mãos dos grandes se torna ferramenta para avançar suas reflexões.
Quanto ao processo de escrita, o trabalho na Foco guarda preciosas semelhanças com a atividade cineclubista, porque um outro editor revê o filme para o qual se está escrevendo, e a partir disso ocorrem conversas, trocas de impressões, sempre apaixonadas. Só depois vem a escrita — muita escrita e muito descarte. É no ato da escrita que as coisas acontecem, quando descubro o meu assunto enquanto aprendo com ele. O texto vai para as mãos dos outros editores e retorna muitas vezes. É um trabalho muito prazeroso, e sempre riquíssimo. A verdade é que eu não estaria escrevendo sem esse esquema, ou sem esses colegas.
………….
LUCAS BAPTISTA: Acho que Bruno e Valeska descreveram bem o processo de leituras e revisões que fizemos uns dos outros. Quanto aos meus textos, todos foram compostos de maneira bastante similar. Primeiro, revisões dos filmes, notas sobre aspectos que pareciam importantes em cada um deles, correlações entre partes do mesmo filme, entre diferentes filmes, entre cineastas, entre contextos de produção. À medida que as observações se acumulavam, conversas e algumas leituras invariavelmente sugeriam um formato para organizar essas ideias. Deste ponto em diante, a escrita se tornava mais contínua, com muitas reescritas e edições. Alguns pareceram exigir imagens, como ilustração ou pontuação. Um fator imponderável, claro, é qual filme irá chamar a sua atenção o bastante para que você queira escrever sobre ele, e outro ainda é sobre qual filme você terá realmente algo a dizer.
Sobre a quantidade de material e o receio quanto ao “próximo passo”, este é um problema que nós mesmos enfrentamos durante a elaboração da revista. O desafio foi manter, por um lado, uma organização rigorosa dos temas, e por outro, o caráter provisório dessa ordem. Há uma série de oposições que, vistas como as coordenadas de um campo, ajudam a pensar o cinema de maneira um tanto ampla: silencioso e sonoro, clássico e moderno, narrativo e experimental etc. Elas são recorrentes em várias tradições, o que acaba as tornando incontornáveis. São categorias relativamente simples, talvez até simplistas, mas que dão marcações históricas e teóricas mais ou menos claras pelas quais a crítica pode se orientar. Uma atenção a esse valor heurístico das divisões me parece fundamental e, também, é algo ligado ao que você traz sobre a perda da inocência. Se a preocupação é deslocada de uma crença nessas polaridades para o que se pode investigar a partir delas, o resultado tende a ser um aumento da consciência. Pensar que a crítica é feita sem referências como essas seria uma ingenuidade; mas considerar que, por elas serem utilizadas, são apenas afirmadas, seria igualmente ingênuo. Nesse sentido, eu encaro a presença delas na edição como as marcações que utilizamos, que nos permitiram escrever sobre certas coisas, e nos permitiram identificar o quê, ao redor delas, pode e deve ser investigado em seguida. (Não foi McLuhan quem disse que o importante é sempre o que você toma como dado, mais do que aquilo que analisa?) Por isso os melhores textos, a meu ver, são justamente os que parecem dar uma caracterização de certos objetos, mas também sugerir os meios para integrá-los a outros.
Um exemplo: não abordamos a “passagem ao sonoro” com a mesma atenção que demos ao cruzamento entre “narrativa e experimental”. A questão surge pontualmente na edição, é mencionada como sendo fundadora no quadro das vanguardas, e mesmo na constituição dos gêneros clássicos, mas permanece secundária, nunca o centro da reflexão. A bibliografia sobre o cinema silencioso (certamente a da crítica online) é consideravelmente menor e menos sólida do que aquela voltada a filmes dos anos 1930 em diante, e a cinefilia contemporânea também é dedicada, em grande parte, ao “período sonoro”. Uma contribuição nessa frente seria crucial, e mais ainda para uma revista preocupada com a ampliação do seu escopo. Poderíamos, então, ter seguido diretamente até o cinema silencioso. Não fizemos isso. Mas não seria válido também vê-lo através das vanguardas e dos gêneros clássicos? Uma exploração posterior dessa região do campo não poderia ser instigante justamente por ter sido precedida por um reconhecimento das ambivalências que dela resultaram? Isso poderia ajudar a reconhecer uma certa complexidade nesse recorte. Eu acredito que uma preparação para esse gesto está presente na edição atual da revista. Talvez outras também estejam, as quais ainda não percebemos.
É nesta chave que eu falaria do aspecto “elementar” que você reconhece em Godard e Frampton. Ambos, como vários outros, tiveram uma postura elementar ao buscar os mínimos denominadores comuns do cinema. São aqueles nomes que fizeram uma guinada epistemológica, que voltaram o olhar à própria base da representação, e que procuraram expor os meios nela utilizados, tanto os seus limites quanto a sua produtividade. Você cita Ernie Gehr e Chantal Akerman, e são ótimos exemplos de como isso permite tratamentos diferentes sob essa mesma lógica. E aqui, conforme entramos no território das “duas vanguardas”, surgem outras oposições, como entre “realidade” e “representação”. Outra seria entre “forma” e “conteúdo” — ou, mais especificamente, entre a autonomia da forma e a definição do seu sentido por questões externas à arte. Sabemos que o cinema experimental, sobretudo o estrutural, por sua ênfase intensa na forma e por sua abstração aparente de qualquer conteúdo, teve desde o início que lidar com acusações de alienação e despolitização. A própria palavra “formalismo”, muitas vezes associada às vanguardas, ganha com isso também uma conotação negativa, como uma recusa genérica do “sentido”; e o sentido, por sua vez, se torna o grande nexo de valores sociais da arte. Esse raciocínio me parece depender de reduções arbitrárias desses termos, e parece inclusive ignorar a história do formalismo como vertente da crítica. (Ignora mesmo algumas de suas leituras mais incisivas: Trótski, que foi extremamente reticente quanto ao “método formal”, reconheceu o valor de suas premissas, sendo uma delas a autonomia da forma.) São também reduções que revelam limites bem particulares: não é casual que os ataques venham de meios em que o cinema dito “abstrato” é excluído em sua quase totalidade, de modo que as próprias noções de “sentido” e “forma” são derivadas de uma visão bastante restrita. Os formalistas russos dos anos 1920 e seus epígonos, tanto quanto os cineastas e críticos que trouxemos, tiveram concepções mais flexíveis das relações entre essas palavras, ou seja, como a forma artística absorve ou transfigura a realidade, e como fornece um conhecimento sobre ela com a sua reestruturação, em vez de apenas reproduzir ou ilustrar um conhecimento previamente definido. Como o nosso interesse era justamente tratar de um campo cada vez mais amplo, foi crucial seguir nesta direção, senão em todos os textos (há muito na edição que desvia de qualquer influência “formalista”), ao menos em alguns dos nossos, e na composição geral.
………….
MATHEUS CARTAXO: Reitero o que os amigos disseram, principalmente sobre as trocas intensas que acompanham a escrita de cada texto. Acredito que Bruno, Lucas e Valeska concordam comigo que essa parte do processo, cheia de reflexões e ajustes — e à qual os leitores infelizmente não têm acesso — é um dos principais motivos de continuarmos a fazer a revista. Cada número da Foco marca um momento de nossas vidas e faz um retrato do que pensávamos, de quais eram nossas referências e objetivos. Nesse sentido, aproveito o gancho para tratar do livro da revista. Em 2017, eu, Lucas e Bruno viajamos para Portugal a convite dos Encontros Cinematográficos, na cidade do Fundão, onde aconteceu o lançamento de uma antologia pela A23 Edições. O processo de elaboração do livro naturalmente levou a uma releitura de tudo que havia sido publicado desde o primeiro número, sendo inevitável fazer um balanço e repensar os rumos a serem tomados. A edição atual já estava sendo preparada, e não tenho dúvidas de que o trabalho em paralelo com o livro teve grande influência em todas as mudanças que descrevemos aqui nessa conversa. Os planos para publicar um livro semelhante no Brasil ainda não foram adiante, mas segue como uma possibilidade. Vindo após a publicação deste novo número, certamente apresentaria um resultado diferente do livro anterior.
………………

………………..
AARON CUTLER: Eu realmente estou gostando muito dessa conversa, e sinto que estou aprendendo muita coisa. Mas, como uma pessoa sábia uma vez me disse: “Toda coisa boa sempre tem que acabar — inclusive, para que se tenha mais coisas boas no futuro”.
Com isso (e, também, com a esperança de ter futuras conversas) em mente, venho agora para minhas últimas perguntas. Até antes de perguntá-las, quero deixar claro que eu propositalmente não perguntei a respeito de certas coisas: o que vocês acham do cinema na época da pandemia, o que mais vocês acham da Internet e da cinefilia virtual, o que vocês acham da função da crítica de cinema hoje em dia, o que mais vocês acham de diversos outros assuntos “do momento”. Evitei esses tópicos porque creio que as respostas naturalmente iriam surgir se as informações fossem relevantes; porque, de fato, as atualidades geralmente me cansam (uma das poucas exceções sendo o abandono forçado atual da Cinemateca Brasileira, um assunto cuja gravidade e urgência eu acho que não podem ser subestimadas); e porque, além disso tudo, entendo que a sua proposta com a Foco é felizmente outra: fazer algo, sim, a partir de gestos personalizados durante momentos específicos no tempo, mas que seja algo duradouro, relevante aos filmes tratados (e ao cinema como um todo) em qualquer momento que a edição seja lida. E, nesse sentido, quero também já lamentar o fato de não poder discutir mais a fundo, por motivos de ocasião e espaço, diversos textos que gostei da edição, especialmente nos muitos materiais do Jornal — seja uma nova tradução do grande Robin Wood, seja pensamentos performativos e bem-vindos do nosso colega Calac Nogueira, seja a perspicuidade eterna da Sylvie Pierre, seja diversas outras coisas que deixo aqui para futuros leitores saborearem e aproveitarem da melhor forma.
Agora, fecho com dúvidas personalizadas para vocês:
Matheus, quero pegar o gancho de seu último comentário, sobre a ideia de apresentar um resultado diferente. Minha dúvida: como é que essa nova edição da Foco mudou seu entendimento do que a revista é, de suas capacidades e possibilidades? O que você agora acha da Foco que você não achou ou entendeu antes? Como você situaria esta nova edição frente às edições anteriores da Foco, e inclusive, frente às outras publicações sobre cinema que serviram para vocês como referências de distanciamento ou de aproximação?
………….
MATHEUS CARTAXO: Para responder a essas questões, retorno ao que você disse antes, Aaron: a necessidade de ser rigorosamente crítico, mas também autocrítico. O processo de elaboração desta nova edição da Foco me fez repensar o lugar e a postura da revista. Em números anteriores, havia uma tendência a fazer da crítica uma forma de intervenção, ou seja, diante de um cenário que nos desagradava — por tudo que nele assumia primazia, mas principalmente pelo que era deixado de fora ou ignorado —, eram propostos outros caminhos. A revista assumia, então, um tom assertivo, que pode ser identificado sobretudo no editorial de 2011, e que envolvia desde o elogio a certos realizadores em oposição a outros até o próprio estilo da escrita. No fundo, acredito que muito disso vinha da maneira como foram absorvidas certas influências, principalmente da crítica francesa dos anos 1960: Jacques Rivette, Jean Douchet, Michel Mourlet. À medida que alguns de nós travamos contato com outras tradições, aquele tom adquiriu mais gradações, e a escrita passou a trazer outras abordagens, nas quais diminuía o gesto de intervenção. Ainda assim, o meu maior aprendizado, aquele no qual identifico as possibilidades mais valiosas da Foco, é que não se trata de rejeitar uma coisa em detrimento da outra, mas sim nos servir de todas elas. Se a porção do cinema iluminada por André Bazin não toca os achados de Stan Brakhage, não significa que eu deva me posicionar ao lado de um ou do outro. Em vez de uma visão excludente, me parece mais interessante buscar uma visão complementar.
………….
AARON CUTLER: Lucas, como você se interessa muito pelos temas de catálogos e enciclopédias, quero te perguntar a respeito dos nomes homenageados no editorial. Quem são essas pessoas — não no sentido biográfico, necessariamente (embora pode comentar isso se quiser), mas em termos dos significados que elas e seus trabalhos carregam para vocês? Como foram essas escolhas? O que você entende como a importância de nomeá-las? E, como o pesquisador Gene Youngblood acabou de morrer no dia 6 de abril, você acha que o nome dele merece ser acrescentado à lista?
………….
LUCAS BAPTISTA: Nós decidimos homenagear uma série de críticos que faleceram nos últimos seis anos, e que são representativos das linhagens que procuramos integrar, basicamente a francesa e a americana. Muitos deles foram associados a revistas como Cahiers du cinéma e Film Culture, e participaram dos momentos de maior inventividade e centralidade de reflexão nesses veículos. Pierre Rissient e Jonas Mekas atuaram também na promoção e distribuição de filmes, e como outros desse elenco, foram também realizadores. Alguns foram responsáveis pela formulação e pela investigação do problema das duas vanguardas, como Annette Michelson e Peter Wollen, que serviram como os pontos de partida na pauta. Michelson, a meu ver, é a grande referência nesse contexto, demonstrando já em seus primeiros artigos sobre cinema um olhar ao mesmo tempo agudo e flexível, a ponto de escrever, em poucos anos, textos seminais sobre Stanley Kubrick, Michael Snow e Dziga Vertov. Outros autores, como Gilberto Perez e Vladimir Petri?, conseguiram equilibrar durante décadas as exigências de uma escrita acadêmica com uma sensibilidade extremamente particular. A pesquisa inicial de Petri? sobre a influência do cinema soviético em Hollywood nos anos 1920 e 1930 (orientada, aliás, por Michelson), é um grande exemplo de conjunção entre historiografia e análise teórica. E o livro póstumo de Perez, sobre a retórica cinematográfica, é uma verdadeira jornada por motivos formais e narrativos, com uma desenvoltura e um ecletismo inspiradores. São nomes praticamente desconhecidos no Brasil, mas cuja divulgação e discussão seriam bastante proveitosas.
Gene Youngblood certamente pode e deve integrar esse conjunto. Muito já se falou sobre a importância de Expanded Cinema (1970), uma das obras que capturaram a efervescência criativa e tecnológica daquele momento, e que, entre outras coisas, prefiguraram a Internet (a expressão “o superego do planeta”, que ele utiliza para se referir à televisão, é ainda mais adequada para o universo online); mas o livro é também repleto de observações críticas a serem redescobertas. A conjunção entre Kubrick e Jordan Belson é talvez a mais conhecida, mas há insights valiosos sobre Godard e as várias correntes do cinema moderno narrativo.
Uma característica que não podemos ignorar é que todas essas figuras compõem uma mesma geração, que é também a de Adriano Aprà e Fred Camper. São críticos que viram o surgimento do cinema moderno, que acompanharam e interpretaram no calor do momento os filmes que hoje consideramos emblemáticos, e que muitas vezes definiram os termos nos quais aconteceriam esses debates. Há uma certa melancolia em ver esta geração desaparecer aos poucos, mas há também — e foi algo que discutimos com Aprà durante a entrevista — a percepção de que é necessário traduzir, comentar, atualizar esse legado. Além de uma homenagem, serve também como um reconhecimento desse cenário.
………….
AARON CUTLER: Valeska: além de ser uma exímia crítica de cinema, a sua escrita me parece revelar uma engajada e rigorosa crítica social que usa a sétima arte para tentar entender o que nas nossas vidas, e no nosso mundo, está bem e precisa ser valorizado, e o que é que temos conosco que precisa ser mais trabalhado. Com isso em mente, eu quero te perguntar justamente a respeito da Foco: o que é que você acha que a Foco faz de melhor, e que essa edição faz de melhor em relação às edições passadas? O que você acha que existe ainda como terreno para ser explorado e melhorado na revista — não apenas em termos de tópicos e temas, mas também, em termos de tipos de abordagens para serem tomados e abordados? Como você enxerga a comunidade (de editores, redatores, espectadores, leitores e outros) que vocês estão criando através da revista, e o que você espera dessa comunidade no futuro, inclusive em seu próprio contato com ela?
………….
VALESKA G. SILVA: Há um momento em Playtime [de Jacques Tati], em que os garçons aparecem segurando um boneco pelas pernas. Os clientes interrompem a mastigação para acompanhar espantados a cena, como se fosse um cadáver adentrando o restaurante. Nesse ponto do filme, após a apresentação da rotina desumana à qual os personagens estão submetidos, a tendência torna-se o absurdo, o imponderável, e tudo pode acontecer. Outras características da situação poderiam ser enfatizadas nesta descrição, como quando o restaurante inicia uma espécie de decomposição e os clientes que tentam sair não conseguem simplesmente porque a seta luminosa da entrada aponta para o interior do estabelecimento. Um aspecto essencial na crítica diz respeito à abordagem, à particularidade do olhar, já que a cada vez que vamos escrever sobre um filme estamos enfrentando as tendências, ou cedendo a elas. É o dilema incontornável.
O espectador comum talvez ignore o conflito étnico e de gênero abordado nas sequências iniciais de Mr. Majestyk, e talvez até julgue que nos primeiros minutos “nada acontece”, mas após os créditos, na primeira cena, há um movimento de câmera que enquadra ao final duas portas de entrada para dois espectadores distintos: nelas vemos grafadas as palavras “Ladies” e “Men”. O espectador é livre e pode ver o seu filme por qualquer uma das portas. A questão para a crítica, entretanto, é: assistimos para saber mais sobre um agricultor que perde a sua colheita por se envolver com bandidos — um evento humano particular; ou para sabermos o quanto a vida de um homem que não se dobra às regras injustas e desumanas pode ser revirada — um evento universal? A crítica trabalha com a escolha entre esses modos, e, também, com a ênfase, quando o evento não é tão facilmente definido como “particular” ou “universal”, dessa forma se descobre o universo do filme, e se vai contra a tendência de procurar ali o nosso próprio universo. É sempre importante ir aos filmes, ouvir o que eles têm a dizer, como bem disse o Matheus.
A arte, para se desenvolver, depende da boa recepção — “se os espectadores são maus, os filmes serão maus” (Louis Skorecki). O que eu espero é que, de alguma forma, o público-leitor passe a ver o cinema de forma menos passiva, menos como os clientes do restaurante de Tati, para que o cinema tenha mais oportunidade de dizer algo novo sobre as coisas. Penso no destaque e sucesso de alguns filmes contemporâneos, que se dedicam a revelar mais um discurso que um universo, e acabam assim por falar muito mais de seu público, de seus anseios e desejos. E isso é o oposto do que a crítica deveria fazer.
………….
AARON CUTLER: E por final, Bruno, você brevemente comenta em sua última resposta o fato de ter escrito sobre alguns cineastas contemporâneos. Consegui identificar textos na edição sobre diversos cineastas ainda em atividade (Júlio Bressane, Leos Carax, Hong Sang-soo, entre outros), e de seus textos em particular, me lembro mais imediatamente de Pedro Costa e de Jean-Luc Godard como destaques entre outras figuras (Jean-Claude Rousseau, Rob Tregenza, Torgal/Pimenta e muitos outros nomes para meus visionamentos futuros). Todos esses me parecem artistas que fazem filmes que nos olham, enquanto olhamos para eles — ou seja, filmes que brincam de diversas formas com a dupla consciência que nós todos, que temos contato com o cinema, carregamos como consumidores e contadores (ou espectadores e imaginadores) de histórias. Entendo que essas são filmografias que trabalham com esforços conscientes de se situar tanto no presente provisório, quanto no presente absoluto. E quero então te perguntar qual tipo de retrato você acha que a nova edição da Foco dá do cinema contemporâneo, o que te interessa sobre esse recorte e como você acha que ele se encaixa no retrato da história de cinema que a edição oferece. E, junto a isso: após acabar de vez com a mise en scène, o que pode existir em seu lugar?
………….
BRUNO ANDRADE: Eu diria que, a partir da segunda metade do século XX, pelo menos três grandes vertentes convivem de maneira muito estimulante. Foram elas que tentamos abordar nesta edição da Foco, e que podemos chamar de mise en scène, presentificação e talvez de uma dialética entre “o primitivismo e a vanguarda” (em referência ao texto de Noël Burch com esse título). Em função disso, acredito que construímos um retrato do que entendemos por modernidade no cinema, na qual essa coexistência é fundamental (outro ponto de apoio aqui seria o texto de Annette Michelson, “Cena da ação, espaço do movimento”). Nas últimas décadas, eu poderia também apontar alguns caminhos pelos quais ocorre esse convívio. Há filmes que nos conduzem pela mise en scène mais decantada ou sedutora; há os que se baseiam em uma economia ao mesmo tempo arrojada e meditativa dos dispositivos de presentificação; há aqueles que buscam os pontos nevrálgicos da experimentação, que tentam levá-los ao limite de suas potencialidades e contingências; e há aqueles que mantêm uma tensão entre os espólios de conquistas formais do passado e a aventura de um cinema realizado no presente. Poderia citar vários exemplos de obras que se enquadram nestas ou em outras categorias: Não toque no machado, At Sea, Le quattro volte, Coming Attractions, além de vários que comentamos nesta edição ou em edições passadas da revista.
Quanto à mise en scène, a verdade é que ela persiste na prática de alguns cineastas, e por isso deve persistir como objeto de discussão. Pode-se permanecer aquém ou ir além dela; pode-se desprezar seus expoentes e seus êxitos, ou passar ao largo de seus impasses e paradoxos; pode-se considerá-la o núcleo da reflexão (foi o que tentamos fazer nos primeiros números da revista), ou reduzir a sua centralidade (como tentamos fazer nesta edição). O que não se pode fazer é ignorá-la, inclusive como força recorrente e relevante na história do cinema. É preciso dizer também que essas categorias são mais elásticas do que se costuma dar a entender, e do que nós próprios demos a entender no passado. Basta pensar que tanto Serene Velocity como Tristana foram realizados em 1970, e que o ápice da carreira de Kenji Mizoguchi é paralelo aos experimentos de Isidore Isou. Ou então, que cineastas como Jacques Rivette e Pedro Costa recorreram tanto à herança da mise en scène, de seu caráter mais premeditado, quanto à influência do cinema direto em sua concretude e imprevisibilidade. Considerando estes e outros casos, só nos resta admitir que essas vertentes são assimiladas e se transformam mutuamente. É por isso que eu insisto na necessidade de os termos serem eles mesmos desafiados, revistos, e talvez até superados. Diante de alguns dos filmes mais interessantes que vimos e sobre os quais escrevemos, essa necessidade é capital.
……………
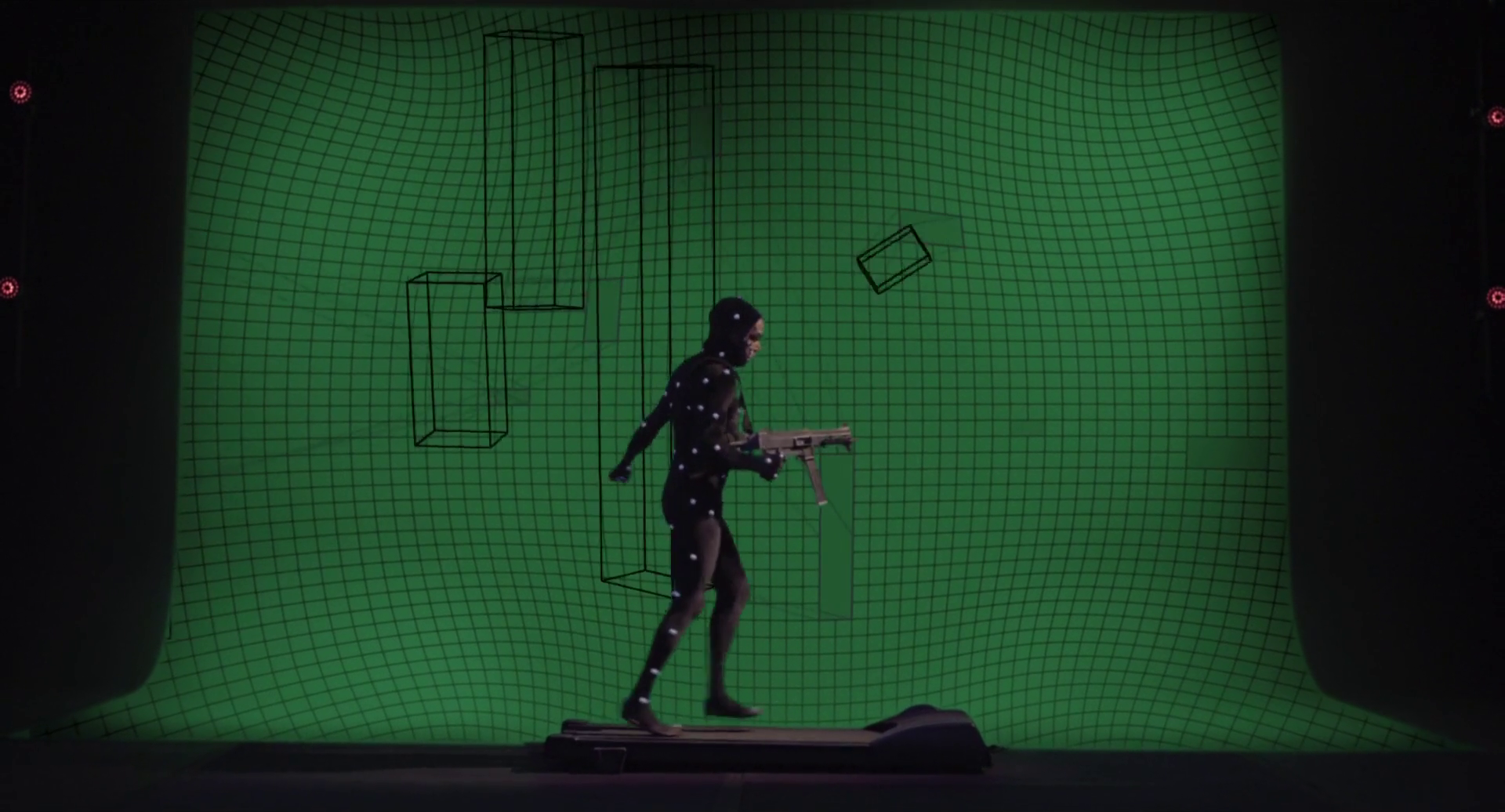
……………
………………




