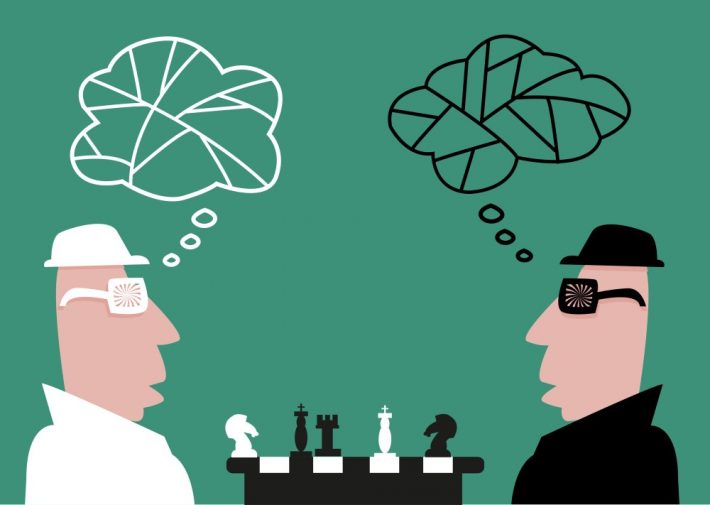
por Andrea Faggion
A teoria dos jogos é uma teoria sobre a racionalidade estratégica. O que isso quer dizer?
Nossa racionalidade nos serve como um instrumento quando ela descobre relações causais em nosso ambiente e nos orienta quanto a quais meios devemos escolher, tendo em vista tais relações, para que nossos fins possam ser realizados. Por exemplo, nossa racionalidade é instrumental quando descobre um meio de irrigar a terra para que possamos produzir mais alimentos e, assim, saciar uma de nossas principais necessidades fisiológicas.
Acontece que terra, água e alimentos são seres inanimados que não raciocinam como nós. Isso muda tudo! Nossa razão se aplica a esses seres sem ter que levar em conta, em seus planos, que eles mesmos estejam planejando fazer alguma coisa quanto a nós. Muito bem, nós falamos em racionalidade estratégica, e não em racionalidade instrumental, quando, pelo contrário, nossos planos incluem seres que também estão planejando e, muito mais do que isso, seres que sabem que nós mesmos estamos planejando e que nós também sabemos que eles também estão planejando. A metáfora mais elucidativa para o raciocínio estratégico é a dos espelhos colocados frente a frente, reproduzindo ao infinito um a imagem do outro. Pois a teoria dos jogos estuda a racionalidade de tomadas de decisão nesse tipo de situação.
Uma das coisas mais interessantes que aprendemos com a teoria dos jogos é que nossa racionalidade pode falhar conosco e falhar de modos até inesperados. A filosofia, desde há muito, tematiza os limites da razão. Sabemos que há muitas coisas que não podemos saber (coisas que, talvez, sejam as que mais quereríamos saber). O que a teoria dos jogos nos mostra é algo bem diferente. Aprendemos com ela que o curso de ação mais racional pode ser pior do que um curso de ação menos racional. Quer dizer, você faz a coisa racional a fazer e o resultado é necessariamente (e não apenas acidentalmente) pior do que seria se você tivesse sido irracional em sua escolha. A razão não consegue sair desse dilema sozinha.
Assim, alguns teóricos da autoridade têm proposto que a autoridade política sirva justamente para prestar um serviço à razão, tirando-a dessas ciladas nas quais ela se mete e das quais não consegue sair por si mesma. É esse tipo de estratégia argumentativa contra o anarquismo filosófico que analisamos no capítulo de hoje de nossa série.
Comecemos por um tipo de jogo um pouco menos problemático do que o delineado acima, chamado de “problema de coordenação”. Aqui, se trata de um mero problema de informação. Há problemas de coordenação, no sentido da teoria dos jogos, quando há diferentes agentes precisando tomar uma decisão e a preferência de todos eles é decidir como os outros decidirem.
O exemplo que se repete em praticamente todo texto encontrado na literatura sobre o tema é a escolha da mão em que vamos dirigir. No caso, temos um problema de coordenação aqui quando as pessoas até podem preferir dirigir em uma mão em vez da outra – por exemplo, destros podem preferir a mão direita do trânsito – mas, acima de tudo, todas elas preferem dirigir na mão em que os outros dirigirem. Essa preferência, inclusive, é facilmente explicável pelo fato desses jogadores preferirem, acima de tudo, evitar uma colisão frontal no trânsito, mesmo que, para isso, eles tenham que dirigir na mão que lhes pareça a opção menos natural.
Mas por que essa situação geraria um problema para os jogadores, no caso, os vários motoristas envolvidos? Pelos simples fatos de que 1) existe mais de uma alternativa que todos poderiam escolher (mão direita ou mão esquerda) e 2) não sabemos o que estão pensando os outros jogadores. Será que, assim como eu, eles também prefeririam automaticamente a direita se fossem destros? Quantos deles serão destros?
Naturalmente, se os jogadores pudessem conversar entre si sem que isso fosse imensamente custoso, eles poderiam barganhar uma solução. Talvez, concordassem em fazer um sorteio no fim das contas. Mas, se tivermos milhões ou mesmo milhares de motoristas envolvidos, não será nada prático fazer uma reunião com todos eles. Ou imagine o tamanho do grupo no Whats App (essa invenção horrorosa que já é infernal só com meia dúzia de participantes)!
Alguém poderia dizer que, nesses casos, costumes/convenções sociais espontaneamente formadas dão conta do problema. Muitas vezes, é esse mesmo o caso. Contudo, em outros tantos contextos, podemos imaginar que o custo de espera pela formação de um costume será ele também muito alto. Quantas colisões até que as coisas se acomodem e todos ou quase todos passem a dirigir em uma determinada mão?
É quando somamos um alto número de pessoas envolvidas (jogadores) com a falta de tempo para esperarmos a formação de uma convenção espontânea que, segundo o argumento, faz-se necessária a atuação de uma autoridade. Se todos fizermos aquilo que a autoridade manda, esse tipo de problema está resolvido. Temos então a comprovação de uma obrigação moral de obediência à autoridade, sendo autoridade aquela pessoa ou instituição capaz de fazer sua ordem chegar a todos, resolvendo efetivamente o problema? Não, e vejamos por que não.
É verdade que a diretiva de uma autoridade pode ser suficiente para resolver problemas de coordenação. Promulga-se um código de trânsito e sabemos em qual mão dirigir. Mas não é necessário dotarmos essa diretiva de autoridade para resolvermos o problema e nem é difícil entendermos por que não precisamos de autoridade para resolvermos problemas de coordenação.
Pense em uma situação relativamente comum. Hora do rush na sua cidade e um semáforo para de funcionar em um cruzamento movimentado. Um motorista igual a você desce do carro diante de todos e começa a coordenar o trânsito. O que eu digo que é fácil de ver é que nós fazemos o que esse motorista nos diz para fazer – paramos quando ele dá sinal para parar e avançamos quando ele nos dá sinal para avançar – não porque a ordem venha dele, mas apenas porque ele nos dá uma indicação segura do que os outros motoristas farão. Se eu usar minha razão estrategicamente e me colocar no lugar de cada motorista, eu sei que cada um tem toda razão para fazer como o coordenador improvisado diz para fazer e nenhuma razão para fazer o contrário.
É por isso que o motorista improvisado como guarda de trânsito nem sequer precisa de poderes coercitivos. A princípio, ninguém tem interesse em ficar parado bloqueando o cruzamento e nem em colidir com outro veículo ao avançar desordenadamente. Não faria sentido dizermos que as pessoas colocaram uma obrigação de obediência no lugar de suas próprias deliberações quanto ao que deveriam fazer naquela situação, porque tudo que o nosso “guarda” fez foi fornecer uma informação que faltava naquela deliberação das pessoas: como os outros vão agir.
Se pudermos nos satisfazer com isso, devemos passar a um outro problema, mais tradicionalmente associado à defesa de uma obrigação de obediência à autoridade. Neste novo jogo, o problema não diz respeito à informação, mas à motivação. Falo do famoso “dilema do prisioneiro”.
O dilema tem esse nome, porque é explicado com o seguinte exemplo. Dois cúmplices de um crime foram capturados e recebem uma oferta de delação premiada de seus captores. Se um deles aceitar o acordo de delação e o outro não, o primeiro não cumpre pena em regime fechado e o segundo recebe uma pena de 10 anos em regime fechado. Se ambos delatarem, ambos cumprem pena de 5 anos em regime fechado. Se ambos não delatarem, ambos cumprem pena de 6 meses em regime fechado.
O dilema, propriamente, é o seguinte. Suponha que eu seja um dos prisioneiros e me convença de que o meu cúmplice não vai me delatar. Nesse caso, se o que eu quero é a menor pena possível para mim, racionalmente, eu devo delatá-lo, pois, nesse cenário, eu não cumpro pena alguma em regime fechado. Seria o melhor cenário possível para mim. Agora, suponha que eu esteja convencida de que meu cúmplice vai me delatar. Então, racionalmente, o que eu devo fazer é delatá-lo também, pois, do contrário, eu receberia uma pena de 10 anos em regime fechado, o que seria o pior cenário possível para mim. Em outras palavras, não importa o que o outro jogador faça, só existe uma estratégia que eu devo adotar segunda a razão: delatar.
Acontece que o mesmo raciocínio do parágrafo acima vale para o meu adversário no jogo. Ele também deve me delatar. Assim, se formos racionais, ambos vamos delatar e ficaremos com 5 anos em regime fechado cada, quando poderíamos ficar com apenas 6 meses se ambos fossemos irracionais e não delatássemos.
Agora, você pode pensar que há saída, sim, para o dilema. Afinal, sendo a nossa razão estratégica, cada um sabe que o outro está raciocinando como ele mesmo está raciocinando. Assim, sabendo que esse raciocínio vai nos levar a uma situação sub-ótima em que cada um fica pior do que poderia ficar se fizesse a escolha oposta, então basta que façamos, efetivamente, a escolha oposta: não delatamos.
Acontece que a cilada se repete nesse momento. Se eu estou achando que meu cúmplice vai pensar assim e, portanto, não vai me delatar, então eu devo delatá-lo para ficar com um resultado que, afinal, é melhor do que 6 meses em regime fechado: delato-o e fico com 0 meses em regime fechado.
Também não adianta pensarmos que essas situações se resolvem se forem repetidas várias vezes. Se, por algum conjunto muito estranho de circunstâncias, eu vivi várias vezes o mesmo tipo de oferta com relação ao mesmo cúmplice no passado, o fato de eu saber que, das outras vezes, cada um de nós ficou com 5 anos em regime fechado quando poderia ter ficado com 6 meses não muda nada. Afinal, se eu estiver convencida de que, meu cúmplice, desta vez, não vai me delatar, em uma tentativa de mudar o resultado, novamente, eu devo delatá-lo para ficar sem pena em regime fechado.
Aparentemente, a situação só muda de fato se eu souber que esta não é a última vez que eu jogo esse jogo com meu cúmplice. Aí, se tivermos feito um pacto de não delação entre nós, pode valer a pena não quebrar o pacto desta vez, para que se gere no cúmplice um incentivo para manutenção do pacto em uma próxima vez. Em suma, eu teria razões para mostrar a ele que ele pode confiar em mim, e vice-versa.
Nesse caso, eu teria que estar certa de que 1) não é mesmo a última vez que jogamos esse jogo juntos e de que 2) meu cúmplice não teria mais a ganhar me delatando e ficando livre agora, mesmo sabendo que pegaria 5 anos de pena na próxima rodada do jogo, em vez de manter o pacto e ficar com 6 meses de pena em cada jogada. Seria um risco alto. Se eu calculasse mal, confiando em meu cúmplice quando não deveria, eu não o delataria, ele me delataria e eu terminaria com 10 anos em regime fechado já. Por outro lado, traindo meu cúmplice por antecipação, o pior que poderia acontecer comigo seria ficar 5 anos em regime fechado em cada rodada. Portanto, parece que, no fim, eu sempre tenho alguma razão para quebrar meus pactos e para não confiar nos outros jogadores. Aqui, entra o Leviatã.
Dizem alguns teóricos (hobbesianos, poderíamos acrescentar) que o fracasso da razão estratégica em nos aconselhar a manter nossos pactos nos leva à necessidade de criarmos um artifício capaz de fazer com que a manutenção do pacto seja sempre vantajosa para ambas as partes. O que cria essa vantagem é uma coisinha chamada “espada”, que cai sob a cabeça que viola o pacto firmado.
O Leviatã nada mais é do que um homem artificial, feito para ser mais forte do que qualquer homem natural. Tendo essa força, ele consegue criar uma ameaça de terror forte o bastante para o violador de pactos, de tal forma que, agora, cada jogador tem um elemento completamente novo em seu raciocínio: ele sempre perde se violar o pacto, porque a punição do Leviatã será sempre maior do que o que quer que seja que ele ganhe com a traição. Mais ainda, sabendo, estrategicamente, que o outro jogador também sabe disso, ninguém precisa mais temer uma traição e se antecipar para não ser o traído. Dilema resolvido!
Só tem um probleminha com esse raciocínio quando ele se pretende justificador de um dever de obediência à autoridade: de novo, não precisamos de autoridade para resolver o problema. Você se lembrará que, no caso do nosso “guardinha” acima, só precisávamos de seus gestos para resolvermos nosso problema de coordenação. Ele nem sequer precisava ter um cacetete! Desta vez, precisamos apenas de uma espada forte o bastante.
Ora, qualquer observação dos sistemas legais empíricos mostra que eles são capazes de sobreviver a doses consideráveis de desobediência, na forma tanto de um percentual de cidadãos desobedientes quanto de um percentual de leis inefetivas. Assim, nas (muitas) situações em que não há risco de que minha desobediência faça cair a espada das mãos do Leviatã, naquelas situações em que seus olhos sequer estarão voltados para mim, por que eu agiria como ele manda? Já sabemos que razões teríamos nesses casos: apenas aquelas razões morais independentes da existência da lei.
Mas isso não é nada diferente do que nos diz o anarquismo filosófico…
Leia os outros textos de “Diálogo com o anarquista”:
Parte 1 – Obrigação e consentimento
Parte 2 – O argumento a partir da equidade
Parte 3 – Obrigações associativas




