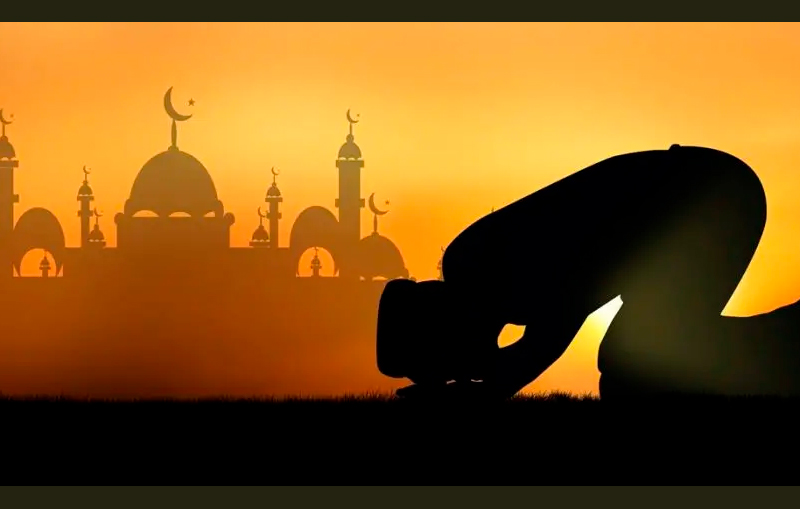
por Fabrício Tavares de Moraes
No que diz respeito à questão do mundo muçulmano e suas relações (tensas ou não) com os países europeus e, por extensão, com o restante do Ocidente, o tratamento ideal do tema seria aquele que, embora menos passional, fosse, não obstante, mais incisivo.
Uma das principais razões para as interpretações insuficientes e mesmo deturpadas sobre os eventos relacionados ao Islã é, além da vagueza e indistinção de conceitos, a prevalência quase absoluta de dois viés ou perspectivas no debate público, a saber, a visão de que os conflitos do Oriente Médio, a crise intelectual e política no mundo muçulmano e o terrorismo são apenas efeitos colaterais ou subprodutos da ação imperialista ocidental (em especial a geopolítica norte-americana); e a visão de que o Islã, a religião revelada no Corão, é invariavelmente brutal, belicosa e intransigente.
Obviamente que, na perspectiva restrita do debate público, esses entendimentos acabam sendo mutuamente excludentes. E é precisamente porque ambas contêm alguns elementos de verdade – os quais são elevados a princípios interpretativos –, que a discussão não traz respostas à tona, nem permite que cada lado seja fecundado por outros olhares.
Em primeiro lugar, porém, é necessária não apenas uma apreciação minimamente objetiva do atual estado das coisas, mas também nos localizarmos historicamente nessa extensa narrativa que, desde sua gênese, conduz o Islão a um relacionamento em geral ambíguo com aquilo que ele próprio designa de Ocidente cristão.
Ora, alguns autores foram prestos em relembrar-nos de que a ressurgência do Islão é precisamente isto: uma ressurgência, já que durante toda a Idade Média, e em especial na Reforma protestante no século XVI, muitos teólogos como Tomás de Aquino, Martinho Lutero e Raimundo Lúlio não somente condenavam sumariamente a doutrina islâmica, mas também a consideravam uma das manifestações do Anticristo. Além disso, mais recentemente, conforme noticiado em escala internacional, terroristas planejaram, em 2002, um ataque à Basílica de São Petrônio, em Bolonha, em razão do afresco de Giovanni da Modena ali presente, no qual Maomé é representado em meio a um abismo do Malebolge, atormentado por demônios, segundo a descrição de Dante no canto XVIII de seu Inferno.
Entretanto, cabe a indagação se há diferenças cruciais entre essa antiga hostilidade mútua e as atuais crises e tensões que perpassam o Ocidente e o Islão. Um dos pontos a serem salientados é justamente o fim do Império Otomano e a consequente dissolução do califado, em 1924. Seguiu-se a isso a profunda e deliberada secularização promovida por Mustafa Kemal Atatürk, que, no afã de integrar-se ao Ocidente, desarraigou as tradições islâmicas, proibindo as escolas que apregoavam a fé corânica e dificultando, na medida do possível, todas as iniciativas religiosas fundamentalistas.
Essa agenda política de “ocidentalização” – que, com Samuel Huntington, acabou tornando-se uma designação para um fenômeno moderno internacional, isto é, o “kemalismo” – evidentemente, e por reação, trouxe décadas depois uma espécie de revitalização do espírito muçulmano, ainda mais em razão das diversas recusas da integração da Turquia à União Europeia, que incitou um retorno à identidade religiosa.
Porém, as raízes da crise muçulmana, assim como o colapso institucional e espiritual ocidental, são mais profundas, obviamente. E mais: são uma fusão de fatores geopolíticos e teológicos; de contingências sociais imediatas e problemas filosófico-religiosos centenários. Daí o equívoco de ambas as visões anteriormente mencionadas, isto é, o colapso como um efeito colateral do neoconservadorismo americano e sua política exterior, ou como fruto natural de um sistema religioso em si maligno. Cada um desses pontos de vistas dominantes estão em geral associados respectivamente à esquerda e à direita.
Sendo mais claro, a primeira dessas perspectivas erra quando concebe as autocracias, o autoritarismo, a indiferenciação ou inexistência de instituições e a formação de grupos terroristas como uma simples (porém trágica) consequência das desigualdades econômicas promovidas por manobras geopolíticas das potências ocidentais; a segunda, por seu turno, esquece ou ignora os benefícios e a grande produção artística, cultural, filosófica e mesmo teológica da chamada “Idade de ouro islâmica”, quando, entre os séculos VIII e XIII, o mundo muçulmano e europeu conheceu a grande produção intelectual de nomes como Al-Farabi, Omar Khayyam, Ibn Tufayl, Al-Kindi, Avicena, Averróis, Al-Ghazali, Rumi e outros. À parte da fé islâmica, não há, entre estes intelectuais, um único sistema comum de pensamento. Averróis, por exemplo, escreveu a obra A incoerência da incoerência (Tahafut al-tahafut) como refutação à obra A incoerência dos filósofos (Tahafut al-Falasifa), de Al-Ghazali, que, morto décadas antes, ainda exercia a primazia no pensamento islâmico.
As raízes filosóficas e teológicas da crise
A primeira distinção cabível e que guiará nosso raciocínio doravante é a diferença entre islamita e muçulmano; entre islamismo e Islão. Ora, o islamismo é uma ideologia radical surgida no seio do Islão, e por conseguinte o islamista é o análogo do zelote no judaísmo, e do anabatista no cristianismo. A questão, todavia, e daí a analogia e não a igualdade, é que, mais do que uma simples afecção dentro de um corpo de doutrinas, a ideologia que atualmente ameaça o Ocidente e os demais grupos muçulmanos tem suas raízes em uma mudança filosófica e teológica ocorrida séculos atrás, ainda na Renascença islâmica.
Nesse sentido, poucos livros são mais lúcidos e informados que The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis[O Estreitamento da Mente Muçulmana: Como o Suicídio Intelectual Criou a Moderna Crise Islamista], de Robert R. Reilly (ISI Books, 2010). O título é uma referência direta ao hoje clássico The Closing of the American Mind, de Allan Bloom, traduzido no Brasil como O Declínio da Cultura Ocidental.
O ponto forte do livro, com prefácio e recomendação de Roger Scruton, é precisamente a busca pelas raízes intelectuais da “crise islamitsta”, resultante de um suicídio intelectual que pôs fim ao vigor de uma cultura que, conforme dito anteriormente, vicejou durante grande parte do período da Idade Média ocidental, produzindo obras invejáveis.

Sucintamente, a tese central de Reilly é que a tradição teológico-filosófica e jurisprudencial que possibilitou o florescimento da cultura islâmica é resultado, em parte, do encontro do Islão com o pensamento grego. Posteriormente, com a ascensão da linha asharita (de que trataremos adiante), que menospreza tanto a ideia de lei natural quanto de uma racionalidade imanente à criação e ao homem, e com a rejeição de um Deus também racional que atua no mundo mediante causas secundárias, os grupos dominantes estabeleceram uma espécie de primazia da vontade sobre a razão; do ocasionalismo sobre a ideia de causa e efeito; e de um Deus que é antes potestas absolutas(como no nominalismo escolástico) do que um Deus com uma aliança estável com os homens.
Tudo isso, segundo Reilly, tem início com a derrocada dos mutazilitas, uma escola teológica que acreditava na capacidade da razão humana discernir os mandamentos divinos. Mas não somente isto; o pensamento mutazilita advoga que o Corão, embora seja a palavra divina, não é incriado nem portanto coeterno a Deus – o que, conforme veremos, é hoje tido como blasfêmia.[1]Nas palavras de Reilly:
O interesse mutazilita na tawhid, ou unidade de Deus, estava relacionado ao grande número de atributos dados a Allah pelos tradicionalistas e ao status ontológico desses atributos. Os mutazilitas pensavam que isso comprometia a unidade indivisível de Deus. A insistência tradicionalista na incriação do Corão, que o tornava então eternamente coexistente com Deus, era outra violação da unidade divina, segundo a perspectiva mutazilita. A questão da justiça divina dirige-se ao âmago de quem Deus é e à natureza de seu relacionamento com o homem. Envolve as próprias ordem e natureza da criação enquanto pautada na razão. Os mutazilitas sustentavam que a liberdade do homem está relacionada à justiça de Deus, e também a habilidade da razão em apreender uma ordem moral objetiva.
Essa tradição, como se percebe, concebia algo análogo à Lei Natural, que tem sido discutida pela filosofia ocidental ao menos desde os estoicos. De fato, para os mutazilitas, “as leis de Deus são as leis da natureza (tab’), que também se manifestam na lei divina, a sharia”. Nesse ponto, os pensamentos islâmico e cristão convergiram, pois o primeiro concebia a existência de uma harmonia preestabelecida entre a razão humana e a ordem do mundo – uma consonância que somente é possível porque o Criador de ambas é não somente poder, mas também razão. Evidentemente, os mutazilitas não tinham algo semelhante à doutrina cristã do Logos que é a tanto a unidade racional do universo quanto a sabedoria divina encarnada na pessoa de Jesus Cristo.[2]
Porém, caminhando em direção oposta à dos mutazilitas, os asharitas, sua escola rival, enfatizavam não a unidade divina, mas sua onipotência. Curiosamente, os mutazilitas foram a única escola teológica a usar o termo wajib (obrigatório, mandatório) em relação a Deus; isto é, eles afirmavam sua onipotência, mas, diferentemente dos asharitas, para os quais Deus não estava vinculado a nada, eles defendiam que é necessário que Deus seja consistente consigo mesmo, vale dizer, com seus atributos.
O Ocidente deparou-se com um dilema similar quando da ascensão do pensamento nominalista de Ockham e sua asserção de Deus como potestas absolutas, não “restrito” por sua própria lei ou caráter. Toda a problemática do ex lex (Deus estando acima ou fora das suas próprias leis morais e lógicas) de certo modo desembocou no pensamento de Lutero, que ainda guardava essa herança nominalista e divorciava o reino da natureza e da graça (refletindo na sua Teologia dos Dois Reinos e na “antítese” entre lei e evangelho). Entretanto, outros reformadores, como Calvino e Pierre Virret, retomaram o realismo medieval e compreenderam a lei divina não como capricho de um ente onipotente, mas como a expressão fiel e perfeita de seu próprio caráter.
O problema no Islão, todavia, é que os mutazilitas, especialmente por sua defesa da criação do Corão, foram sendo proscritos gradualmente e por fim excomungados; ao passo que o pensamento asharita recebeu a primazia e sobretudo o aval político (e militar) de vários califas.
Os asharitas, por meio de várias associações e conspirações, lutaram para que os mutazilitas fossem por fim proscritos, logo após terem sido a principal influência intelectual durante o reinado (813-833) do califa abássida Almamune. Assim, já durante o califado de Mutavaquil durante os anos de 847 a 861, a doutrina mutazilita tornou-se crime punível com morte; seus teólogos foram expulsos da corte e afastados de todos os cargos públicos. O auge de sua proscrição e repúdio dá-se no século XI, com o califa também abássida Alcadir, quando o hambalismo, numa situação que se estende até os dias de hoje e é especialmente verdadeira na Arábia Saudita, tornou-se a posição dominante na jurisprudência islâmica.
Ora, os hambalitas, cujo nome advém de seu patrono Ibn Hanbal, é a escola mais tradicionalista – isto é, a mais literalista e mais severa – de fiqh, a jurisprudência teológica islâmica. Como dito anteriormente, eles associaram-se com os asharitas visando a derrocada do pensamento mutazilita que até então havia sido a posição majoritária e dominante ao longo de vários califados abássidas. E aqui cabe uma distinção, uma vez que, em geral, há uma confusão, nas discussões públicas, entre as escolas de jurisprudência, que tratam da aplicação da sharia, e a kalam (a teologia especulativa). Atualmente, no sunismo, há quatro escolas de interpretação legal: os hanafitas, os malequitas, os chafeitas (shafi’i) e os hambanitas. As próprias penalidades variam dentro dessas quatro escolas, e no mundo chafeita, isto é, Oceania e Leste da África, há, em comparação às demais linhas, sanções menos rigorosas para alguns crimes e pecados.
A ascensão do pensamento asharita, no entanto, aliada ao rigorismo do hambalitas, trouxe consigo aquilo que Reilly chama de “a metafísica da vontade”, uma amálgama de voluntarismo, ocasionalismo e nominalismo que não somente elimina a ideia de uma racionalidade intrínseca ao mundo, mas o princípio mesmo de causa e efeito, crucial para todo método científico (no sentido amplo do termo) e para a fomentação da responsabilidade moral. Consequentemente, “a realidade torna-se incompreensível, e o propósito das coisas em si mesmas, indiscernível, uma vez que não possuem uma lógica interna”.
Para al-Ash‘ari, o fundador do asharismo,
não há propósito na mente de Deus que possa determinar sua atividade. Partindo-se dessa visão anti-teleológica, segue-se que, em razão de a vontade de Deus não ser teleológica, ele não está obrigado a fazer o que é melhor para suas criaturas… a vontade absoluta não tem outro propósito senão o exercício indiscriminado de si mesma. Em si e de si mesma, é desprovida de direcionamento e é, portanto, arbitrária.
Nessa teologia em que vige o poder arbitrário e a vontade é elevada à categoria de princípio ordenador, a política igualmente arbitrária e caprichosa não é o rompimento com a hierarquia do cosmo, mas sua simples imitação. Ademais, o asharismo enfatiza a doutrina do tanzih, a transcendência absoluta de Allah e sua incompreensibilidade total. Certamente todos os três monoteísmos são prestos na sua afirmação do distanciamento e da incomparabilidade entre o Criador e suas criaturas.
Entretanto, o judaísmo e o cristianismo têm em comum a doutrina da criação à imagem de Deus, algo não somente inconcebível para o Islão, mas também blasfemo (Surata 42.11). Quase não é necessária a menção de que a doutrina cristã da encarnação, na qual Deus achega-se e assume a natureza do homem, é imperdoavelmente idólatra.
A solução – insuficiente, diga-se de passagem – islâmica é a doutrina da fitrah, a natureza humana primordial. O termo está relacionado etimologicamente com as entranhas do homem, pois, segundo o relato, Allah chamou Adão, quando de sua criação, e “retirou” de suas profundezas todos os descendentes, dos primeiros aos últimos, e obrigou-os a confessar a unidade divina.
Sendo assim, na interpretação prevalente dos teólogos islâmicos, há entre homem e Deus uma distância infinita, o que ocasiona a impossibilidade de acesso do indivíduo a seu Criador. A inexistência de instâncias, instituições ou sacramentos mediadores reflete-se, segundo o entendimento de Reilly, no ordenamento político de muitos países muçulmanos, nos quais o poder centralizado não é amortecido por outras formas de associação.
Entretanto, a pergunta crucial é: como essa deformidade filosófico-teológica deu origem à ideologia islâmica que aflige Oriente e Ocidente, de igual modo? A resposta original de Reilly, que alguns como Dalrymple também já perceberam, é que o “islamismo se fundamenta numa patologia espiritual baseada numa deformação teológica que, por sua vez, produziu uma cultura disfuncional”. De modo mais específico, o islamismo é o resultado da fusão de uma teologia da vontade bruta com as ideologias ocidentais modernas, uma combinação tão impensável que escapa a muitas análises:
Os autores islamitas não podem ser compreendidos corretamente somente com base no Islão, mas somente dentro da perspectiva das ideologias ocidentais do século XX que eles assimilaram, principalmente aquelas baseadas em Nietzsche e Marx.
Nessa linha, foram vários líderes e intelectuais islâmicos responsáveis por essa “união pervertida”, sendo os principais Abul Ala Maududi; Hassan al-Banna, que se espelhava na ditadura de Stálin, já que a considerava um projeto exitoso de unipartidarismo; e, o mais célebre, Sayyd Qutb, que embora desprezasse o marxismo, “era a ligação, no Egito, da Irmandade Muçulmana com o Partido Comunista e com a Internacional Comunista”, e foi uma das principais influências até mesmo a um indivíduo do ramo xiita como o Aiatolá Khomeini, que traduziu grandes porções da obra de Qutb para o parse.

O que levou esses intelectuais muçulmanos a voltarem-se para as ideologias do nacional-socialismo, do fascismo e do comunismo é precisamente “o nexo entre essa escola de pensamento e a ideologia totalitária ocidental”, isto é, “a primazia da vontade”.
Afinal, “se a vontade e poder são os constituintes primários da realidade, chegar-se-á, a partir de uma série de passos dedutivos, a um regime totalitário”. Como diz David Pryce-Jones, o nazismo e a militância pan-arábica tinham em comum “a crença de que a vida é uma luta infindável no qual o vencedor exerce sua vontade sobre o vencido em virtude de sua vitória”. Ademais, algumas células debruçam-se sobre a obra de Lênin, visando a formação de grupos que atuam com táticas de propaganda e violência concentrada.
De certo modo, ambas as crises – ocidental e muçulmana – estão correlacionadas; pois se de nosso lado ainda vivenciamos os resquícios da pretensão iluminista que eleva a razão a árbitro derradeiro da vida individual e da ordem, o Islão ainda se vê envolvido com a eliminação da razão mesmo nas questões mais práticas da vida diária. Afinal, como diria Reilly, se Maududi acusou-nos pela “morte de Deus”, é justo e cabível que o acusemos pela morte do homem.
[1]Uma das razões pelas quais o Corão é assim tomado baseia-se no versículo 7 da 3ª Surata, que designa o Corão de Um-mul-quitab, o livro-matriz, a essência da vontade e da lei de Deus.
[2]Na 3ª Surata, “Aal ‘Imran” (A família de Imran), nos é dito: “E quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo que Deus te anuncia o Seu Verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os diletos de Deus”. Embora alguns cristãos tenham se debruçado sobre esse versículo com fins apologéticos, para os muçulmanos, o termo “Verbo” utilizado nesse versículo não guarda relação direta com uso dado pelo apóstolo João; antes, implica apenas a função profética atribuída por Deus a Jesus.




