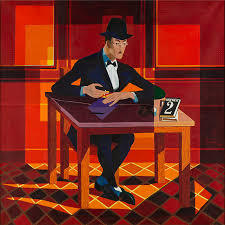Quem se aproxima de Guerra e Paz entra em contato com todo um universo — para muitos leitores tão real, se não mais, do que a própria vida. A primeira pessoa a ler a obra já recebeu essa impressão. Em sua autobiografia, a condessa Sofia Tolstói, que recopiou várias vezes o livro do marido enquanto ia sendo escrito, de 1863 a 1869, comenta que, naquela época, ela desejava “nada mais do que viver na companhia dos personagens de Guerra e Paz“; que “os amava e observava o desenvolvimento de suas vidas como se fossem seres vivos”.
Com seus quase seiscentos personagens, o romance é uma análise da natureza humana e de suas contradições, de suas belezas e suas mesquinharias. É também um comentário sobre a História. O que os historiadores consideram material para seus estudos, as pessoas que atravessam determinada era experimentam, afinal, como a rotina do dia a dia. Leon Tolstói ele mesmo nos diz, no livro, que, para quem não foi contemporâneo da invasão da Rússia por Napoleão, em 1812, “é natural pensar que todos os russos estavam então engajados em se sacrificar, em salvar a pátria ou chorar pela sua queda. Mas não foi assim”. Vemos, em retrospecto, “apenas o aspecto histórico daquele tempo, e não os interesses individuais que as pessoas tinham”. As tropas napoleônicas já invadiram o território russo mas, em São Petersburgo, longe do conflito, a vida continua como sempre.
Em um artigo de 1868 intitulado “Algumas palavras sobre Guerra e Paz”, Tolstói se recusa a qualificar a obra como “romance, poema ou crônica histórica”. Não define de maneira nítida o que seria então o seu livro, limitando-se a considerar que é “o que o autor queria que fosse e foi capaz de expressar na forma como está expresso”. Aponta que a literatura russa “desvia-se” dos gêneros europeus, não podendo suas formas artísticas ser enquadradas nas definições de “romance, epopeia ou conto”.

Uma obra tão rica provoca em cada leitor percepções diferentes. Com o passar do tempo, até os mesmos olhos, ao reabrirem Guerra e Paz, percebem aspectos que não haviam notado ou valorizado anteriormente. Isso se aplica tanto à psicologia e as motivações das personagens quanto à arquitetura do romance e os seus temas.
Há muitos anos, despachando com meu chefe de então sem conseguir emitir uma opinião, enquanto ele expunha sua visão, com a qual eu aliás concordava, sobre os interesses de política externa do Brasil, aproveitei um fim de frase dele para dizer, absolutamente fora de contexto: “todo mundo deveria ler Guerra e Paz ao menos uma vez por ano”. O comentário, arriscado, causou, felizmente, o efeito esperado. Meu chefe, de tão surpreso, olhou-me mudo, depois balbuciou: “mas uma vez por ano, meu filho? O livro é enorme!”, e a brecha me permitiu estabelecer com ele o diálogo que eu ambicionava sobre os objetivos da política exterior brasileira.
Não foi porém à toa que pensei em Guerra e Paz ao ouvir meu chefe discorrer sobre política externa. Um aspecto notável do livro, para mim, é a atenção dedicada por Tolstói à dinâmica das relações internacionais. A política internacional é, na verdade, a primeiríssima ideia que surge em Guerra e Paz. A ação do romance, que começa em uma recepção elegante, é lançada pela célebre frase inicial, dita em francês dentro do texto russo: “Então, príncipe, Gênova e Luca tornaram-se agora apenas apanágios, domínios da família Buonaparte”.
Assim a dona da casa, Ana Pavlovna Scherer, dama de companhia da imperatriz-viúva da Rússia, mãe do czar Alexandre I, recebe em seu salão, em São Petersburgo, em julho de 1805, um de seus convidados, o príncipe Vassili Kuraguin. Que dois aristocratas russos frequentadores da corte imperial conversassem entre si em francês era esperado e natural.
Sete meses antes, Napoleão fora coroado imperador dos franceses. Era o seu período áureo, que duraria mais seis anos, em que atuaria como mestre incontestável da parte ocidental da Europa continental. Em março de 1805, o imperador transformara uma de suas irmãs, Elisa Baciocchi, em princesa de Piombino, antigo principado na Toscana recentemente anexado pela França, e em junho dera-lhe de presente a república de Luca; também em junho, portanto um mês antes da recepção de Ana Scherer, Gênova fora incorporada ao império francês.
Dependendo da tradução, a anfitriã usa o nome Bonaparte ou o depreciativo Buonaparte, grafia italiana do sobrenome de Napoleão, abandonada por ele em favor da versão francesa mas com frequência utilizada por seus detratores. Na edição em russo que consultei, Ana Scherer emprega a versão Buonaparte.
O príncipe Vassili comenta que não poderá ficar muito tempo, porque prometeu ir à recepção do embaixador da Inglaterra. A conversa entre os dois prossegue. Ana Scherer possui uma mente política, alinhada ao pensamento mais radicalmente leal aos Romanov. Em um monólogo marcado pela “impetuosidade”, como o define Tolstói, ela expõe a Vassili Kuraguin sua percepção das relações internacionais na Europa. A Áustria, ao não querer realmente a guerra contra a França, trai a Rússia. Quanto à Prússia, está pronta para se aliar à França, e sua propagada neutralidade é uma mentira, já que aquela potência está sempre a declarar “que Buonaparte é invencível e que a Europa não tem poder frente a ele”. A Inglaterra, “com seu espírito voltado ao comércio”, não pode entender “a alma elevada do imperador Alexandre”. Os ingleses não compreendem “a abnegação” do imperador russo, que “não ambiciona nada para si mesmo, mas apenas o bem da humanidade”. A Rússia, assim, “terá de salvar a Europa sozinha”. Alexandre I “esmagará a hidra revolucionária, personificada de maneira mais terrível do que nunca” na pessoa de Napoleão, “esse assassino, esse bandido!”. “Teremos”, conclui a dama de companhia da imperatriz-viúva, “de vingar sozinhos o sangue do justo”.

O “sangue do justo” é uma referência à morte do duque de Enghien, príncipe francês exilado por causa da Revolução, que Napoleão mandara raptar em Ettenheim, na Alemanha, perto da fronteira com a França, e fuzilar no castelo de Vincennes, em março de 1804, após um simulacro de julgamento militar. A morte aos 31 anos de Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duque de Enghien, primo distante de Luís XVI, marcou a imaginação de seus contemporâneos. Serviu de instrumento a Napoleão, então primeiro cônsul, para tornar-se imperador. Com o fuzilamento de Enghien, último rebento dos Condé, ramo ilustre do sangue real francês, ele conquista a lealdade dos antigos membros da Convenção Nacional, inclusive os que haviam votado, em 1793, pelo guilhotinamento de Luís XVI e que por essa razão temiam o retorno dos Bourbons ao trono.
Em 1803 fora rompida a chamada Paz de Amiens entre a França e a Grã-Bretanha, assinada apenas um ano antes. Desde então, haviam sido desmascarados complôs realistas, provavelmente financiados pelo governo britânico, contra a vida de Bonaparte. Enghien fora falsamente acusado de participar dessas conspirações. Talleyrand, então ministro das Relações Exteriores, foi um dos que encorajaram Napoleão a ordenar o sequestro e fuzilamento do príncipe. Seguro no cargo, o ministro tinha tudo a ganhar, naquela época, com a permanência no poder do Napoleão primeiro cônsul. Poucos anos depois, brigado com o Napoleão imperador, trabalharia contra ele; em 1814, julgaria mais conveniente favorecer a volta dos Bourbons.
Chateaubriand, em Memórias de além-túmulo, questiona se a morte do príncipe teria sido realmente necessária para a adoção por Bonaparte do título de imperador: “Essa suposta condição é uma dessas sutilezas dos políticos, que pretendem encontrar razões ocultas para tudo”. Mas admite que, morto Enghien, “alguns não ficaram tristes de ver o primeiro cônsul separar-se para sempre dos Bourbons”.
A execução do herdeiro dos Condé levou Chateaubriand a renunciar a um cargo diplomático no exterior, sem muita importância, para o qual Napoleão acabara de designá-lo. Com a restauração dos Bourbons, ele se tornaria ministro das Relações Exteriores, de 1822 a 1824. Muitas páginas são dedicadas, na obra-prima que são suas memórias, ao fuzilamento do príncipe. O capítulo dedicado a Napoleão em sua análise dos motivos e das ações de cada ator do drama é intitulado “Bonaparte: seus sofismas e seus remorsos”.
Não deixa de ser curioso que em seu testamento, redigido em Santa Helena em 1821, poucas semanas antes de morrer, Napoleão declare já nas primeiras linhas: “Fiz prender e julgar o duque de Enghien porque isso era necessário à segurança, ao interesse e à honra do povo francês”, mas não atribua responsabilidade a seus colaboradores de 1804. Nem mesmo a Talleyrand, que no entanto é descrito no testamento como traidor. No Memorial de Santa Helena, Emmanuel de Las Cases menciona que o imperador, exilado no ilhote atlântico, “frequentemente abordava o tema” da morte de Enghien, sobre o qual “o homem privado se debatia contra o homem público”. De maneira muito tipicamente egocêntrica, Napoleão diz em certa ocasião a Las Cases: “Eu soube depois, meu caro, que Enghien me era favorável; asseguraram-me que ele não falava de mim sem admiração. Veja como funciona a justiça distributiva aqui embaixo”.
Foi sobretudo na Rússia que a morte de Louis-Antoine-Henri de Bourbon chocou. Com razão, o czar considerou que se violara o direito internacional. A corte russa entrou em luto oficial. Anos antes, em 1797, o duque de Enghien, então com 24 anos, passara alguns meses de seu exílio em São Petersburgo, na companhia do avô, o princípe de Condé. Parece ter aí desenvolvido boas relações com o herdeiro do trono, Alexandre, o futuro czar, então com 19 anos.
O avô da mulher de Alexandre I, o eleitor de Baden, governante do estado cujo território fora desrespeitado, aceitara no entanto pacificamente a extradição forçada do duque. Seu governo recebera de Talleyrand, quando o rapto era já fato consumado, uma carta de explicação que mais parecia uma ameaça. Não seria possível que Enghien estivesse em Ettenheim “sem a permissão de sua alteza eleitoral”, dizia a missiva, o que teria causado ao primeiro cônsul “a dor mais profunda”, ao ver que um soberano “que ele sempre tratara com amizade” abrigara “os seus inimigos mais cruéis, e permitira que eles tramassem com tranquilidade conspirações tão espantosas”. Servilmente, o eleitor de Baden decreta, então, a expulsão de sua jurisidição dos franceses emigrados da Revolução. A mística de Napoleão como general invencível e governante autoritário era, em 1804, de tal ordem, que a maioria dos monarcas europeus se calou diante do sequestro e fuzilamento do jovem Bourbon. Pode-se supor que Enghien morreu para que Napoleão demonstrasse ao público que podia matá-lo impunemente.
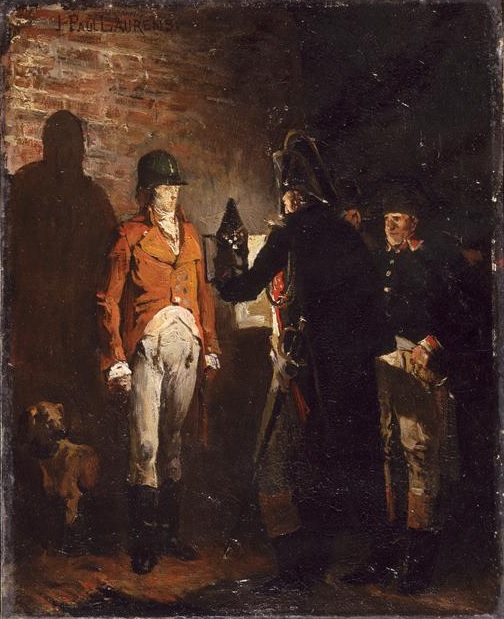
De volta à recepção de Ana Scherer, o duque de Enghien passa a ser tema mais direto de conversa. Está presente nos salões da anfitriã um francês exilado, o “visconde de Mortemart” — haveria muito a dizer sobre a escolha desse nome por Tolstói — que narra uma anedota falsa mas picaresca sobre o duque e Napoleão. Ana Scherer manifesta horror diante do fato de Bonaparte, dois meses antes, em Milão, ter sido coroado rei da Itália, ato que ela considera a prova de que “o mundo todo enlouqueceu” e de que essa será “a gota d´água que fará o copo entornar”, pois “os soberanos não suportarão esse homem, ameaça para tudo”. Mortemart responde que, ao contrário, os reis europeus “traíram a causa dos Bourbons” e “estão enviando embaixadores para parabenizar o usurpador”.
Como diria Machado de Assis, criador de um diplomata, o conselheiro Aires: “Ao vencedor, as batatas”. Mortemart é lúcido, entende o conceito de realpolitik. Outro convidado de Ana Scherer, o abade Morio, um italiano, baseado em uma figura histórica, é apresentado como tendo “um projeto de paz perpétua”. Nas poucas palavras que Tolstói permite a ele dizer na recepção, Morio argumenta que a paz dependeria de “um equilíbrio de poder na Europa”, mas é interrompido pela anfitriã antes de poder explicar suas ideias.

Os diálogos ouvidos nessa recepção do verão de 1805, que é como o brilhante portal de abertura do romance de Tolstói, introduzem diferentes temas centrais para o estudo das relações internacionais, e ainda relevantes para a compreensão da realidade contemporânea:
- o problema da sede por expansão territorial, com o império francês anexando Gênova;
- a questão da sucessão estatal, com a república de Luca e o ex-principado de Piombino, que fora recentemente incorporado pela França, unidos de maneira a formar um principado novo para a irmã de Napoleão;
- as incertezas das alianças entre Estados: a Rússia pode ou não confiar na Áustria, na Prússia e na Inglaterra, se quiser enfrentar a França? Ao longo do livro, veremos Napoleão e Alexandre às vezes aliados, às vezes inimigos, o que culminará na invasão da Rússia pela França;
- a violação do direito internacional e do espaço territorial de um Estado amigo, com o sequestro do duque de Enghien;
- a desigualdade de fato entre os Estados, com o eleitor de Baden, que sequer é mencionado nas conversas no salão de Ana Scherer, tendo de se calar, diante da violação de seu território pela França. Bem mais adiante no livro, quando se inicia a invasão da Rússia, Napoleão reage às propostas de Alexandre pela manutenção da paz entre França e Rússia exclamando: “exigências desse tipo poderiam ser dirigidas a alguém como o príncipe de Baden, mas não a mim!”;
- o predomínio da realpolitik, com os países europeus, à exceção da Rússia e da Inglaterra, curvando-se diante do poder do “usurpador”;
- a influência cultural de um país sobre os demais, o que hoje chamaríamos de “poder brando”. Vemos a elite russa conversando na língua do inimigo francês. Centenas de páginas depois, já iniciada a invasão da Rússia por Napoleão, os frequentadores das recepções de Ana Scherer passarão a criticar os russos que ainda assistem a peças no Teatro Francês em São Petersburgo, o que significa que ele continua com um público cativo;
- a noção de excepcionalidade moral, por meio da qual um determinado país julga ocupar um lugar especial, e ser sua responsabilidade, seu dever, orientar o mundo, em razão de seu espírito bem-intencionado. Cabe à Rússia, nos diz Ana Scherer, salvar, sozinha, a Europa do “bandido”, do “assassino” que é Napoleão, porque Alexandre deseja apenas “o bem da humanidade” e é dono de “uma alma elevada”.
Ao longo de Guerra e Paz, lemos sobre vários momentos de exercício fracassado da diplomacia, quando a paz poderia ter sido preservada; e sobre batalhas após as quais o perdedor é obrigado a negociar um acordo de paz. É típica do gênio de Tolstói, por exemplo, a forma como trata o encontro de Tilsit entre Napoleão e Alexandre, em junho de 1807.
Sabemos que os dois imperadores se reuniram em um pavilhão sobre uma balsa no meio do rio Niemen. Juraram-se amizade, a qual duraria uns poucos anos. Conviveram muitos dias em Tilsit, onde assinaram um tratado de paz, pondo fim à Quarta Coalisão contra a França, que Napoleão derrotara. Tolstói está porém menos interessado na interação entre os monarcas do que na maneira como a cena é observada por um de seus personagens, o jovem e ambicioso oficial do exército Boris Drubetskoi, que ostenta o título de príncipe, mas não tem fortuna. Ao pedir para ser testemunha do encontro, Drubetskoi diz desejar “ver o grande homem”, referindo-se a Napoleão. Tolstói ironiza ao lembrar que, até então, o jovem aristocrata sempre se referira ao imperador como “Buonaparte”. Mas o imperador dos franceses, agora, será por um tempo amigo da Rússia.
Boris observa os dois homens na balsa, com o francês estendo a mão ao russo e ambos entrando no pavilhão. Não somos informados sobre como transcorreu o encontro, o que disseram um ao outro. O que interessa ao autor é descrever a reação do jovem oficial, que fica particularmente satisfeito porque, tendo estado presente em um momento de extrema importância histórica, “sente que sua carreira doravante estará segura”, pois Alexandre agora “reconhece o seu rosto”. É a síntese do caráter do personagem em poucas linhas.
No ano seguinte, Alexandre e Napoleão viriam a se encontrar novamente, em Erfurt, na Turíngia. Mais uma vez, não são as tratativas entre eles que Tolstói descreve, mas como as festividades ocasionadas pela presença dos monarcas afetam alguns personagens, particularmente a condessa Hélène Bezukhova e, novamente, Boris Drubetskoi, cuja ascensão social e militar continua firme. O encontro de Erfurt sequer é descrito em tempo real, mas apenas em retrospecto. A beleza de Hélène causa forte impacto na ocasião. Napoleão repara nela no teatro e é ouvido dizendo a seu respeito: “É um soberbo animal”. Novamente, com apenas esse comentário, Tolstói com poucos traços desenha o perfil psicológico do imperador.

Tive a curiosidade de contar quantas vezes os termos “diplomata”, “embaixador”, “embaixada”, “diplomacia” e “diplomático” aparecem na obra. O número varia de acordo com a tradução. Na primeira versão para o francês, de 1879, a palavra “diplomata” é usada 24 vezes, “embaixador” 23, “embaixada” 8, “diplomacia” 6 e “diplomático” 14. Na tradução para o inglês de Louise e Aylmer Maude, publicada entre 1922 e 1923, os mesmos termos são utilizados com a seguinte frequência: “diplomata”, 15 vezes; “embaixador”, 18; “embaixada” 7; “diplomacia” 3; e “diplomático” 26.
Na adolescência, Tolstói chegou a estudar para ingressar no serviço exterior. Muitos de seus parentes, tanto do lado do pai como do lado da mãe, serviram à Rússia no exército ou na diplomacia, e às vezes nas duas capacidades. Seu avô materno, o príncipe Nikolai Volkonski, foi general e embaixador em Berlim. Um antepassado, o conde Pyotr Tolstói, fora, de 1701 a 1714, embaixador em Constantinopla. Um primo militar, outro Pyotr Tolstói, serviu como embaixador em Paris de 1807 a 1808, portanto durante uma parte do período coberto por Guerra e Paz.
A dualidade exército-diplomacia é central no romance. De dois personagens, o conde Pierre Bezukhov e o conde Nikolai Rostov, ouvimos que hesitam entre ser diplomatas ou militares. No primeiro diálogo de Pierre com seu amigo o príncipe Andrei Bolkonski, este lhe pergunta se pretende seguir a carreira militar ou a diplomática. A resposta é que “nenhuma das duas perspectivas” parece atraente. Quando Vassili Kuraguin forma o projeto de casar sua filha Héléne com Pierre, que acaba de herdar “uma das maiores fortunas da Rússia”, sua primeira providência é obter para o futuro genro, como um presente, o ingresso no serviço diplomático. Quanto a Nikolai Rostov, explica ao pai que pode apenas ser militar, pois “para ser diplomata ou funcionário civil é preciso esconder seus sentimentos, e isso eu não consigo”. Alguns capítulos mais adiante, dirá a um colega: “não sou diplomático, por isso entrei para os hussardos”.
Nikolai Rostov não percebe que militares podem ser diplomáticos. Seu parente e amigo, Boris Drubetskoi, oficial e príncipe pouco afortunado, crescido entre os esplendores dos Rostov, preocupa-se tanto em ser amável e habilidoso com todos, que é conhecido pelos primos como “um verdadeiro diplomata”. Tolstói concentrou nesse personagem seu julgamento crítico sobre o caráter de funcionários públicos. No processo, faz de Drubetskoi quase uma caricatura da personalidade carreirista. A caracterização de Boris é, no entanto, gradual. Ao começar o livro, ele vive uma espécie de namoro inocente e infantil com a encantadora Natasha Rostov, e só isso já faz com que gostemos dele. Somos primeiro levados a simpatizar com esse jovem que tateia o mundo à sua volta, procurando encontrar um caminho para o sucesso profissional, usando como trunfo traços como a boa educação, a cordialidade e o respeito a seus superiores. Pouco a pouco, vamos sendo confrontados com o que tudo isso esconde, o egoísmo, a ingratidão e a ambição inescrupulosa.
Ou talvez, o que presenciamos é a evolução da personalidade de Boris, que avança no sentido da afirmação desses traços. Inclusive porque ele está apenas saindo da adolescência no início do romance. Um dos temas sutis do livro é como a máquina estatal mói — ou molda, dependendo do ponto de vista — os indivíduos a ela submetidos, os funcionários públicos, civis ou militares.
Ainda no começo do romance, o militar e “verdadeiro diplomata” que é Boris, conversando com Pierre, parente a quem não via há muitos anos, afirma: “uma das minhas regras é sempre falar abertamente”. Pierre fica comovido; quando seu interlocutor se despede, pensa nele com afeto, julgando-o “agradável, inteligente e decidido”. Centenas de páginas depois, veremos Boris amante de Hélène, já casada com Pierre, e participando de recepções no salão da condessa, local favorável à aliança com a França, frequentado por diplomatas, inclusive o embaixador da França. Entrementes, teremos sabido que, muito longe de “falar abertamente”, ao narrar uma história em público e ser o centro das atenções Drubetskoi “evitava cuidadosamente expressar qualquer opinião pessoal”. A frase que dissera a Pierre sobre sua franqueza era uma falsidade, ou seu temperamento carreirista vencera as últimas resistências?
Em uma das minhas primeiras releituras de Guerra e Paz, uma observação de Tolstói, embora refletindo uma verdade banal de tão óbvia, ganhou dimensão especial. O príncipe Boris, explica seu criador, intui que, na carreira militar, há duas regras de subordinação. Há a subordinação hierárquica formal, entre as categorias funcionais superiores e inferiores. E há outra, “mais importante”, uma “lei não escrita”, determinada pelo acesso ao poder proporcionado pela função que você exerce, pelo lugar onde você trabalha, e que obriga, por exemplo, “um general a esperar respeitosamente por um capitão”. Boris decide ocupar sempre funções que estabeleçam a seu favor a subordinação não formal.
Por coincidência, conversando logo depois com colegas diplomatas, todos então jovens como eu, um deles, que anos depois se tornaria chanceler, comentou: “Há alguns secretários que mandam mais do que muito embaixador”. Eu estava recebendo ao vivo a lição aprendida por um personagem literário. A experiência de Boris no exército russo, no início do século 19, estava sendo replicada por diplomatas brasileiros duzentos anos mais tarde.
A noção de que “o sucesso no serviço não requer esforço, trabalho, coragem ou perseverança, mas apenas o conhecimento de como se dar bem com os que podem conceder recompensas” muda a vida de Boris Drubetskoi. Ele é quase inocente ao se surpreender “com a rapidez do seu próprio sucesso e com a incapacidade de outros de perceber como as coisas funcionam”. Se é tão fácil ser exitoso em uma carreira pública, pensa Boris, por que todos não implementam a mesma receita usada por ele?
Comparados com Drubetskoi, os dois personagens de Guerra e Paz que de fato exercem a carreira diplomática são menos desenvolvidos no romance. O primeiro a aparecer, Hippolyte Kuraguin, filho do príncipe Vassili e irmão de Hélène Bezukhova, é de inteligência medíocre, na avaliação do próprio pai. Não há dúvida sobre o que Tolstói pensa de sua criatura. Em 1866, em uma carta dirigida a um ilustrador do romance, Mikhail Bashilov, ele escreve: “você poderia, no desenho representando Hippolyte, deixá-lo com uma cara ainda mais de idiota?”.
A personagem possui porém tanta autoconfiança que seus interlocutores ficam na dúvida se ele é extraordinariamente limitado ou, ao contrário, espirituoso. Considera-se também um Don Juan. Hippolyte Kuraguin só nos é mostrado três vezes. Ele está entre os convidados na recepção de Ana Scherer que inicia o livro e em outra da mesma anfitriã, muitos capítulos e um ano mais tarde. Nessa segunda festa, somos informados de que ele “aprendera, ao longo de sua carreira diplomática”, que dizer em tom alto e com firmeza palavras que nem ele mesmo entende dão a elas a aparência de profundidade e inteligência.
Entre as duas soirées, lemos que Hippolyte está em Brünn com a corte austríaca, fugitiva de Viena por causa da aproximação do exército francês. Ele é agora secretário na Embaixada russa em Viena. Esse detalhe, mencionado sem comentários pelo autor, não deixa de ter sua importância. Cento e cinquenta páginas antes, enquanto o ouvíamos dizer asneiras, achando-se inteligente, seu pai o príncipe Vassili Kuraguin buscava obter junto a Anna Scherer a nomeação de Hippolyte como secretário de Embaixada na capital austríaca. Mas soubera que outro candidato, um certo barão Funke, estava em liça e tentava interessar a imperatriz-viúva, Maria Feodorovna, em seu pleito. Para prejudicar a concorrência, Vassili declara que Funke é “nulo”. Isso choca Ana Scherer, para quem qualquer aparência de crítica a uma possível preferência de sua protetora, a imperatriz-viúva, é um crime. Informa a dama de companhia que Maria Feodorovna “demonstra muita estima pelo barão Funke”, que fora recomendado a ela “por sua irmã”.
Como conseguira Vassili emplacar o filho em Viena, no lugar do barão, apesar da recomendação da “irmã” da imperatriz-viúva? A mãe do czar Alexandre nascera princesa de Württemberg. Em 1805, quando acontece a primeira recepção, suas irmãs já haviam morrido. Afinal, Guerra e Paz, misturando personagens históricos e fictícios, é literatura. Pode-se imaginar uma irmã viva para a imperatriz-viúva.
Nada impede que uma vaga adicional tenha sido aberta em Viena, para acomodar tanto o protegido da irmã da imperatriz Maria Feodorovna quanto o filho do príncipe Vassili. O importante aqui, o que Tolstói quer mostrar, é a noção de apaniguamento. Cargos diplomáticos são distribuídos não por mérito, mas para agradar aos protetores dos que os solicitam. Hippolyte é “idiota”, mas seu pai é influente na corte. O barão Funke é “nulo”, mas parentes do czar o protegem. Presume-se que ambos farão excelente carreira.
A ambição de Vassili Kuraguin de ver o filho designado para Viena tampouco é irrelevante no contexto da época. Na Europa, os postos mais importantes ao longo de todo o século 19 e ao menos até a Primeira Guerra Mundial eram Paris, Londres, Viena, São Petersburgo e Berlim. Em resumo, as capitais das principais potências europeias, cujas oscilantes e variáveis inimizades e amizades entre 1805 e 1812 são um fator para o desenvolvimento do enredo em Guerra e Paz e levarão à guerra de 1914-1918, já fora do contexto do romance. Entre os países, como nas relações humanas, denomina-se amizade o que é, na maioria das vezes, apenas uma confluência de interesses, que pode perdurar ou não.
É em Brünn que somos apresentados ao segundo diplomata de Guerra e Paz, Bilibin. Esse é um ser mais complexo do que Hippolyte. Servindo também na Embaixada em Viena, ele não se parece a seus colegas, “cuja única capacidade é não se comprometer e falar francês”. Trabalha muito. O retrato do personagem, que parece positivo, vai se tornando ambiguo à medida que vemos que Bilibin preocupa-se com a forma, mas não com a substância da atividade diplomática: “o que o preocupava não era o ‘para quê’, mas o ‘como’”. Bilibin “compunha de maneira engenhosa, elegante e hábil, qualquer tipo de memorando, relatório ou circular. Tinha o talento de se comportar bem e de falar sempre de maneira adequada nas altas esferas”.
Bilibin é o que Henry James denominaria “ficelle”, uma personagem sem muita vida própria que existe para explicar a evolução do enredo ou a trama em torno a personagens mais importantes. Pouco sabemos sobre sua vida, a não ser que tem 35 anos, iniciou sua carreira diplomática aos 16 e é solteiro. Em Guerra e Paz, ele surge para interagir com Andrei Bolkonski — com quem analisa a evolução das alianças e das desavenças entre a Rússia, a Prússia, a Áustria, a França — ou com Hélène, a quem aconselha em um momento de hesitação amorosa ou matrimonial. Casada com Pierre, a quem não ama e a quem trai de maneira contumaz, a condessa planeja se divorciar — algo então quase impossível — para se casar com um ou outro de dois admiradores, um príncipe estrangeiro de sangue real e um magnata russo bem mais velho. Conversa a respeito com Bilibin. Este reage mordazmente à vaidade insensata e incongruente de sua interlocutora, convencida de que Pierre a ama muito e que, justamente por isso, acederá facilmente ao seu pedido de divórcio.

Outros diplomatas vão atravessando as páginas de Guerra e Paz, alguns históricos, outros inventados pelo autor, alguns mencionados de forma anônima, outros pelo nome, como o marquês — e general — de Caulaincourt, que existiu, foi embaixador da França em São Petersburgo de 1807 a 1811 e desempenhou, aliás, um papel no sequestro do duque de Enghien. Vemos um general enviado por Alexandre I a Napoleão em uma missão especial, para tentar impedir a guerra, quando um diplomata hábil teria sido mais apropriado. E lemos sobre um diplomata profissional, embaixador da Rússia em Paris de 1808 a 1812, cujo ato precipitado e belicoso de anunciar ao governo francês — segundo Alexandre I, sem instruções suas — que está deixando o posto permite a Napoleão considerar-se em guerra com a Rússia.
O menos perceptivo, porém, parece ser um dos diplomatas anônimos, que encontramos em uma festa de Vassili Kuraguin. É nessa recepção que Kuraguin força a mão a Pierre Bezukhov, fazendo de conta que o jovem propôs casamento a Hélène, e proclamando isso aos convidados, o que o principal interessado aceita passivamente. Tínhamos acompanhado, nas páginas anteriores, a grande hesitação de Pierre em relação a Hélène, por quem sente forte atração sexual, mas que por vezes julga ser de inteligência limitada e de uma moralidade questionável, tendo ouvido rumores até de incesto com um dos irmãos, Anatole. Ele está certo em hesitar, pois sua vida conjugal se revelará infernal.
O diplomata anônimo, constatando o que lhe parece ser “o enlevo dos dois namorados” pensa que, comparado ao que julga ser a atmosfera de amor entre os noivos, o que ele mesmo está dizendo na festa soa como pura bobagem, como algo irrelevante, insípido. Sendo a capacidade de observação, presume-se, uma qualidade importante em um diplomata, o comensal anônimo do príncipe Vassili falha terrivelmente nesse quesito.
Ao partir da recepção, sai triste dos salões dos Kuraguin. Considera que sua carreira diplomática mostra-se fútil e vã frente a tamanha felicidade.
Diplomata de carreira, o embaixador Ary Quintella publicou, em novembro de 2024, o livro Geografia do tempo.