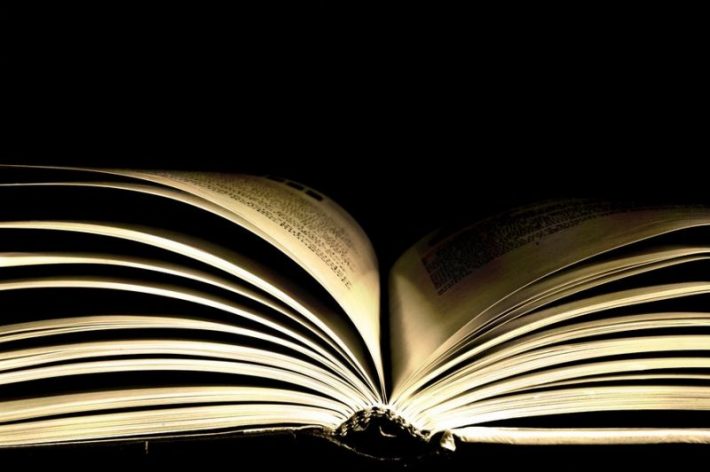por Fabrício Tavares de Moraes
Por vezes o jornalismo, com o estranho fim de se antecipar à história, designa algumas tristes sequências de eventos com tons grandiloquentes. Desse modo, esses poucos mais de seis meses de governo Trump já são designados de “Era Trump” – termo, ao que parece, deliberadamente escolhido como alusão àqueles períodos na cultura humana, em que um modelo civilizacional imperativo se entranhou de tal modo no ideário social, que seu desmoronamento não raro é associado a um encerramento apocalíptico.
Pensemos na região da Palestina, em 70 d.C., quando a destruição do Templo de Salomão difundiu o terror escatológico em meio à comunidade judaica. Ou nas invasões otomanas à Constantinopla, que desde então, como a mudança toponímica reflete, tornou-se uma cidade mais oriental do que ocidental, encerrando, segundo os manuais didáticos, a Idade Média.
Esse mesmo sentimento manifesta-se agora nas expectativas que surgem em meio às alusões aos “valores tradicionais” que elegeram Trump e as possíveis distopias disto decorrentes. Isto é, as “eternas ondas conservadoras” (cito) – os atuais moinhos de vento da esquerda quixotesca – que se insurgem contra os direitos conquistados.
Por exemplo, a celebrada série The Handmaid’s Tale (2017), baseada no romance homônimo da escritora canadense Margaret Atwood, conforme a pesquisa mais superficial entre os artigos e críticas revela, é interpretada como um prenúncio aterrador de um totalitarismo fundamentado nos princípios morais que conduziram Trump à presidência e que são por ele representados.
Os habituais críticos culturalistas reduziram a série ao conflito derradeiro entre a moral religiosa sexista e o liberalismo feminista. E quando a atriz Elisabeth Moss, que faz o papel da protagonista Offred, disse que The Handmaid’s Tale tratava também de temas universais e mais profundos, logo se viu sob a mira de severas reprimendas.
Do mesmo modo, o romance Submissão, do francês Michel Houellebecq, acerca do qual muito já se tratou, é também reduzido, por parte de alguns segmentos da direita, a uma simples crítica da crescente islamização da Europa, especialmente da França. A obra, contudo, mais do que um sinal de histeria, ou uma transposição romanesca das ideias de um Renaud Camus, é uma revisão dos caminhos tortuosos pelos quais o Iluminismo conduziu o Ocidente.
Se os ideais revolucionários predicavam que o homem seria tão mais livre e bem-aventurado quanto mais se livrasse das amarras da religião, da tradição e das demais autoridades, o romance Submissão, todavia, demonstra que essa almejada liberdade conduz ao desastre, ou à submissão a uma força maior, seja a de uma religião da vontade ou à potência bruta da própria história.
Evidentemente há motivos concretos para as expectativas delineadas no romance de Houellebecq; contudo, repetindo o que dissemos acima, a obra, como todo artefato literário digno do nome, também reflete outras preocupações. Mark Lilla diz que o Houellebecq criou, com seu livro, um novo gênero: “a narrativa distópica de conversão”. A bem da verdade, a conversão do protagonista é mais uma capitulação do que uma metanoia, uma mudança de mente.
No entanto, o que ambos esses exemplos nos ensinam sobre a relação entre a literatura e as distopias e totalitarismos? A mínima listagem de obras sobre o tema ocuparia um espaço do qual não dispomos, mas o que depreender desses romances citados e de outros como The Mandibles: A family, 2029-2047, de Lionel Shriver, em que vemos uma América absolutamente barbarizada, murada por cercas elétricas construídas pelo México para impedir a entrada de imigrantes ilegais americanos; ou 2084: The End of the World, de Boualem Sansal, um mundo também totalitário onde o pensamento é punido e regido pelo culto a uma única divindade?
Num nível superficial, podemos aludir à velha máxima de Pound, segundo a qual os artistas são as antenas da raça, e que suas obras são, por conseguinte, súmulas de impressões e presságios das transformações de nossa ordem social. O próprio Aldous Huxley, anos após a publicação de seu Admirável Mundo Novo, escreveu o Admirável Mundo Novo Revisitado para analisar como alguns dos pontos colocados no primeiro livro já haviam se manifestado àquela data.
Porém, mais do que isso, a literatura, de certo modo, é uma espécie de profilaxia contra as tentações totalitárias na medida em que sua linguagem é refratária ao fundamentalismo das ideologias. É celebre a opinião de Eric Voegelin segundo a qual o surgimento do nazismo somente foi possível pelo longo processo de erosão da linguagem levado a cabo anos antes por meio da classe intelectual alemã.
Citando Pound novamente, se a grande literatura é linguagem carregada de significado até o máximo grau possível, segue-se necessariamente que ela é avessa aos reducionismos peculiares às ideologias, assim como à depredação que os movimentos ideológicos exercem sobre o imaginário social. Em termos resumidos, a ambiguidade característica da linguagem literária opõe-se frontalmente ao duplipensar dos totalitários. De igual modo, a unidade narrativa pressupõe o mínimo desenvolvimento do senso de continuidade temporal – elemento que toda tirania se esforça por abolir.
Além disso, a literatura, contrariamente à mentalidade totalitária, se fundamenta na percepção do caráter irredutível da natureza humana e, desnecessário dizer, da própria realidade. Dedica-se à apreensão de uma sensibilidade ou impressão que, de outro modo, logo se desvaneceria.
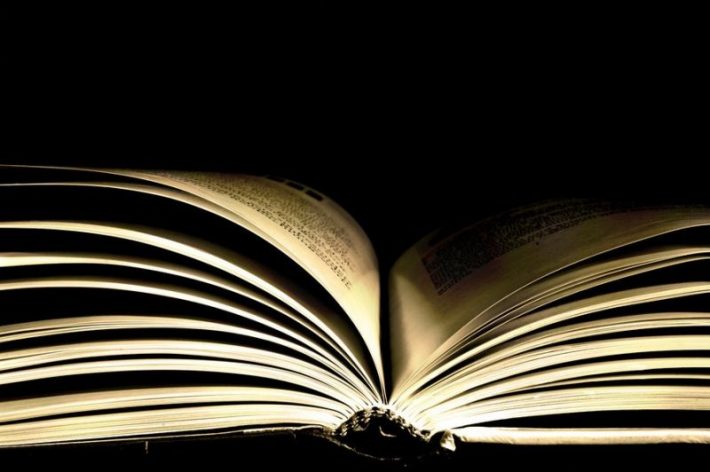
Se, grosso modo, o totalitarismo se pauta pela absorção de todas as esferas da vida no corpo do Estado, de modo que cada uma delas se transforme num seu satélite, a literatura, por sua vez, faz de um cubículo um mundo, e de voltas num quarto uma odisseia (como em Xavier de Maistre). Cada nicho ou recanto expande-se num universo – to see a World in a Grain of Sand. A densidade da estrutura simbólica e o apego à variedade do real se contrapõem às tentativas de redução das coisas a um único aspecto.
Curiosamente, quando a literatura tenta se lançar em empreendimentos universalizantes, ela conscientemente falha. Franco Moretti cunhou o termo opera-mundi (obras-mundo) para designar as obras “problemáticas” e inclassificáveis da literatura universal (Fausto, Moby Dick, Guerra e Paz, Ulysses e outros): “todas são enciclopédicas, polifônicas, alegóricas, didascálicas, e já não se contentam em representar… a pátria, a nação – mas sim o mundo”.
Porém, todas elas, de antemão, estão fadadas ao fracasso, pois, não obstante surjam de um ímpeto demiúrgico, não são ingênuas ao ponto de crerem na capacidade totalizante da literatura. Portanto, “a imperfeição das obras-mundo é o sinal perfeito de que elas vivem na história”.
É claro, um intelectual não está livre daquilo que Lilla chamou de tiranofilia, o eros que conduz à servidão voluntária aos poderes autocráticos, e há exemplos de literatos que com suas obras pavimentaram ou fomentaram os projetos totalitários – Brecht, Górki e (outra vez) Pound são os mais citados. São caminhos imprevisíveis; afinal, como diz Witold Gombrowicz, “a literatura séria não existe para tornar a vida fácil, mas para complicá-la”.