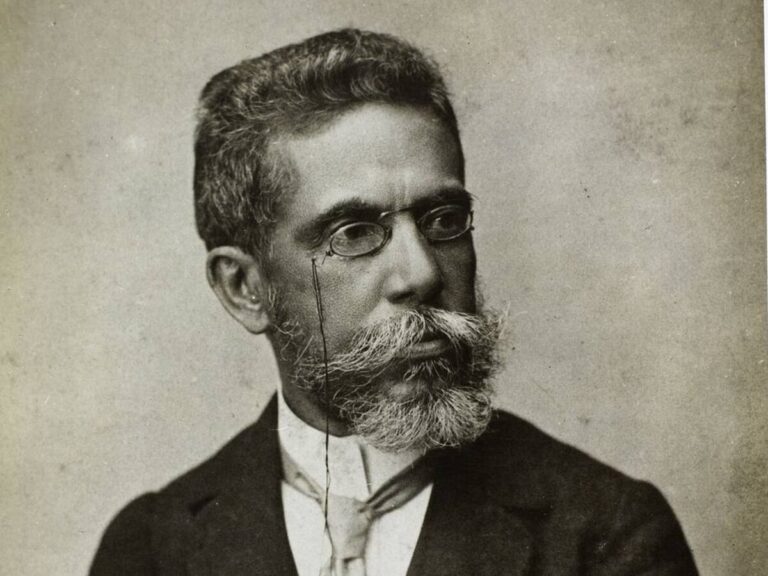por Pedro Gonzaga
Desculpem-me se me deixo levar pelos acontecimentos. Este espaço deveria ser sempre um refúgio para os leitores de poesia, um lugar de apresentação de tantos poetas ainda pouco conhecidos no Brasil, mas sinto que são necessárias duas ou três notas sobre o Nobel de Literatura conferido a Bob Dylan, um dos mestres da canção do século XX. Prometo ser breve, para avançarmos aos dois poemas que separei para hoje.

Nota 1: No disco Magic and Loss, de 1992, Lou Reed, na canção “Dreamin’ (Escape)”, presta uma tocante homenagem a uma pessoa que lhe era íntima e que fora consumida por uma terrível doença, uma elegia que me parecia tão perfeita que um dia resolvi traduzi-la. Acessório dizer que sempre se perde algo na tradução, em especial na tradução lírica. Faltava, no entanto, muito mais do que o normal. Foi quando me dei conta de que, por mais minimalista que fosse o arranjo musical, sem ele, e sem a voz condolente do cantor, tinha-se ali uma obra partida.
Nota 2: Entre as tantas músicas de Dylan que me acompanham ao longo dos anos – como há muitos de vocês que leem a coluna, tenho certeza -, há uma que dispara em mim um imediato desejo de pegar uma mochila, supri-la com livros e mudas de roupa e pegar a estrada. Não me importa o quão batida seja “Like a rolling stone” (não sou daqueles que acha menor a Canção do Exílio ou José por seu uso), basta que a canção comece para que eu desconsidere o ciático e o sobrepeso e me imagine em movimento. Pudesse ela durar seis dias e não apenas seis minutos e creio que teria desbravado o mundo. Com o anúncio do prêmio, voltei, como muitos, a algumas letras, atrás do argumento da academia de que havia poesia suficiente na parte escrita das canções (até de Safo lembraram). O fato é que experimentei o mesmo que experimentara no caso do Lou Reed, a mesma sensação de incompletude. Fiquei um tempo lendo “Like a rolling stone”, o suficiente para descobrir que boa parte do que me fazia querer viajar não estava ali, mas no turbinado órgão Hammond que soa ao longo de toda a música.
Nota 3: Houve um tempo em que as novidades vinham acompanhadas de manifestos, de proclamações, de provocações. Hoje se recorre sempre a uma mesma palavra que não sei quanto a vocês, mas a mim já produz de imediato um bocejo: inovar. Por isso, quando a Academia Sueca resolveu inovar, não era de se esperar nada mesmo de novo, seria alguma solução fácil ou midiática. Ou há escolha mais tradicional para parecer moderna do que essa indicação? Comecei a ler Szymborska e Tomas Tranströmer graças ao Nobel. Ali estavam dois poetas moderníssimos, sem que precisassem de maior alarde do que ser traduzidos. Em outras palavras, não me parece haver nada mais conservador que dar um prêmio a um artista consagrado de uma outra área e fazer disso uma inovação.
Por isso, nossa coluna de hoje traz um poeta e uma poeta que bem podiam ter sido comtemplados com o cheque escandinavo, pois isso lhes teria dado visibilidade mundial que, por mais restrita que fosse, permitiria que suas obras chegassem a nossas mãos com a ajuda de grandes tradutores e não através de minhas restritas capacidades. Mas é o que a casa oferece.
Inicio com um poema de Robert Hass, um dos grandes poetas americanos ainda em atividade, cuja obra se volta para profundas reflexões sobre linguagem, poesia e natureza. Escolhi e traduzi um poema chamado “Meditação em Lagunitas”.
Todo o pensamento novo é sobre perda.
Nisto ele se parece com todo pensamento antigo.
A ideia, por exemplo, de que cada particular apaga
a claridade luminosa da ideia geral. De que o pica-pau
com sua cara de palhaço examinando o esculpido tronco morto
daquela bétula negra é, por sua presença,
alguma queda trágica de um primeiro mundo
de indivisível luz. Ou a outra noção de que,
por não haver neste mundo nem uma só coisa
correspondente ao arbusto de amoras-silvestres,
uma palavra é elegia ao que ele significa.
Falamos sobre ele na na noite passada e na voz
de meu amigo havia um tênue fio de pesar, um tom
quase querelante. Pouco depois, compreendi que,
falando desse jeito, tudo se dissolve: justiça,
pinheiro, cabelo, mulher, você e eu. Havia uma mulher
com quem fiz amor e eu me lembro de como, segurando
seus pequenos ombros em minhas mãos às vezes,
eu sentia um violento assombro em sua presença
como uma sede por sal, por meu rio da infância
com suas ilhas de salgueiros, a música boba que vinha do barco do prazer,
lugares enlameados onde apanhávamos pequenos peixes laranjas
chamados semente de abóbora. Isto dificilmente teria algo a ver com ela.
Carentes, dizemos, porque o desejo é cheio
de infindáveis distâncias. Devo ter sido o mesmo para ela.
Mas eu lembro com clareza, o jeito como suas mãos esmigalhavam o pão,
aquilo que seu pai dissera para feri-la, com o que
sonhava. Há momentos em que o corpo é tão divino
quanto as palavras, dias de continuidade da boa carne.
Tamanha delicadeza, aquelas tardes e noites,
dizendo, amoras-silvestres, amoras-silvestres, amoras-silvestres.
Bem, melhor seria não dizer mais nada depois do evento que é este poema. Uma canção pode fazer outras coisas, tão ou mais belas, mas só um poema pode fazer isso, este mergulho total na experiência da linguagem escrita enquanto essa própria linguagem nos envolve num mundo de sonoridade e plasticidade e solidão e silêncio meditativo e arrebatamento sentimental. Aproveito para indicar a vocês, antes de avançarmos, um diálogo soberbo entre Hass e o biólogo evolucionista Edward O. Wilson, registrado no livro The poetic species.
Nossa poeta de hoje é a canadense Anne Carson, aclamada tradutora de grego, que desenvolve um lirismo que usa a tradição para construir uma expressividade que tem a precisão dos clássicos aliada ao despojamento dos modernos, mais, o tom de informe dos relatórios contemporâneos. Leiam e julguem por vocês mesmos. Até o próximo domingo.
“Breve conversa sobre o Homo Sapiens”
Com pequenos talhos o homem de Cro-Magnon registrava
as fases da lua nos cabos de suas
ferramentas, pensando nela enquanto trabalhava.
Animais. Horizonte. Rosto numa panela com
água. Em cada história que eu conto chega
uma parte em que não consigo ver além.
Odeio esse parte. É por isso que chamam
de cegos aos contadores de história – um escárnio.