O colunista do Estado da Arte analisa um poema de Carlos Drummond de Andrade.
por Pedro Gonzaga
Na metade final da década de 90, eu era um jovem escritor, ou tentativa de, rebelde e polemista, disposto a escandalizar mais do que a propor, satirizar mais do que construir, o que por si não é novidade para um jovem: raros são os que escapam a este necessário ridículo. Lembro de ter uns vinte e poucos anos e asseverar esta sentença definitiva a meu pai, eminente professor da UFRGS, feito uma provocação: Drummond é supervalorizado.
O pior é que eu talvez acreditasse nisso (o leitor que sou hoje prefere se esquecer das certezas). Sabiamente, meu pai, ciente de quão longe eu estava de descobrir o real significado do poeta de “Tarde de maio” e “Caso do vestido”, conteve-se, respirou fundo e disse: “Não é que Drummond tenha um poema para cada sentimento, para cada experiência de vida que tenhamos tido, ele tem um poema para o que sentimos agora, e para tudo aquilo que ainda venhamos a sentir”. Precisei de dez anos para viver esta lição. Desconfio que as melhores lições precisam ser experimentadas.
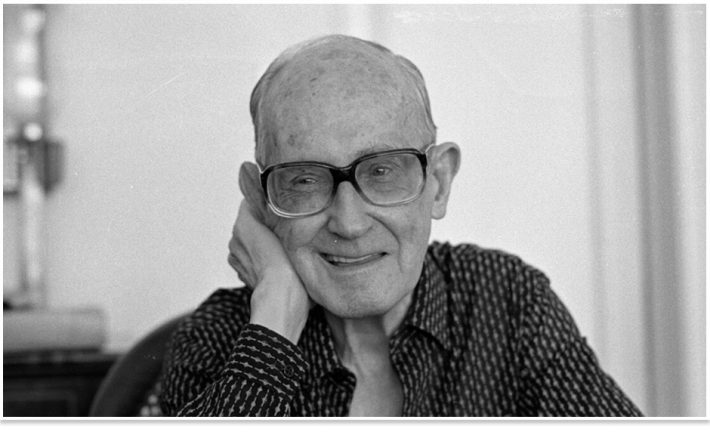
Poeta múltiplo sendo um só – num processo avesso ao do único poeta de sua dimensão na língua portuguesa desde Camões, Fernando Pessoa –, Drummond segue desafiando qualquer tentativa de reduzi-lo e classificá-lo, independente da extensão de que se disponha para escrever sobre sua obra, o que provam os excelentes e incompletos (e excelentes porque incompletos) livros de José Guilherme Merquior e Davi Arriigucci Jr.
Muito já foi comentado sobre as sete faces do poeta, seguindo a sugestão por ele oferecida no poema que abre Alguma Poesia (1930). Trata-se daqueles famosos versos em que o eu-lírico se declara um anjo torto, um gauche, um indivíduo ao mesmo tempo em desacordo com o mundo e consigo mesmo. Como bem aponta Antonio Candido, a poesia de Drummond descreverá um movimento pendular, do coletivo para o individual, da transformação social para a desilusão com as ideias políticas, da tentativa de comunicação ao fracasso da solidão. A única saída parece ser o humor, a ironia, a capacidade de rir da própria condição humana, o que não é uma saída, mas uma muleta para nossa condição, como um par de óculos que corrige, mas não conserta.
Entre as tantas temáticas (existencial, social, cotidiana, amorosa, o passado familiar, o passado itabirano, as homenagens aos amigos), escolherei apenas uma, assim como apenas um poema, acreditando que diante deste gigante da língua portuguesa, o melhor a fazer é ler com modéstia, tentando revelar (ou decifrar) o que está diante de nossos olhos: não uma obra, mas um poema. Abaixo temos o soneto “Destruição”:
Os amantes se amam cruelmente
e com se amarem tanto não se veem.
Um se beija no outro, refletido.
Dois amantes que são? Dois inimigos.
Amantes são meninos estragados
pelo mimo de amar: e não percebem
quanto se pulverizam no enlaçar-se,
e como o que era mundo volve a nada.
Nada, ninguém. Amor, puro fantasma
que os passeia de leve, assim a cobra
se imprime na lembrança de seu trilho.
E eles quedam mordidos para sempre.
Deixaram de existir mas o existido
continua a doer eternamente.
Dispensável dizer que estamos diante da visão do amor como uma experiência amarga, o amor-amaro, tão presente na lírica de Drummond. Inegável lembrar também o diálogo com Camões, a influência de uma visão dilacerada da experiência sentimental, desconcertada, como naquele fogo que arde sem se ver e a voluntária prisão a que está submetida a criatura amadora. Opera ainda e por fim, para começarmos a falar do soneto, a distância inicial entre os amantes que faz, platonicamente, que cada qual crie uma projeção ideal do outro, que haverá sempre de competir com a pessoa real e falível, feita de matéria carnal, objeto do desejo físico, o mesmo desejo que os atrairá um ao outro, desfazendo a ilusão necessária ao amor.
Comecemos a análise pelo primeiro quarteto.
Os amantes se amam cruelmente
e com se amarem tanto não se veem.
Um se beija no outro, refletido.
Dois amantes que são? Dois inimigos.
Notem que o eu-lírico optou por uma postura analítica, não é ele um dos amantes, de modo que observa a danação a que estamos reservados de uma espécie de platô, para que possa apontar os efeitos das idealizações de que somos vítimas. Importante destacar a excelência do advérbio escolhido para classificar o modo de amar dos amantes: “cruelmente”. Quantos sentidos se podem tirar dele? Pelo menos dois. Há o sentido de “nocivo”, a forma como agem os que buscam maltratar o outro, mas há também o sentido de cru, ou seja, como algo que é essencial à própria natureza do amor, um processo inevitável diante da relação entre os dois seres. Mas por que seria este amor cruel, afinal? Em busca da resposta devemos atentar para o último verso: trata-se de um encontro de inimigos. Mas em que sentido? Ou, quem são os inimigos? Não é o amor a mais suprema forma de aproximação? Novamente é pela disjunção de corpo e alma, ou ideal e real, que chegaremos a resposta. Os amantes são cada qual um duplo. Um tem ao outro, inventado, dentro de si (são os espelhos que cada um beija), frutos das expectativas e da criação do primeiro tempo do amor. Eis os inimigos: o outro idealizado contra o outro verdadeiro, sendo este revelado a cada aproximação, física e espiritual.
Amantes são meninos estragados
pelo mimo de amar: e não percebem
quanto se pulverizam no enlaçar-se,
e como o que era mundo volve a nada.
O verso que abre o segundo quarteto é de uma beleza (e talvez verdade) quase intolerável: os amantes foram estragados pelo mimo, pelos cuidados do início do amor. Já não serão capazes de sustentar os parâmetros estabelecidos por eles mesmos, no afã de impressionar e de estabelecer a conquista, quererão ambos sentir o sabor da novidade, tão perecível aos afazeres e às corriqueiras atividades cotidianas. Daí que o enlaçar-se (a convivência), o estar juntos, onde não há distância, faz ressurgir a frialdade do mundo ordinário, não mais o idílio do encontro que ressignificaria tudo, mas somente o mundo em que os dois não são mais do que duas pessoas, feito elas mesmas, em nada iridescentes, em nada semelhantes ao modo como brilhavam no olhar úmido pela fantasia do outro. E daí a escolha do verbo “pulverizar”. Pó. Apenas pó movente e depois pó caído, como em Vieira, ou o pó que se converte em nada, como em Góngora. Os barrocos sabiam tudo sobre destruição neste mundo de sombras ambulantes.
Nada, ninguém. Amor, puro fantasma
que os passeia de leve, assim a cobra
se imprime na lembrança de seu trilho.
O que seria, pois, o amor senão um fantasma, como afirma o verso ao início do terceto? Uma assombração, uma sensação em tudo comparável ao movimento de uma cobra que já não se vê. Ao se darem conta do que sentem, o que se verifica é apenas o rastro, a impressão do movimento, uma percepção de fim gravado como uma tatuagem, no chão, na alma. E me parece que aqui está a grande imagem, o grande símile do poema. O amor feito a cobra e seu trilho. O perigo e suas ruínas. O que foi vivo e arriscado, as marcas que indicam apenas um vazio. Sabemos que o réptil passou, mas só colhemos as indicações do movimento, o que até nos permitiria ver o bicho, mas não sentir o seu real contato. Porque o amor se esconde, é sempre leve impressão, e por isso é ainda mais grave a sua ausência registrada. Mais uma vez o eco de Camões se faz ouvir, é dor que desatina sem doer. E por ser contraditório é que o amor não pode ser rejeitado. Porque não é experiência sintetizável, é forçoso aceitá-lo como benção e danação, como busca ao mesmo tempo da suprema felicidade e da suprema desgraça, amarga e doce armadilha.
E eles quedam mordidos para sempre.
Deixaram de existir mas o existido
continua a doer eternamente.
Mordidos. Os amantes (e aqui se complementa o uso da figura da cobra) sentem em suas veias o amor como um veneno, que termina por extinguir aqueles outros idealizados, sem que possa haver qualquer antídoto para isso. Resta a dor, que não cede. O existido (remissão clara ao trilho do terceto anterior) seguirá visível na memória dos dois, com tal intensidade que só retornar aos estágios primeiros do amor, ou da paixão poderá servir de paliativo e de esquecimento (momentâneo) para a dor.
E por isso, ainda que pareça profundamente desesperançada a visão amorosa em Drummond, há esta sugestão de que o amor haverá de continuar a recriar-se, a reinventar-se, apesar dos trilhos inúteis como vida, úteis apenas como memória, ou mesmo por que contemplar os trilhos, ao fim, é melhor do que nada sentir. É o que encontramos em “Amar” (sei que havia dito que leríamos apenas um de seus poemas, mas me concedam, à guisa de exemplo, apenas um trecho), quiçá o mais celebre de seus poemas amorosos.
Este o nosso destino: amor sem conta,
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão,
e na concha vazia do amor à procura medrosa,
paciente, de mais e mais amor.
Amar a nossa falta mesma de amor,
e na secura nossa, amar a água implícita,
e o beijo tácito, e a sede infinita.
E pai, você estava certo, Drummond tem um poema para o que em nós ainda não está escrito.




