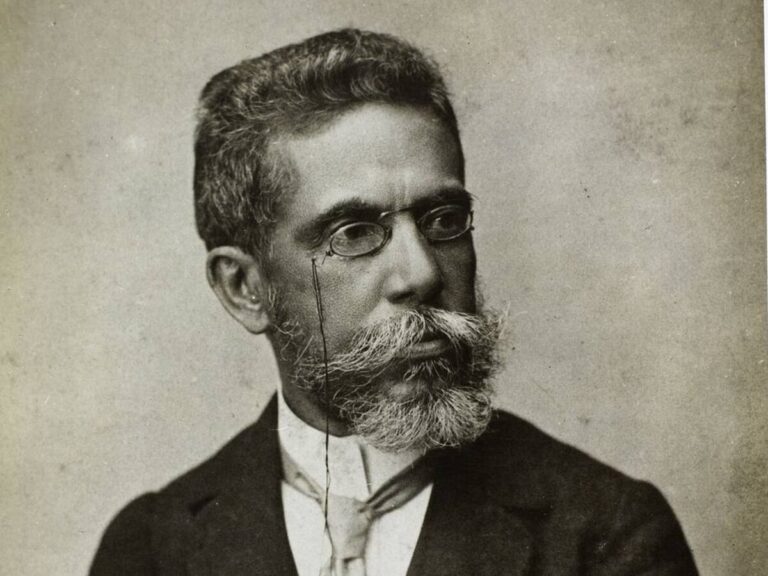por Pedro Gonzaga
Em seu discurso ao receber o Nobel de Literatura em 1995, o poeta irlandês Seamus Heaney tocou num ponto que me parece essencial para a compreensão da experiência lírica: um poema é uma maneira de perceber o estar no mundo a partir de uma visão que é, ao mesmo tempo, estrangeira e particular. Uma organização capaz de “satisfazer todos os apetites da inteligência aderindo-lhes os afetos. Evento estático e extático, que torna “possível o fluido restaurador que relaciona o centro da mente com sua circunferência, a criança que escutava a palavra Estocolmo na esfera do rádio, com o homem que hoje está em frente a vocês em Estocolmo, neste momento privilegiado.” Heaney conclui o trecho agradecendo à poesia “em nossa época e em todos os tempos, por sua fidelidade à vida, em todo o sentido inerente à expressão.”
Quero destacar esta ideia de “fidelidade à vida”, acrescentando que nenhuma experiência artística se assemelha mais ao movimento natural da consciência em seu deslocar no tempo e no espaço e sua capacidade de dizê-lo, como queria Santo Agostinho, do que a vivenciada num poema. Com suas memórias feito imagens, com seus ontens e amanhãs agora, com sua perplexidade infinita diante da natureza e do mundo de que somos parte e dos quais estamos irreparavelmente apartados, a poesia ultrapassa a mera simulação mimética, conferindo-nos uma espécie de mapa da condição humana, que nos une ao outro por nossos próprios trajetos, como se não houvera dias, séculos e milênios, distâncias ou geografias.
Fidelidade à vida, como se pode notar neste poema exemplar de Wang Jian, poeta chinês do século VIII:
A nova esposa
No terceiro dia ela desceu até a cozinha,
Lavou as mãos, preparou o caldo.
Sem saber ainda os gostos da sogra,
Pediu à cunhada para experimentá-lo.

Ainda que nossos costumes sejam diferentes, conhecemos o constrangimento das relações familiares, o medo de decepcionar as pessoas próximas, a insegurança dos começos. A história do outro é também a nossa história, num só lugar, visível e sensível como se fosse nossa própria experiência. Fiel à vida, o poema não compartimenta os acontecimentos. Não é apenas racional como a filosofia, lógico como a matemática, sensível como a carne, documental como a memória. É ocorrência indivisível, simultânea, é a voz que dentro de nós organiza o banco de dados, como no belíssimo poema de Anna Swir, poeta polonesa da segunda metade do século XX:
Eu lavo a camisa
Pela última vez lavo a camisa
de meu pai morto.
A camisa cheira a suor. Lembro
desse suor na minha infância,
por tantos anos
lavei suas camisas e roupas de baixo,
sequei-as
junto ao fogão à lenha na garagem,
ele que as vestia sem passar.
Entre todos os corpos do mundo,
animais, humanos,
apenas um exsudava esse suor.
Inalei-o
pela última vez. Ao lavar esta camisa
destruí-o
para sempre.
Agora
de meu pai restam apenas os quadros
que cheiram a óleo.
Criada pelo pai que era pintor, Swir compõe uma elegia que nos assusta fisicamente se temos os pais vivos, que produz evocações entre aqueles que já os têm mortos. O cheiro de suor do poema tem o cheiro sentido particularmente por cada um de nós, nas pessoas que amamos. Uma impressão indivisível, incapaz de ser repartida, exceto por meio da fidelidade dos versos.