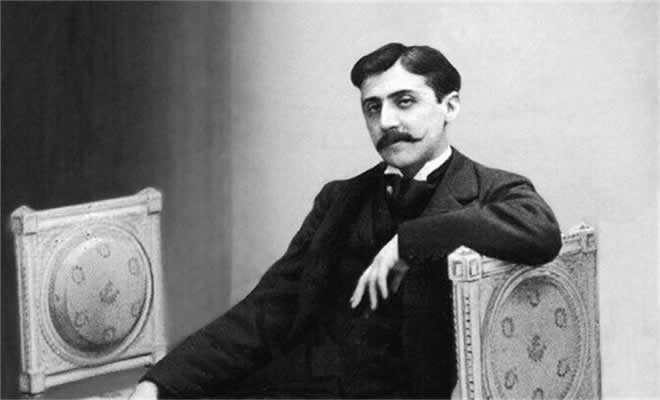
por André Chermont de Lima
Charles Swann, o personagem de Proust que atua como espécie de referência intelectual, estética e sentimental para o narrador na primeira metade de Em Busca do Tempo Perdido, elogia, em determinado momento do romance, o futuro primeiro-ministro da França, Georges Clemenceau. Ele conversa com Marcel, o herói do livro; este recorda como Swann, pouco tempo antes, acusava o político de ser um corrupto. “Não, eu nunca lhe disse outra coisa. O senhor está fazendo confusão”, retruca, para, ato contínuo, declarar sua antipatia pelo escritor nacionalista Maurice Barrès – “não tem ossos. Grande sujeito o velho Clemenceau. Como ele sabe a sua língua!”. O problema é que Swann admirava Barrès, até o dia em que o escritor “perdera todo o talento”.
Toda essa inconsistência, inesperada não apenas para o narrador mas também para o leitor, acostumado até ali a ver em Swann uma personalidade de enorme bom gosto, caráter e compostura – inclusive pelo fato de, judeu, ter conseguido quebrar barreiras sociais para trafegar e ser amado nas rodas aristocráticas mais exclusivas de Paris -, aparece também em outros personagens de Proust. As pessoas, de repente, começam a defender uma opinião contrária mostrando a mesma convicção com que sustentavam a anterior. Como que empurradas pelo vento irresistível das circunstâncias, negam o seu passado, suas formações, as bases de sua própria criação, dos ambientes a que sempre pertenceram, transformando-se em “hereges”, às vezes em advogados de causas até pouco antes impossíveis.
A força que impele essas transformações é o pano de fundo histórico de boa parte da trajetória de Em Busca do Tempo Perdido: o caso Dreyfus. Em 1894, o capitão do Estado-Maior Alfred Dreyfus, de origem judaica, foi condenado à prisão perpétua pelo envio de documentos secretos à embaixada da Alemanha em Paris. Apesar dos indícios de que os papéis apreendidos haviam sido forjados, e de testemunhos de próprios militares envolvidos no caso confirmando a inocência de Dreyfus (um deles, desmascarado, suicidou-se na prisão), novo julgamento em 1899 apenas comutou a pena para 10 anos de prisão. O réu foi logo depois indultado pelo Presidente da República, mas só em 1906 a segunda sentença foi anulada. O caso dividiu a França: de um lado, os dreyfusards, tachados de socialistas, agitadores, anticlericais, ateus, inimigos da França, mais tarde sionistas; de outro, os antidreyfusards, atacados pelo conservadorismo, insensibilidade, racismo, nacionalismo cego. Graças à milagrosa capacidade de Proust de nos transportar para o seu mundo e manter-nos ali (mundo que é a memória, os olhos de pintor e o contínuo vaivém de impressões entre o passado e o presente), viramos testemunhas quase presenciais, sobretudo em dois dos sete volumes, de personagens que, interagindo o tempo todo com figuras reais, oscilam de suas velhas certezas para as novas, contradizendo-se, pondo em xeque a própria honra e o sentido do ridículo. Mesmo os mordomos são vistos a reproduzir os debates de seus patrões, defendendo este ou aquele lado conforme o cenário dentro das casas onde trabalhavam.

O caso Dreyfus, retratado pelo melhor cronista possível (porque Em Busca do Tempo Perdido, como toda grande obra literária, permite ser lida sob inúmeros ângulos, inclusive o da pueril crônica de costumes), apresenta muitas semelhanças com o Brasil destes anos pós-impeachment de Dilma Rousseff – dessemelhanças também, mas deixemo-las de lado por um momento. A inexistência de estatísticas lança muitas dúvidas sobre a afirmação de que a França estava efetivamente “partida ao meio”. Assim como hoje, o termo é usado de forma indiscriminada, como se fosse fato, e o que se vê é a aceitação mais ou menos pacífica, mais ou menos metafórica, da “divisão” – na verdade, Hannah Arendt e outros estudiosos do caso atestam que os partidários de Dreyfus não passavam dum punhado, ainda que dentre eles despontassem celebridades como Émile Zola, Anatole France e o próprio Clemenceau. Seus oponentes, embora em maior número, digladiavam-se em meio a uma grande maioria desinteressada.
Muito menos discutível foi a influência do affaire sobre os envolvidos, reais ou imaginários. Swann mudou de opinião a respeito do futuro primeiro-ministro e do escritor Maurice Barrès porque um era a favor de Dreyfus e o outro, contra. O príncipe de Guermantes e Robert de Saint-Loup são mais dois exemplos tirados de Proust: os personagens (Saint-Loup é amigo próximo do narrador), pertencentes a uma das mais antigas famílias aristocráticas da França, marcharam cada um para um lado, o primeiro admitindo, constrangido, ter sido obrigado a apoiar a causa por uma questão de honestidade, de respeito aos fatos; o segundo, único dreyfusard da família, volta atrás por fidelidade à instituição à qual pertence, o exército, mesmo reconhecendo a inocência do capitão. Ao lado dos “vira-casacas”, não custa recordar a situação de Swann, que, embora nunca tenha mudado de partido, demonstrou, ao final da vida, a mesma volubilidade ao mudar de opinião a respeito dos amigos e inimigos de sua causa. Em todos esses exemplos – inclusive no do príncipe, já que nada indica que achasse Dreyfus verdadeiramente culpado antes de sua envergonhada apostasia – o que prevalece é a paixão, o comportamento típico do integrante da massa, cujos sintomas Freud identifica na forma do “enfraquecimento da aptidão intelectual, a desibinição da afetividade (…), a tendência a ultrapassar todas as barreiras na expressão de sentimentos”.
Quem deixa de ouvir Chico Buarque porque não gosta de comunista, faz boicote à Rede Globo porque apoiou o “golpe” ou qualifica o adversário de stalinista ou fascista (muitas vezes sem ter a menor ideia do que isso significa) emula a antiga relatividade estética e moral existente nos protagonistas de cem anos atrás. Percebemos que, embora seja mais difícil mudar de opinião a respeito dos pivôs das crises (mas não impossível, como vimos e vemos), constrange a facilidade com que se transformam os julgamentos sobre seus partidários, assim como a maleabilidade lógica dos argumentos invocados numa causa ou outra: o impeachment contra Fernando Henrique Cardoso era a legítima aspiração do povo brasileiro, enquanto o processo contra Dilma Rousseff foi “golpe”; o Brasil mergulhou num estado de exceção, ao passo que países como a Venezuela são poupados; a bandeira anticorrupção hasteada nos anos pré-mensalão transformou-se hoje numa ditadura do Judiciário.
Outra semelhança importante entre os dois períodos é a da proporção inversa entre o significado histórico do caso e a relevância pessoal de seus pivôs. Mesmo após a reabilitação do capitão, e punidos os conspiradores, as consequências do affaire persistiram, junto com o trauma, porque diziam respeito a algo maior do que a acusação de espionagem contra um oficial judeu. Muita coisa maior e mais profunda estava em jogo naquele momento, e isso explica por que a divisão da França persistiu além do ano de 1906. Eric Hobsbawm e Hannah Arendt argumentam que a “reação de horror” provocada pelo caso engatilhou o estabelecimento do sionismo. Creio que ninguém duvida que a nossa divisão não se diluirá no espaço após as eleições de outubro. Esse novo trauma brasileiro seguirá ainda por um bom tempo e, queiram ou não seus admiradores, dirá cada vez menos respeito à figura de Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio Proust empresta dons premonitórios à duquesa de Guermantes, prima do príncipe, ao apontar para a mediocridade das cartas e da personalidade de Dreyfus e afirmar, nas entrelinhas, que o capitão, saindo vitorioso ou não, teria um futuro pouco brilhante. Arendt o descreve como membro de uma família de “judeus antissemitas” (ou seja, plenamente ajustados ao sistema e desconfiados dos judeus estrangeiros ou recém-nacionalizados), o “arrivista” que gastava altas somas de dinheiro com mulheres. Estou correndo certo risco aqui, mas me tenta a ideia de seguir vendo os brasileiros metidos numa discussão que, daqui a alguns anos e talvez por motivos diversos, não mais terá Lula como seu protagonista.
Pode-se argumentar, a favor de uma metade ou outra, que o caso Dreyfus tinha apenas um lado “certo” – as evidências de fraude tornaram-se cristalinas depois de poucos anos. No entanto, frente ao inacreditável labirinto jurídico dos julgamentos, recursos, anulações, apelações e julgamentos paralelos, muito assemelhado à nossa novela, com suas idas e vindas, suas teses loucas, injustiças, o clima de absoluta imprevisibilidade (o termo em voga é “insegurança jurídica”) e a infiltração da política a criar um cipoal do qual a clareza de visão ou a inteligência raramente escapam, talvez seja prematuro demais afirmar algo parecido sobre o Brasil contemporâneo. Seria lícito falar em sinais trocados – o Dreyfus de hoje culpado, as instituições que o acusam falsamente acusadas de conspiração –, mas isso pouco importa aqui. Se a história o absolverá ou o culpará me parece insignificante diante do que ela não esquecerá. O “lado certo” será ainda muito disputado num cabo-de-guerra de agressões e golpes baixos.
Os efeitos sociais do embate levaram – e ainda levarão – a pancadarias, destruição de amizades, instabilidade política, blitze ideológicos em aeroportos e na internet e não se sabe quais outras tragédias, grandes ou pequenas. A confusão criada pela estreia da peça “L’Affaire Dreyfus”, em 1931, quando militantes da Action Française, movimento de extrema direita, tentaram impedir a apresentação, foi prenúncio de um hábito que se multiplicou e intensificou nos anos seguintes, e ganhou um estranho paralelo nos teatros e museus do Brasil no século XXI. Tais efeitos sociais deram origem, também, a fenômenos remediadores, como o surgimento duma nova etiqueta (leia o artigo do Artur Xexéo na edição de 29/4 de “O Globo”), eco distante do que ocorreu na França do fin-de-siècle, onde se falava (e muito) sobre Dreyfus mas geralmente depois de se tomar os devidos cuidados – a começar pela identificação prévia do posicionamento do interlocutor ou, na falta de certeza, uma espécie de censura de salão.
Se esses efeitos sociais são semelhantes, as circunstâncias não o são. Isso é evidente, ainda que até certo ponto: mencionar aqui os escândalos envolvendo a empresa do Canal do Panamá e o suborno de parlamentares e funcionários públicos, que antecederam o caso Dreyfus, seria talvez traçar um paralelo demasiado óbvio, demasiado lugar-comum. Mas será que a questão judaica morreu junto com Marx, Wagner e Dreyfus ou simplesmente se transferiu da Europa Ocidental para o Oriente Médio, de onde é de novo irradiada para o resto do mundo? E o embate entre conservadores e progressistas, cristãos e anticlericais, jacobinos e liberais? Seriam o processo Dreyfus e a operação Lava Jato eventos históricos isolados ou dois estopins, entre tantos outros ao longo de tantas outras épocas, a detonarem o centenário pano de fundo das velhas rivalidades ideológicas? Eis Proust para nos lembrar que o resgate do tempo perdido serve, ou deveria servir, para evitarmos as mesmas catástrofes.
Leia também:
Ver o visível: a importância da crítica para Marcel Proust
A consciência do amor em Proust, uma questão de espaço
Proust e uma abordagem via consciência




