Em 2024, o Prêmio São Paulo de Literatura foi outorgado, nas suas duas categorias “romance de estreia” e “romance”, a duas mulheres negras: respectivamente, a gaúcha Eliane Marques, com Louças de família, e a baiana Luciany Aparecida, com Mata Doce. A significância desse evento merece ser celebrada e parece dar força a uma resposta dada por Luciany ao ser questionada sobre a “cara do romance contemporâneo”: “a face de diferentes mulheres negras que se erguem, expondo caminhos de liberdade”.
O impacto dos romances premiados na literatura brasileira é uma história estimulante ainda a se escrever. O que busco neste artigo é oferecer uma leitura breve de ambos que busque apontar um itinerário possível de adentrar seus muitos caminhos possíveis. O que desponta na literatura brasileira com essas obras celebradas pelo prêmio? Que caminhos seriam esses?
I
O povoado de Mata Doce já brilha na geografia imaginária da literatura brasileira. Fundado na Bahia por uma mulher em fuga da escravidão, cujo nome – Eustáquia da Vazante – evoca um marco de estabilidade em meio ao fluxo, a cidade se formou por ex-escravizados em busca de liberdade acolhidos por Eustáquia. Anos depois (as datas não são declinadas), dá morada à professora Mariinha da Vazante, neta da fundadora, e sua companheira Tuninha da Vazante, que adotou o sobrenome. As duas acolhem, como filha, Maria Teresa da Vazante – produto de um episódio de violência sexual contra Lai, uma amiga do casal.
A narrativa começa na manhã em que, sob o auspício do orvalho caído sobre um leito de folhas de bananeira, Maria Teresa se sagra matadora de bois, fazendo seu primeiro abate e adotando o nome, que encapsula sua destinação, de Filinha Mata-Boi – primeira mulher a assumir tal função na região. Filinha anuncia sua função e identidade às suas mães em êxtase seguido de choro, testemunhada por botões de rosas brancas.
Rosas brancas abrem o capítulo seguinte. A mesma casa é habitada por Maria Teresa. Só depois descobrimos ter a ação saltado muitos anos adiante e a Filinha Mata-Boi ter agora noventa e dois anos – as pessoas que conhecera em sua juventude estão mortas; as rosas brancas, uma lembrança espiritual de Eustáquia da Vazante. Descobrimos que, antes de tornar-se Filinha Mata-Boi, Maria Teresa se formara datilógrafa – ofício raro em sua época e local – e ficara noiva do homem que lhe deu, de presente, sua máquina de escrever, antes de, no dia do casamento, ser morto por Gerônimo Amâncio, único branco da região, senhor ilegítimo de terras. A vida de Maria Teresa-Filinha Mata-Boi passava-se entre essas duas identidades, entre o ferro da máquina de escrever e o ferro da faca, em uma solidão exorbitante de emoções da qual a mãe da menina sonhara livrá-la em tempos antigos.
Mata Doce primordialmente aparece como um microcosmo, com seus poucos habitantes, suas famílias, seus ofícios. Um templo de culto aos orixás, de tradição remontante ao império iorubano de Oió, responde por grande parte da fé da região. O ferreiro Venâncio, também fazedor de caixões, guarda o caráter mágico e numinoso que nimba seu ofício entre povos africanos, conhecendo como poucos as matas e geografias sagradas da região; é quem guia o garoto Thadeu a uma revoada de araras-azuis – pássaro mensageiro de sua mãe que suicidara-se. Mata Doce é também morada do gaiteiro e doceiro, já aludido antes, Mané da Gaita e sua cachorra Chula, figura inusitada que cruza as décadas, “que nunca envelhece, mas que é muito antiga”, para citar versos da autora. Ao mesmo tempo, esse microcosmo põe-se em relação com o mundo externo em parte devido à proximidade com a cidade vizinha, um pouco maior, de Santa Stella, de onde vem o padre oficiar casamentos e funerais, remontam algumas genealogias segredadas, derivadas por vezes de violências sexuais. Santa Stella é também a cidade que une alguns dos viventes de Mata Doce com o lendário poeta, advogado e antropólogo baiano Manuel Querino e é desse povoado, de uma biblioteca escolar, que Maria Teresa toma emprestado o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que abre a ela um veio da literatura brasileira em que ela se reconhece.
Esse mundo se compõe nas palavras datilografadas por Maria Teresa, que logo na primeira parte do romance se revela a narradora que, até então, se expressara em terceira pessoa “para os casos ganhar mais valia”. Algo não me convence de todo nessa justificativa da narradora, que se torna mais sólida com o que ela diz em seguida: “Aos poucos vou me perdendo nesse narrar vidas fora de mim, mas que não deixam de ser eu mesma” – a terceira pessoa, mais que credibilidade, infunde comunidade nas palavras percutidas no papel. Um pouco antes, no mesmo capítulo, vai dito: “As lágrimas turvam minhas vistas, voltei a chorar com frequência, tenho desejado parar estas recordações, mas esse som do bater da máquina me aviva, me anima, guia meu corpo para além de mim mesma” (p. 73).
A máquina de escrever se revela implemento mágico, com sua escrita visual contaminando de sentido e força o som do bater de suas teclas, lembrando algo dos tambores falantes da África do Oeste – instrumentos sagrados que reproduzem as tonalidades das línguas oeste-africanas em frases percussivas compreensíveis pelos ouvintes educados a ler essa escrita sonora. Maria Teresa não é a única a reconhecer esse poder espiritual da letra escrita e do som de suas teclas. Seu primeiro cliente, o ferreiro Venâncio, a procurara para datilografar uma carta para sua mãe morta, desfiando a falta que sentia, suas memórias e aquilo que ele gostaria de ter vivido com ela, informando também que preparava um desenho gravado a ferro em homenagem a ela. O universo do ferro, da técnica, se infunde de espírito e torna-se meio de comunicação com os ancestrais, quer no ferro da máquina de escrever de Maria Teresa, quer no ferro dos desenhos de Venâncio. Quer, ainda, no ferro da faca de Filinha Mata-Boi, oficiador do sacrifício, morte que propicia a vida.

O ferro em sua convergência entre eficiência técnica e veículo espiritual – dimensões que parecem antagônicas para grande parte da espiritualidade ocidental, mas que se conjugam na africana – é campo do orixá Ogum. Lembremos que Wole Soyinka fez de Ogum divindade dinamizadora de sua obra tanto lírica e dramática quanto teórica e crítica. Mais que do ferro, para Soyinka, Ogum tem a tutela das artes dramáticas, líricas, musicais, córicas – performáticas, em uma palavra. Essas artes, articulando-se com as ações rituais e sacrificiais, permitem aos viventes cruzar o abismo que separa o mundo dos vivos, dos mortos e dos não nascidos – o fluxo incessante que coere a vivência humana em sua dimensão individual e coletiva ao longo do tempo. Essa a base da teoria que articula, no pensamento de Soyinka, as dimensões não excludentes do drama-ritual e da sociedade. Ambas, nos diz o poeta iorubano, se concretizam na própria realidade cósmica que rodeia a sociedade humana, “o lar natural das divindades invisíveis, um lugar de descanso para os que partiram e um lugar de acolhida para os não nascidos”. Ogum, portanto, oficia as artes e as técnicas que permitem ao elemento humano não só intervir, mas relacionar-se com o mundo que o rodeia tanto na sua dimensão física quanto espiritual, que, em lugar de se separarem, tecem um contínuo.
A antropóloga Karin Barber, em seu estudo sobre os oriki, gênero poético matricial da cultura iorubá, aponta que a paisagem e as características geográficas de um local, no pensamento e nas artes iorubanas, são vistas não como um mundo natural, afastado das questões humanas, mas cultural, pois infusas com o caráter que lhe dá o olhar humano, atraídas para o processo civilizatório com que interagem. Também não esqueçamos do crítico de arte Babatunde Lawal, que lembra que o termo “cultura” ou “civilização” se traduz melhor em iorubá pelo termo olaju – literalmente, “o entalhe de um rosto”, étimo interpretada pelo crítico como “o ato de dar ao mundo natural um rosto humano”.
As viventes de Mata Doce parecem em casa nessa percepção que apaga as tão artificiais diferenças entre cultural e natural. A revoada das araras azuis e os caminhos ocultos da floresta são do mundo de Venâncio tanto quanto as ferramentas de metal com que entalha o desenho a ser presenteado à sua ancestral. O sangue do boi sacrificial se irmana ao orvalho matinal por meio do ferro da faca de Filinha Mata-Boi tal como as vivências e as palavras de vivos e mortos encontram morada no tamborear de sua máquina de escrever, entalhando no papel uma história-palco para os que virão a nascer. O ferro, a tinta e o papel sempre recendem sempre às realidades brutas minerais e vegetais das quais derivam. E o fazer e o viver humano se mesclam completamente com as realidades geográficas que as circundam em Mata Doce.
Nesse entendimento, a solidão de Filinha Mata-Boi ganha sentido mais amplo, bem como o acidente trágico que, a princípio, a votara a essa mesma solidão da qual a mãe queria salvá-la. “No velório do noivo assassinado, Filinha Mata-Boi apontava nascimento”, lemos no capítulo 9 da primeira parte, onde também lemos que a “solidão é devoradora” – talvez como divindade elemental, a solidão exija ser devidamente alimentada com sacrifícios para que passe de devoradora a propiciadora. Ao longo dos anos que se estendem a partir desse velório, a solidão de Maria Teresa-Filinha Mata-Boi, sem deixar sua face dolorosa, guia-a para além de si mesma por meio da faca sacrificial e da máquina de escrever, instrumentos com que ela se cosmologiza, com que ela se põe em diálogo com a totalidade cósmica – para voltarmos aos termos de Soyinka – de Mata Doce e seu fluxo de vivos, mortos e não nascidos.
II
Já que falamos de abismo, uma coletânea que tenho de traduções espanholas de poemas do escritor austríaco Hugo von Hoffmansthal traz, em seu prefácio o seguinte comentário do tradutor Fruela Fernandez: Hoffmansthal é o um escritor que, contemplando o abismo, não se deixa tragar por ele, ao contrário de outros como Kafka, Celan e o T. S. Eliot da Canção de Amor de J. Alfred Prufrock.
Nas primeiras páginas de Louças de família, romance de estreia de Eliane Marques, encontramos a narradora Cuandu, que, em primeira pessoa, busca se haver com o legado da morte de uma tia que foi, durante toda sua vida, empregada doméstica de uma família branca e rica em uma cidade da fronteira entre Brasil e Uruguai. A partir de sua narração, desenovela histórias de muitas suas ancestras e contemporâneas de sua tia, das mulheres de sua família – histórias que cruzam o período escravista, o pós-abolição e chegam aos tempos pandêmicos em que o livro é escrito. Muitas não escaparam a uma vida de serviço em casas de famílias outras que não as suas, não escaparam de um destino de pobreza ou violência em uma sociedade que é mormente hostil a elas ou que lhes limita em suas possibilidades de expansão. Em seu projeto literário, encerrada em seu apartamento, isolada pela pandemia, Cuandu está diante do abismo.
Nos primeiros capítulos, nossa narradora se enreda em um exercício literário cujos movimentos não deixam de lembrar os do poema A canção de amor de J. Alfred Prufrock, citado no comentário de Fernandez acima. No poema de 1917, acompanhamos o comedido e cauteloso J. Alfred Prufrock em uma noite de festas e visitas a salões, restaurantes e ruas de Londres em que seu pensamento deambula, buscando responder uma “questão crucial” que nunca tem coragem de formular. Prufrock se detém em uma infinidade de objetos – xícaras de chá a que acompanham bolos, limonadas e cubos de gelo, perfumes femininos que o fazem divagar, vestidos, chales, frutas e os trajes que ele mesmo veste – e se projeta em figuras literárias e míticas como Hamlet e São João Batista, perdendo-se em futilidades que fizeram o crítico David Ward sentenciar que o falante do poema está no inferno (e o inferno, aqui, pode bem ser outro nome para o abismo). A aventura de Prufrock termina pela manhã em uma praia na qual consegue discernir, ao longe, sobre as ondas, as sereias que outrora assombraram e seduziram heroicos navegadores para levá-los ao fundo do mar, mas que, Prufrock admite, não parecem muito interessadas nele (“não creio que cantarão para mim”).
Não é difícil encontrar paralelos entre a persona lírica de Eliot e a narradora de Louças de família. Ao compor na escrita as vivências de suas ancestrais, Cuandu projeta sua atenção em uma intrincada rede de objetos – jogos de louças europeus colecionados orgulhosamente pelos brancos donos de gente e terra (quando algum item trincava ou lascava, era dado “generosamente” às famílias das empregadas negras), peças de roupa descritas em detalhes, a composição química exata de bebidas alcoólicas que arruinaram algumas de suas ancestrais, documentos que detalham procedimentos jurídicos e burocráticos sem fim, móveis e utensílios antigos. A narradora chega a se referir a uma “dúvida filosófica” sobre sua “constituição como pessoa bicho-carpinteiro ou porco espinho” que, ela mesma admite, “não importa”, tanto quanto a “questão crucial” de Prufrock nunca declinada. Isolada das ruas vazias de uma capital pandêmica, teria a Cuandu de Eliane Marques se votado ao mesmo inferno que o Prufrock de T. S. Eliot encontrou nas ruas sujas e movimentadas da Londres pré-Primeira Guerra?
Assim como Prufrock, Cuandu também projeta na realidade brasileira de suas ancestrais mitos e poemas oraculares iorubanos, cenas insólitas do célebre romance The Palm-Wine Drinkard do escritor iorubano Amos Tutuola, versos da cubana Georgina Herrera e da suaíli Mwana Kupona. E aí vemos uma diferença. A Europa de Prufrock está morta, e seus elementais mitológicos solenemente ignoram o anti-herói do poema. As assustadoras figuras de Tutuola, as figuras míticas africanas e suas realidades espirituais, pelo contrário, interagem com as personagens-ancestrais do romance, atormentando-as por vezes, guiando-as por outras, mas sempre se fazendo presentes e eficientes em suas andanças. As terras estrangeiras em que padecem as antepassadas de Cuandu, por hostis que sejam, respondem e reagem à imaginação que a narradora projeta sobre elas e abrem caminhos para suas gerações. Em seu narrar, Cuandu dá uma vida a essas terras e as torna um palco para o seu próprio ciclo de vivos, mortos e não nascidos.
Mas o que busca Cuandu nesse narrar de tantas vidas ancestrais? “Continuo à procura de uma morta familiar que me afirme sua felicidade foda para que eu não duvide da possibilidade da minha. E foda-se.” Parece encontrar, no entanto, algo mais que isso. Aimé Césaire – o poeta martinicano por quem Cuandu admite seu amor ao longo do livro – dissera, ao reavaliar a ideia de “Negritude” articulada por seu amigo Senghor: “Como não crer que tudo que tem sua coerência constitui um patrimônio?” E Cuandu encontra a coerência de um patrimônio nas vivências de suas ancestrais – não uma coerência rígida e classificadora que as domestique em uma linha temporal, mas uma coerência dinâmica, que as faz viver para além de si mesmas e habitar o presente de vivos, mortos e não nascidos que Cuandu habita e da qual ela mesma faz parte.
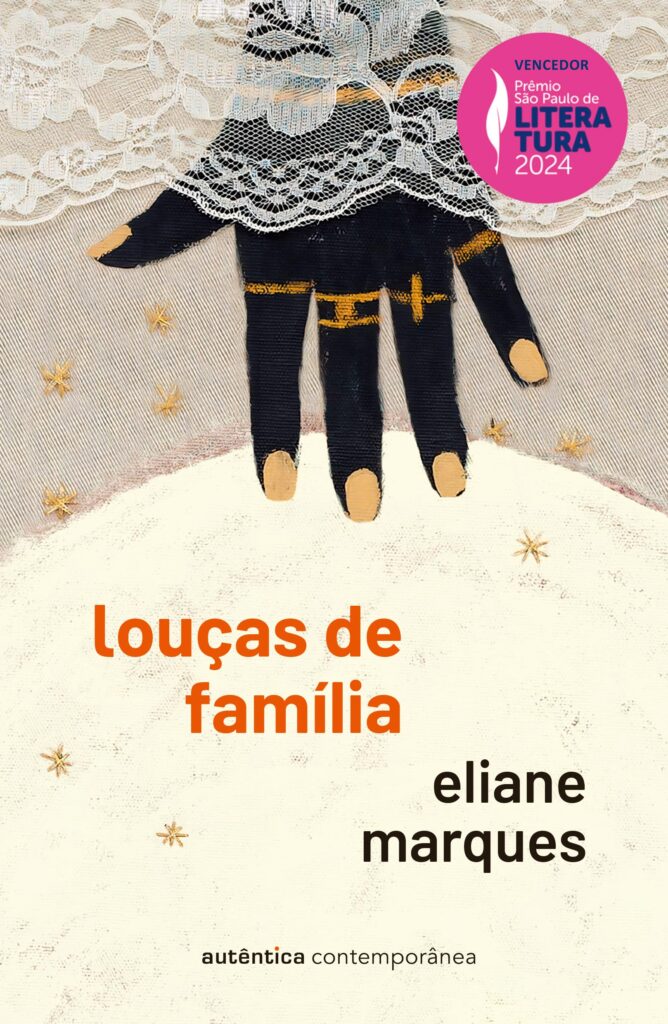
Mas essa coerência só se encontra porque a narradora toma ogunianamente uma postura ativa diante do abismo, do vórtice de mortes, opressões e violências em que se aprofunda. Sim, Cuandu vai até o fundo do abismo. E o que ela encontra ali? A resposta está em uma bela e breve passagem logo no primeiro capítulo da primeira parte, algo que a narradora “supõe ter ouvido” do que lhe contaram. Tão vaga quanto a referência é a situação narrada: após a recitação de um oráculo que orientava a dinastia de Cuandu a não pisar em uma das “casas de família” sob a pena de nunca mais poder sair, “qualquer das ancestras” caminha por um rio recolhendo pedras preciosas, como que hipnotizada pela água até um vento carregá-la a um terreno lodoso, uma “casa de família” da qual nunca consegue sair. Não temos referência nem do tempo em que isso ocorreu, nem de com qual ancestral se deu, não sabemos também qual a origem nem o caráter desse relato tão impreciso – se fábula, sonho ou pura fabricação da narradora. Sabemos, isso sim, que o ciclo de opressões e violências recebe uma origem mitopoética que permite reverter o sentido da espiral. A resposta oguniana de Cuandu ao abismo é a ação. Por dolorosas que sejam as mortes que lembra ou presencia, por trágicos que sejam os eventos ou opressoras que sejam as circunstâncias, jamais logram deixar Cuandu sem ação. É que, para Cuandu, permanecer no abismo, deixar-se deixar tragar passivamente por ele, não é opção. Ela sabe que se abandonar ao abismo significa carregar consigo todo o ciclo de suas ancestras e suas não nascidas, significa abandonar um legado do qual ela logo no início da narrativa admite não poder abrir mão.
Na brevíssima terceira e última parte do romance, a atenção subitamente se volta para a mãe de Cuandu, figura que tivera presença apenas marginal até então. Diante da opressão que vivia por parte do marido, da vida de empregada doméstica, das infindáveis tarefas e objetos, “encontrou para si um lugar fora da morte e também fora da vida”. O desaparecimento da mãe, sua escolha por um lugar “fora da vida e fora da morte” propicia a escolha da própria Cuandu pela vida – vida carregada, como admite a própria narradora, por peso e por “um sentido de desmundo, onde tudo se quebra e nada se abre”, mas vida; sua escolha é pela vida. Podemos arriscar dizer que, no esvanecer-se da mãe, Cuandu reencontra o rio do qual “qualquer-de-suas-ancestras” se desviara o terreno lodoso das “casas de família” – talvez, indo mais longe, possamos imaginar que a própria mãe, qual orixá, se torne ela mesma esse rio que é a própria narrativa. Cuandu pode fazer suas as palavras de um poema tradicional iorubano incluído em versão inglesa na antologia Poems of Black Africa, organizada por Soyinka:
Lentamente a poça lodosa se torna um rio.
Lentamente a doença de minha mãe se torna sua morte.
Quando a madeira quebra, pode ser consertada.
Mas o marfim se quebra para sempre.
Um ovo cai para revelar um segredo embaraçoso.
Minha mãe se foi e carregou consigo seu segredo.
Ela foi longe—
Em vão procuramos por ela.
Mas quando vir o antílope a caminho do rio—mantenha suas flechas na aljava,
e deixe os mortos partirem em paz.1
E é uma grande ocorrência quando uma poça lodosa se torna um rio.
III
“Estamos falando da história do Brasil a partir de outro lugar, que não é o do conforto ou do privilégio. E as pessoas querem ler essa história do Brasil”, disse a autora de Louças de família em uma entrevista. Há diferenças marcantes entre as obras das escritoras aqui discutidas, em termos de estilo, temática e referências. Há mesmo – podemos dizer – diferenças entre os Brasis de que ambas falam. O objetivo deste artigo não foi apagar tais diferenças ou achatar as duas obras em uma categoria única, mas propor algumas chaves de leitura que as permitam dialogar, sugerindo um caminho apontado por ambas que seja de fato outro, um outro Brasil, pouco conhecido, “mas que é muito antigo”.
Os dois romances aqui discutidos me parecem, de fato, abrir novos caminhos para a literatura no Brasil, novas formas de animar as geografias e histórias do País e a linguagem que as fundam e infundem. Sua premiação em conjunto oferece uma ótima oportunidade para que se amplie essa leitura, e minhas reflexões não buscam mais que apontar timidamente uma dessas possibilidades. Terá cumprido seu objetivo se estimular tantas outras.


Adriano Moraes Migliavacca é doutor em Letras pela UFRGS, tradutor e poeta.
–
Notas
- Slowly the muddy pool becomes a river. / Slowly my mother’s illness becomes her death. / When wood breaks, it can be mended. / But ivory breaks for ever. / An egg falls to reveal a messy secret. / My mother went and carried her secret along. / She has gone far— / We look for her in vain. / But when you see the kob antelope on the way to the river—leave your arrows in the quiver, / and let the dead depart in peace.
↩︎




