O suicídio é a questão essencial da vida?, indagam Georges Minois, Andrew Solomon e Albert Camus
……….
por Flávio Ricardo Vassoler e Ademar Costa Filho
………..
As obras História do suicídio: A sociedade ocidental diante da morte voluntária (Editora Unesp, tradução de Fernando Santos), do historiador francês Georges Minois (1946 – ), e Um crime da solidão (Companhia das Letras, tradução de Berilo Vargas), do escritor norte-americano Andrew Solomon (1963 – ), nos apresentam a agonia polissêmica que, ao longo da história, vem fazendo com que as pessoas se suicidem por razões que vão de encruzilhadas políticas e econômicas a lancinantes conflitos pessoais, tendo sempre o sofrimento irredimível como denominador comum.
Assim, Minois nos informa que,
………………

“desde a mais remota Antiguidade até os dias de hoje, homens e mulheres escolheram a morte. Essa opção nunca foi vista com indiferença. Aclamada em raras circunstâncias como um ato de heroísmo [pensemos nos kamikazes que, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), combatiam os inimigos entregando a própria vida em holocausto para a vitória do Japão], ela foi, na maioria das vezes, objeto de reprovação social. Isso porque o suicídio é considerado ao mesmo tempo uma ofensa a Deus, que nos deu a vida, e à sociedade, que provê o bem-estar de seus membros. (…) Aqueles que fogem são punidos com rigor, por um lado, no além [com as punições infernais], e, por outro, em seu cadáver [os suicidas não tinham direito a funeral e seus corpos eram lacerados e lançados em valas comuns]. Essa postura predomina de forma absoluta e sem contestação na Europa até o fim da Idade Média”.
……………
No século XVIII, novos motivos de suicídio se propagam no seio da elite culta ligada ao movimento filosófico do Iluminismo, que, segundo Minois, “tende a justificar a morte voluntária fazendo referência a uma doutrina, em geral o epicurismo. Trata-se de apresentar a própria morte como resultado de um raciocínio coerente: a recusa da vida a partir do momento em que ela nos traz mais sofrimentos do que alegrias”.
Esse foi o motivo pelo qual a mãe de Andrew Solomon, diagnosticada com câncer de ovário em meados de 1989, resolveu cometer suicídio após ter tentado todos os tratamentos disponíveis. Diante do marido Howard e dos filhos Andrew e David, Carolyn Solomon, aos 58 anos, optou pela eutanásia, à revelia da lei e da Justiça que vendavam os olhos para o indivíduo que assiste ao próprio naufrágio. Após ingerir quarenta comprimidos de Seconal, um sedativo/anestésico à base de secobarbital, Carolyn aproveitou seus últimos 45 minutos de vida para se despedir de seus entes amados: “Vocês [Andrew e David] foram as crianças mais amadas. Eu queria embrulhá?los no meu amor, protegê?los de todas as coisas terríveis que há no mundo. Queria que o meu amor fizesse do mundo um lugar feliz e seguro para vocês”.
Em seguida, Carolyn se volta para o marido e pai de seus filhos: “Howard, há trinta anos você tem sido a minha vida”. A voz da mãe de Solomon vai ficando onírica e entorpecida, mas ela ainda tem tempo de balbuciar: “Estou triste por ir embora. Mas, mesmo com esta morte, eu não trocaria minha vida por nenhuma outra no mundo. Amei plenamente, tenho sido amada plenamente e me diverti muito”.
Solomon, que já vira um grande amigo se suicidar e que descera aos mais baixos círculos da agonia suicida por causa da depressão, sentencia que “ninguém que tenha conhecido uma pessoa que se matou consegue se livrar do fardo da culpa. O suicídio é o fracasso de mil chances de ajuda, da capacidade coletiva de salvar aquele que morreu”. A eutanásia de Carolyn em face do câncer torna a culpa de Solomon ainda mais ambivalente: por um lado, esgotadas todas as possibilidades de tratamento, o filho se vê completamente impotente diante da decrepitude da mãe; por outro, é essa mesma impotência que o exaspera em face do sofrimento atroz e sem sentido da pessoa que o deu à luz.
…………..

…………
Os sofrimentos e injustiças históricos e pessoais – em tempos de crise político-econômica, tais esferas se entrelaçam a ponto de o indivíduo sentir, sobre os ombros, o fardo de sua época – fizeram com que uma série de autores da tradição artístico-filosófica indagasse se a vida, desprovida de sentido transcendental após os questionamentos radicais em relação à existência de Deus e à eternidade da alma, conseguiria resistir ao pendor do suicídio. É assim que Minois cita o escritor francês de origem argelina Albert Camus (1913-1960), cujo ensaio O mito de Sísifo (1942) irrompe com a seguinte angústia: “Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Concluir que a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da Filosofia”.
…….
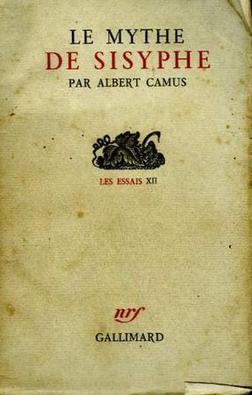
…………
Em de fevereiro de 2019, manchetes dialogaram com a exasperação existencial de Albert Camus: Homem de 27 anos quer processar os pais por ter nascido sem o seu consentimento.
Aparentemente despropositada, a contraposição do jovem Raphael Samuel, de 27 anos, à vida e aos mediadores de sua vinda a este mundo, seus pais, toca raias profundíssimas da tradição do niilismo – raias que remontam ao Livro de Jó.
Os sofrimentos excruciantes de Jó, temente a Deus, marido fiel, pai consciencioso e patrão escrupuloso, são frutos da disputa entre o Criador e Satanás, que desafiara Deus: “Se eu tentar o Teu cordeiro Jó, ele cairá em tentação e amaldiçoará o Teu nome”. Qual um deus grego demasiado humano, a divindade do Velho Testamento faz despencar sobre Jó toda uma torrente de choro e ranger de dentes. É quando a personagem bíblica, do cume de suas agruras, assim sentencia: “Que seja maldito o dia em que nasci, o momento em que fui concebido. Que nem sequer Deus o recorde, que fique mergulhado nas trevas eternas”. Quando recorre ao sumo paradoxo para extirpar da onisciência de Deus a memória de seu nascimento, encontramos Jó no mais profundo círculo dantesco de seu sofrimento.
Não à toa, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860), cujo pessimismo prenuncia a demanda jurídica do jovem indiano Raphael Samuel, chegou a sentenciar, em O mundo como vontade e representação (1819), que o maior ato de caridade do Criador que, para o filósofo, não existe teria sido permitir que o nada, desde sempre e para sempre, pairasse sobre a face do abismo – para retomarmos a expressão lúgubre e poética do Livro de Gênesis. Dado o enorme sofrimento que, para Schopenhauer, é o grande senhor sádico de nossas vidas, jamais ter existido – jamais ter derramado sequer a primeira lágrima – teria sido o ato mais divino de um Deus teopófago para quem, sem a criação, só restaria devorar a Si mesmo.
…………….
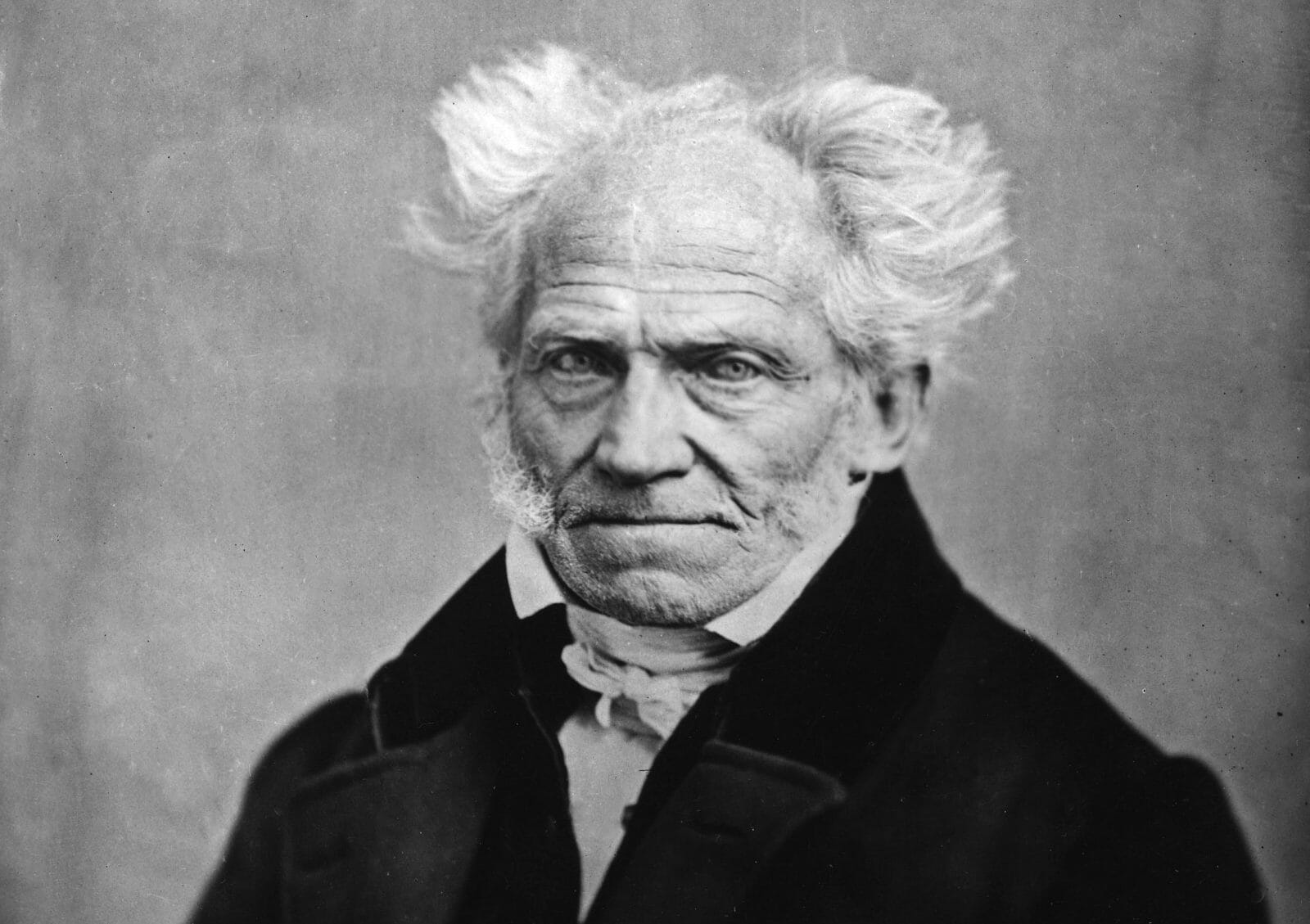
…………..
O filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) não era biófobo como Schopenhauer. Ainda assim, Nietzsche sentencia, em um aforismo tão célebre quanto vertiginoso de Além do bem e do mal (1886), que, em noites de profunda agonia – noites que plasmam o choro e o ranger de dentes de Jó –, o pensamento do suicídio é um forte consolo. Notemos que Nietzsche não se volta, necessariamente, para a consumação do suicídio, mas entrevê, com sumo alívio, a sua possibilidade como a cura definitiva para todos os males.
………..
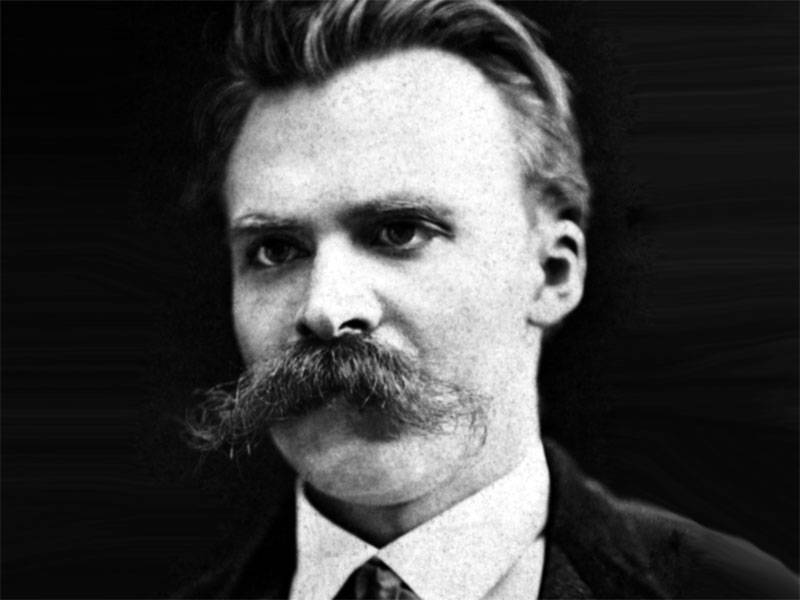
…….
Seria possível dizer que Ivan Karamázov, personagem do romance Os irmãos Karamázov (1880), do russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), faria uma leitura entre cínica e pragmática das agruras de Jó e do niilismo de Schopenhauer e Nietzsche. Para Ivan, se a pessoa é jovem e vigorosa, a vida ainda se lhe apresenta com um ímpeto hedonista que pode superar a dor do mundo. Mas, prossegue Ivan, quando a decrepitude começa a se impor; quando a vida-para-a-morte escancara sua face de Medusa, o suicídio se transforma em um imperativo categórico, como concluiu a mãe de Solomon.
Sem a mediação do pedagogo francês Allan Kardec (1804-1869), codificador da doutrina espírita, e de um médium como o mineiro Francisco Xavier (1910-2002), os pais de Raphael Samuel não teriam como indagar o potencial espírito ou o feto para saber se o filho gostaria de ter nascido ou não. É como se, diante da impossibilidade de afrontar o Criador por ter criado um mundo repleto de sofrimento, Samuel quisesse aviltar seus únicos e tangíveis criadores.
Contra o niilismo de Raphael Samuel, porém, desponta uma fala singela de uma das personagens mais líricas do diretor dinamarquês Lars von Trier (1956 – ), a mãe que a cantora e atriz islandesa Björk (1965 – ) incorporou no filme Dançando no escuro (2000): a proletária Selma sabia que, se tivesse um filho, ela cedo ou tarde o condenaria a contrair a mesma doença congênita que logo lhe ceifaria a visão. Ainda assim, Selma insistiu em se contrapor à condenação da cegueira para estender a seu filho Gene – o nome com que Von Trier o batiza é tão implacável quanto sádico – a dádiva (duvidosa?) da vida. “Eu só queria embalar um bebê em meus braços”, afirma Selma com o amor de quem acredita – e não mais do que acredita… – que a beleza salvará o mundo.
………….

………….

………..
Flávio Ricardo Vassoler, escritor e professor, é doutor em Letras pela USP, com pós-doutorado em Literatura Russa pela Northwestern University (EUA). É autor de O evangelho segundo talião (nVersos, 2013), Tiro de misericórdia (nVersos, 2014), Dostoiévski e a dialética: Fetichismo da forma, utopia como conteúdo (Hedra, 2018) e Diário de um escritor na Rússia (Hedra, 2019). Escreve, periodicamente, para o caderno “Aliás”, do jornal O Estado de S. Paulo, para o caderno “Ilustríssima”, do jornal Folha de S.Paulo, e para as revistas Veja e Carta Capital.
……………..



