O bonsai
por Juliana Amato
…..
Vi o bonsai na janela do vizinho, no prédio ao lado, lembrei do gerânio de Flannery O’Connor, pensei se a ideia para o conto lhe surgiu quando a autora também foi flagrada por um gerânio no parapeito do vizinho da frente. Ou se foi quando ela própria colocou seu gerânio no parapeito. Talvez tenha visto um gerânio qualquer, plantado no solo, e pensado como seria ele numa outra circunstância, num vaso, numa janela — ou seja, ao ver a planta no parapeito, em vez de pensar que poderia cair, Flannery pensou que em algum lugar do mundo, mais precisamente em Nova York, havia um velho que passava os dias observando o vaso na janela oposta, lembrando de sua vida anterior, em que gerânios cresciam em canteiros e as pessoas nos campos, e não confinados em vasos, em apartamentos.
…
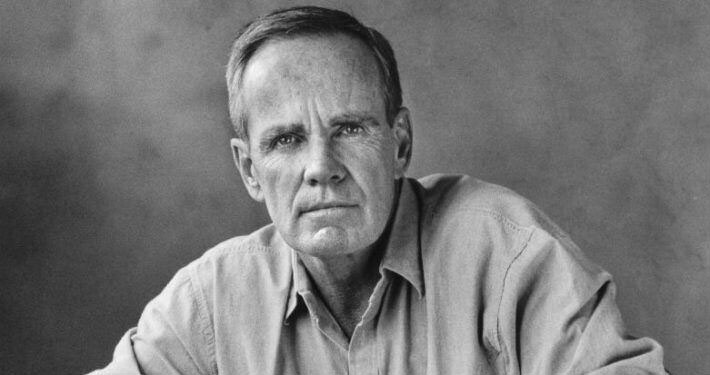
…
Flannery O’Connor nomeou esse senhor, deu-lhe uma casa e um passado, deu-lhe um enredo, enquanto noutro espaço e noutro tempo estaquei e apenas pensei na queda do conjunto, bonsai e vaso, com um vento que pudesse bater, uma chuva que pudesse chegar — é março. Eis a nossa diferença, minha com Flannery, mas pensei nela, pensei no que ela pensou, e nisso deve haver alguma semelhança.
Quanto tempo o gerânio viveu em Flannery até viver em seu conto? O meu bonsai ainda vive, e penso que se ele não cair da janela eu poderia muito bem escrever um conto a partir de sua existência. Dia após dia ele me dá uma nova chance: ao passar distraída na janela do quarto lateral, viro a cabeça e o encontro ali em perigo. Gostaria de ver o dono colocando-o no parapeito, então teria tempo de gritar que não fizesse isso, mas aí não seria literatura. Tento pensar na história que pode haver naquela mini-árvore, numa janela do décimo segundo andar do Centro de São Paulo, em 2020.
Ou na história daquele que o observa: quem é, o que pensa, como o bonsai afeta a sua existência. Já me acostumei com a vida no centro da cidade e por isso é difícil imaginar o velho Dudley, mas aposto que ele ficaria ainda mais chocado com a existência de um bonsai num vaso, “como é que conseguiram fazer uma árvore tão pequena? Ah, vocês, a cidade”, pois não deve haver muitos bonsais na Geórgia de algumas décadas atrás e o velho Dudley, pude conhecê-lo bem, veria-os como uma extravagância, uma invenção sem qualquer propósito.
Tampouco conheço alguém para recordar enquanto olho o vaso, alguém que o vaso me lembre, como o velho Dudley lembrava do garoto Grisby, que teve pólio e era posto para pegar sol todas as manhãs, como o gerânio, como o bonsai. Mas não devo desistir da minha ficção… com algum esforço há de ser possível erguer, logo de saída, um personagem que observa o bonsai, a razão por que o observa, as emoções e lembranças que o bonsai lhe despertam, seu passado, seu presente, algum conflito entre passado e presente, o encontro de ambos. Deve ter sido assim com Flannery e o velho Dudley, mas é preciso esquecer o velho Dudley agora e lembrar que estou em outro tempo, outro espaço, que não sou Flannery O’Connor.
….

…
Ouvi dizer que bonsais são plantas extremamente difíceis de cuidar. Deve ser por seu tamanho peculiar, sua estrutura minúscula e monumental que não permite nenhum tipo de excesso — uma gota de água a mais, quinze minutos a mais de sol e adeus, bonsai. Faria mais sentido que tal estrutura, árvore urbana, que enfeita sem ocupar espaço ou fazer sujeira — regra número um da vida nos apartamentos — pudesse resistir a tudo. É uma árvore que resiste a estar confinada num vaso de trinta por trinta, quando muito, ela sobreviverá sem manual de instruções.
Nunca saberei, nunca terei um bonsai. Vejo-o exposto ali e gostaria que fosse uma árvore alta, que o solo ao seu redor se espraiasse e eu deitasse em sua sombra, livrando-me das paredes e respirando o ar aberto do campo, como Flannery respirou grande parte de sua vida e como o velho Dudley respirara antes de ir morar no apartamento da filha.
…

….
Nenhuma ficção se aproxima. Quem sabe um dia farei o caminho contrário do velho Dudley, saindo do confinamento para a amplidão? Gostaria de fazer isso por ele: sair da cidade imunda e respirar nos campos. Hoje, sequer posso tomar uma avenida e seguir até o fim, ou tomar vários trens seguidos ou subir nas pontes. Há um vírus nas ruas e nos foi exigido que permanecêssemos em casa. O velho Dudley — velho — estaria no grupo de risco e seria ainda mais proibido de sair do que os outros. Fico pensando se ele iria ignorar a orientação, obedecê-la (e passar semanas tentando “estar nalgum lugar onde não houvesse alguém mais”), ou se seria esse o auge de sua impaciência e ele pegaria o primeiro trem de volta a sua pensão, para pescar em paz com o amigo Rabie, abandonando a filha e sua obrigação de ser boa.
A única coisa que penso enquanto observo o bonsai é que ele vai cair e isso tem tirado o meu sono, pois preciso conseguir pensar em outra coisa. Deve haver alguma história esperando por mim, algum personagem sem nome ou sem passado a que eu possa me agarrar para escrever o meu Gerânio. Sei que ali vive uma garota de uns vinte e poucos anos, mas o que pode haver de interessante entre uma garota de vinte e poucos anos e uma planta? Se houvesse, Flannery teria escrito sobre a filha de Dudley, não sobre o senhor. Talvez seja melhor partir do observador — Flannery falou do velho Dudley, que vigiava o gerânio diariamente e pensava. O dono da planta aparece só no fim, então posso dispensar a garota de vinte e poucos anos para o fim deste conto e pensar em alguém que observa aquele bonsai e por que.
…

…
Poderia tomar eu mesma o lugar desse observador, ser o personagem que procuro? Haveria qualquer coisa interessante sobre mim? Arrumo a cama todos os dias bem depois de acordar (disseram-me uma vez que era bom deixar circular um pouco o ar sobre os lençóis antes de cobri-los), no fim da manhã, e é nessa hora que vejo o gerânio — o bonsai. Às vezes fica ali pendurado até à noite, à mercê do mundo, e em algum momento quando não estou por perto é recolhido. Já disse que olho para ele e gostaria que fosse uma árvore imensa e que eu estivesse deitada sob a sua sombra, que nunca morei fora da cidade grande, que vivo em um período da história dominado por uma grande peste (todos leem Camus e 1984 e contam a todos o que estão lendo) e não consigo passar tanto tempo observando um único ponto até obter uma história.
……
Moro neste prédio há quase um ano, desde que me casei, e não somos muito sociáveis com os vizinhos. Meu vizinho de porta vive sozinho, tem um vira-lata enorme e obediente a quem chama de filho. Meus vizinhos da frente são um casal de meia-idade (sempre que os vejo imagino como seremos eu e meu marido na idade deles), filhos já criados, e que também tem um cachorro — que não chamam de filho, pois é um cão furioso. O outro apartamento do décimo segundo andar é ocupado por um casal de executivos que quase nunca vemos, eles colocaram identificação biométrica na porta de entrada e têm um gato que os recebe no capacho quando chegam. Aqui em casa não temos animais, só plantas. Gosto de cuidar delas. Mas não tenho um bonsai.
Pouco sei dos vizinhos dos outros andares. A modernidade urbana não interage muito. Certa vez entrei no elevador com uma menininha que vestia uma capa de chuva das princesas da Disney e perguntei se onde ela comprou aquela capa tinha do meu tamanho, porque eu amo as princesas. Ela respondeu que achava que não, mexendo a cabeça, e se enfiou entre as pernas da mãe. Outra vez, voltando de uma viagem com uma mala que vai quase até a minha cintura, brinquei com um menino que voltava da escola arrastando sua mochila do Capitão América, dizendo que aquela era a minha mala de escola. Ele riu e perguntou quantos livros tinham ali. Muitos, eu disse. Mas na verdade só tinham roupas.
Fora essas duas, não vi nenhuma criança por aqui — a modernidade urbana pensa muito antes de fazer crianças —, nem na piscina. Na piscina vi certa vez um senhor, que caminhava de um lado para o outro sem perder uma das mãos da parede — a outra segurava uma bengala. Ele é tão lento que o primeiro impulso de qualquer pessoa é ajudá-lo — “vai indo, vai indo, eu sou só um véio entrevado”, ele espanta, com a mão da parede, o prestativo interlocutor. Cinco passos lhe tomam muito tempo. Notei que, como o bonsai lá no alto, e como o gerânio, o senhor desce para apanhar sol diariamente com o seu jornal. Conversamos, ele disse que moro mais perto do céu do que ele, mas não lembro em que andar ele está — é claro que não prestei atenção. Também me contou que vivia no interior, mas hoje mora aqui, com a filha, e que o filho e o netinho moram num bairro um pouco mais distante. Ele gosta daqui, menos do barulho. Também lhe disse que não gosto do barulho — é um barulho constante, como um núcleo energético, um ruído vertical, desde muito cedo e sempre. Já morou em um lugar bem maior, mas veio ficar perto dos filhos. Não perguntei da esposa, com receio de uma resposta triste. A essa altura, sei que é ele o meu velho Dudley. Foi óbvio desde a primeira vez que o citei, foi uma luz. Assim como Dudley tentava convencer-se de que fora uma boa ideia ir morar na cidade, o meu velho insistia que este é um bairro bom. Parecia tentar convencer-se para não entrar em conflito com a filha ou comigo — ou consigo —, mas não acreditava muito naquilo, assim como não devia acreditar em bonsais, ou em como é possível viver num lugar tão pequeno. Talvez ele desça todos os dias para ficar um pouco só, ou para relembrar como eram as tardes de caça com o amigo Rabie. Mas o meu Dudley não pega nenhum gambá, sua caçada é farejar as estantes do mercadinho chinês na esquina, onde ele também faz a sua visita diária, o máximo raio que a filha lhe permite sair — o centro é muito perigoso.
…….
O velho também me faz lembrar a minha avó, vagarosa em seus passinhos do quarto para a sala. Ela não gosta de bonsais, gosta de orquídeas — tem algumas em casa e diz que dão tanto trabalho que, quando morrerem, não quer saber mais de plantas, nem das artificiais. Minha avó tem andado triste: são muitos remédios e a mão direita ainda não parou de formigar depois do ataque isquêmico transitório, o que a impede de cozinhar, de tricotar e de pensar em qualquer outra coisa que não seja a sua mão direita. Ela também desce no térreo do prédio diariamente para tomar o seu banho de sol, mas não sai do prédio sozinha pois estamos com medo do vírus, o mesmo vírus que já tivemos de explicar mais de cinquenta vezes que ela não contraiu.
…..
— Viu, filhá, fala pro seu marido que ele pode vir me visitar, que eu não peguei o vírus não!
— Vó! A senhora não está em casa por causa do vírus, e sim por causa do seu ataque isquêmico, lembra? As pessoas não estão vindo visitar a senhora para não passar o vírus para a senhora.
— Ah, é…
E de novo.
……
Surgiu um novo personagem neste conto (isto é um conto?) — a minha avó. Foi automático (não posso falar de idosos sem lembrar de minha avó), e agora preciso encontrar uma ligação entre o velho Dudley, da Flannery, o velho sem nome aqui do prédio e a minha avó. Eles não irão se conhecer ou interagir, não se unirão em conluio para roubar o bonsai do prédio vizinho. O bonsai, aliás, ficou lá esquecido depois que os três chegaram por aqui.
O bonsai de minha avó, pensando bem, não são as orquídeas, mas a televisão. Depois que ela levanta, toma banho e troca de roupa, é colocada no sofá, na frente da televisão, de onde faz exercícios de fisioterapia para as mãos. Então almoça e senta no sofá mais uma vez. Aí, quando faz tempo bom, sai para o sol. E volta para o sofá. Quando tem visitas em casa, gosta de contar coisas sobre a sua mãe, sobre seu primeiro namorado (mas naquela época não era que nem hoje!) e sobre como conheceu o meu avô. Então é só sobre o meu avô, que morreu e largou ela sozinha aqui. Nessa hora ela se emociona (já faz sete anos, mas parece que foi ontem, diz), e fico em silêncio e seguro o choro pois já experimentei dizer todas as coisas. Quando me preparo para ir embora, beijo-a de longe, e vê-la no canto do sofá enorme, olhando pra mim, o fim da tarde lá fora — sempre me comove no limiar da porta.
Certa tarde, durante a visita, reparei que na casa à frente do prédio de minha avó havia uma senhora sentada atrás de um janelão comprido. Ela não tem o braço direito e é cuidada por seu neto, órfão de pai e de mãe. Seu gerânio é o prédio todo de minha avó, do chão até onde a vista alcança, um gerânio dinâmico: ela pode ver quando a dona Mirtes coloca o canário na varanda, para cantar para a rua, pode ver quando tem faxina no primeiro andar, pode ver também quando minha avó coloca as toalhas e lençóis para tomar ar. Toda vez que minha avó reclama da mão, ela logo se interrompe e diz que poderia ter sido pior, poderia ter ficado que nem a vizinha da casa da frente.
Faz tempo que não vejo o senhor do meu prédio. A filha deve ter vencido a sua teimosia, que insistia em manter os banhos de sol diários no térreo do prédio mesmo no início desses tempos fatais. A situação ainda não parecia tão extrema quando me ofereci, naquele tom de voz que presume a gravidade do assunto, para ir ao mercado para ele, caso precisasse de algo. Ele sorriu, abanou o ar: “muito obrigada, minha querida… mas até o mercadinho esse véio entrevado ainda consegue caminhar!”.
…..
Em uma vida que se desenrola normalmente o pai torna-se filho do filho. A filha do velho Dudley pensava em seu senso de dever, e obcecada por essa missão tirou o pai de seu quarto de pensão nos campos da Geórgia para colocá-lo no cubículo de concreto. A história do senhor do meu prédio parece semelhante, e certo dia minha mãe e meus tios convenceram meus avós a venderem aquela casa enorme para se acomodarem no pequeno apartamento dois quarteirões adiante, no mesmo prédio onde também moram outros membros da família. É mais fácil obter atendimento médico, comprar remédios, fazer exames — e eles não têm muito mais o que fazer, mesmo.
Nossos destinos serão observar gerânios ao sol e pensar na vida de antes — campos da Geórgia, interior de São Paulo, marido vivo, membros ágeis —, em como seria estar em qualquer lugar que não o que estamos, em como eram bons — por pior que fossem — os lugares por onde passamos. Qualquer um pensa assim depois de certa idade, e o pensamento some e volta. O bonsai do parapeito vizinho não é colocado ali há semanas; percebo, com dias de atraso, que o cômodo parece totalmente vazio. A cidade segue seu resguardo cada dia mais descuidado, e sem perceber passamos o outono em casa. Minha avó sempre diz que o outono é a estação em que os velhos morrem. Já passou — é fim de julho, já é inverno.
….

…..
….

