Junho fora do lugar (Parte 02)
por Bruno Cava
………………………..
Resenha de Vertigens de junho: os levantes de 2013 e a insistência de uma nova percepção, de Alexandre Fabiano Mendes. Rio de Janeiro, editora Autografia: 2018.
………………………….
Parte 01
……………………
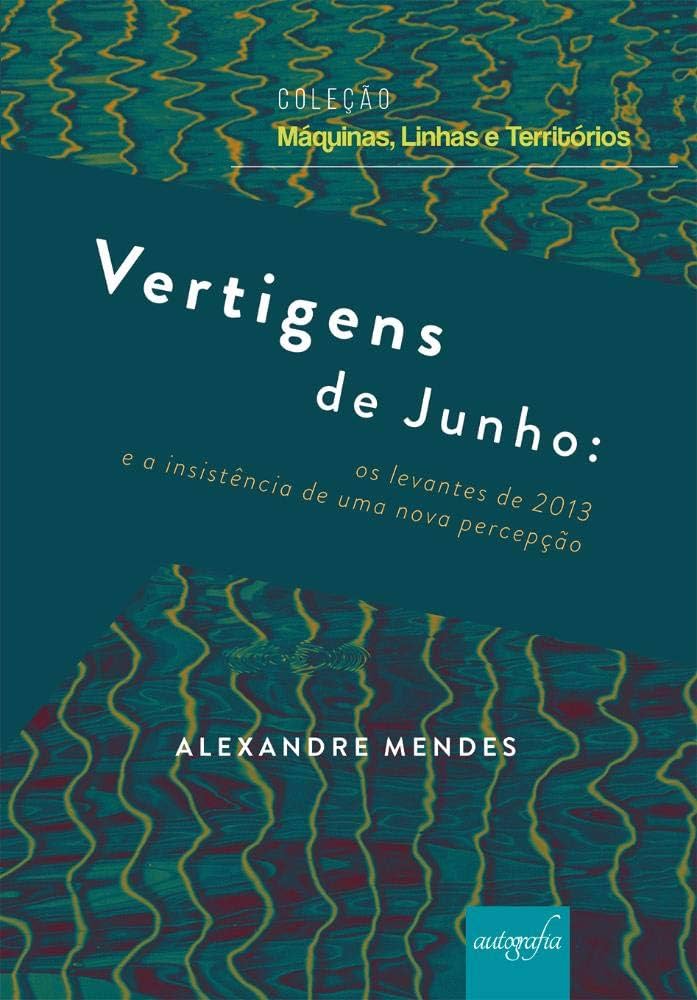
…………………………….
……………………
Narrativa contra a Estética
Noutro capítulo do livro, Alexandre Mendes descreve um panelaço na favela vizinha ao seu apartamento, então no bairro de Copacabana. A data é março de 2015. Depois da reeleição de Dilma, por uma pequena margem de votos, no segundo turno, os panelaços e manifestações de rua assinalavam que o dissenso continuava, inaugurando outro ciclo de protestos. Cada pronunciamento televisionado da presidente passou a ser recepcionado por um rechaço geral e ruidoso, que se exprimia por gritos e bateção de panelas. A partir daquele mês, as ruas também foram novamente ocupadas pela maré de indignação. Se, em Junho, as manifestações se concentravam nas áreas centrais do Rio de Janeiro, a nova temporada de mobilizações passou a tomar as ruas de Copacabana, cuja praia, bem servida de linhas de transporte coletivo, é um importante foco de reunião democrática da população aos domingos.
O autor, ele mesmo postado na fronteira entre dois mundos, surpreendeu-se com o vigor e a alegria do protesto na favela e contra Dilma. A surpresa decorria, em parte, do bombardeio midiático movido pelas fileiras do governo contra a população que exprimia seu descontentamento, com real capacidade de impor uma narrativa falsa. Como poderia ser que, na janela, ele presenciava a favela em agitação política, enquanto nas redes praticamente todos os seus contatos se manifestavam atribuindo os protestos à classe média coxinha? A tendência do progressismo organizado em falsificar a realidade estampada diante dos olhos de todos, nesse período, parecia ser internacional. Enquanto Hillary Clinton tachava metade da população dos Estados Unidos de balaio de deploráveis (basket of deplorables), no Brasil, o Partido dos Trabalhadores, com suas linhas oficiais e auxiliares, pagas ou ideologicamente gratuitas, orquestrou a grande operação reductio ad coxinha nas redes sociais. Tudo o que fosse oposição ao novo governo deveria ser atribuído à reação conservadora, uma onda inexistente de fascistas onde pessoas buscavam exprimir seu dissenso quanto à forma da gestão da coisa pública. Progressista era o governo, que a esquerda deveria defender por princípio, como uma obrigação moral diante das lideranças no poder. O resto era fascismo ou se não fosse, era pelo menos cúmplice. Segundo essa lógica, teríamos uma dívida histórica com Lula e Dilma, com a História da Democracia do Brasil. Mas os números nas manifestações anticorrupção e depois pró-impeachment eram cada vez mais imbatíveis, superando as passeatas das Diretas Já e mesmo as noites de plenitude drástica de Junho. Parecia ser impossível reduzir o milhão de pessoas em Copacabana ou os milhares de panelaços pelos bairros ao balaio de deploráveis brasileiro. Não é possível que um milhão de manifestantes fosse a elite branca que só se mobiliza pela manutenção de privilégios neoescravagistas. A matemática não fecha. Mesmo assim, contra a multidão nas ruas em 2015-16, os desconstruídos persistiram na narrativa da Casa Grande que se insurge contra a Senzala, até hoje. Desde o início, essa percepção não tinha como imperar fora dos convertidos.
Já não bastava a invisibilidade estrutural causada pela fábrica de racismo da partilha do sensível, impingida a pobres e negros nas dinâmicas de subjetivação em que se engajam. Na série ativista de 2015-16, a própria esquerda irresignada com a perda da hegemonia sobre as ruas passou a reforçar o embranquecimento das lutas anticorrupção, apagando-os deliberadamente do campo de percepção, como se quase nenhum lá houvesse. A rápida capitalização midiática de um militante do Movimento Brasil Livre como Fernando Holiday foi apenas um entre tantos exemplos de oportunidade no mercado da representação aberto pelo falseamento narrativo com que os “revolucionários” reagiram à indignação popular nas ruas e favelas. A rápida ascensão da direita alternativa, a chamada alt-right, foi a contraparte propositiva da crescente dissociação entre percepção e ação por parte da esquerda entrincheirada em suas redes sociais.
Os realinhamentos simbólicos ao longo do período que vai da reeleição, no segundo semestre de 2014, até a destituição, em agosto de 2016, envolveram uma releitura brutal do lulismo. Este passou por um processo de enriquecimento narrativo, dotando-o de contornos dramáticos de luta de classe. Ela chegou ao clímax redentor com o episódio do impeachment. Passando a borracha no passado recente, os seus protagonistas passaram a se representar como vanguarda de uma imaginária marcha da afirmação do povo diante dos preconceitos e conspirações das suas elites. O Brasil Cordial foi posto a nu na medida em que o opressor saía do armário, arreganhava os dentes de besta e expunha sua verdadeira cara — a de um fascista. A resistência, por sua vez, vestia vermelho e gritava a senha que lhe atestava o próprio heroísmo: “não vai ter golpe”, o que foi seguido de “fora Temer” e “Lula livre”, com a mesma função exclamativa de troca simbólica. Porém, à parte da sociologia de gibi e do gênero reaça-exploitation da programação contra o golpe, ainda que chancelada pelos mais autorizados catedráticos, as irrupções da multidão de 2015-16 provocaram um benfazejo curto-circuito nas discussões sérias sobre as dinâmicas de poder em ação durante o período da redemocratização.
…………………………..
Os descaminhos do lulismo
Ocorre que, na interpretação de quem primeiro conceitualizou o lulismo, ele sempre esteve fiado sobre o pobre de direita. Explico a circunvolução do caso. Para André Singer (“Os sentidos do lulismo”, 2012), o lulismo se engendra entre 2004 e 2006, quando ocorreu o deslocamento de uma grande massa da população brasileira em direção ao apoio eleitoral de Lula. A expansão dos níveis do salário e a massificação dos programas sociais pelo primeiro governo do PT atraíram a simpatia desse contingente vasto e heterogêneo de cidadãos, que jamais haviam sido diretamente contemplados por um governo. Por escolha consciente e estratégica, ainda que discreta, Lula redirecionou parte do orçamento público em favor dos mais pobres. Com isso, teria conseguido promover o encontro e incorporar uma massa de pessoas necessitadas ao seu projeto político, o que foi capaz de assegurar a sua reeleição em 2006 e apoio para além daquele ano.
Apoiado numa definição conceitual anterior, na década de 1980, André Singer chama de subproletariado essa parcela da população que, pela precarização e desagregação social, não pode ser enquadrada na imagem tradicional da classe trabalhadora. Essa massa amorfa e desorganizada — ou, em hegelês, “em si” em vez de “para si” — não teria consciência de sua posição enquanto agente histórico da mudança. Devido à fragilidade das estruturas sociais em que se apoia e na ausência de uma reserva de patrimônio para as crises, essa massa depauperada ficaria cronicamente suscetível à chantagem da desordem. Acuada com o risco da instabilidade, se afastaria de projetos políticos que lhe parecessem radicais ou extremistas. Noutras palavras, interessar-lhe-ia sobretudo uma ordenação mínima, pois é a primeira camada a ser afetada, inclusive quanto à segurança alimentar, nos períodos de crise econômica, tumulto social, insegurança pública ou inflação alta. Daí o subproletariado ser avesso a aventuras ou retóricas de ruptura, pois estaria estruturalmente propenso à demanda por ordem.
Segundo A. Singer, o subproletariado brasileiro é congenitamente conservador por razões históricas, que devem ser perscrutadas no longo amanhecer da formação nacional. A sua análise de classe é tributária da obra do historiador paulista Caio Prado Jr. (“Formação do Brasil contemporâneo”, “A revolução brasileira”), para quem as linhas estruturantes da herança colonial vêm sendo transmitidas e retransmitidas até a modernidade. Isto se dá por meio de um mecanismo perverso que repõe o atraso como condição da modernização periférica. Portanto, a conservação estrutural de uma larga fração populacional socialmente e produtivamente inorgânica. O dilema pradiano consiste no fato que a falta de organicidade de classe é ela própria funcional para o progresso dos setores mais dinâmicos e liberalizantes. Ocorre que a deflação salarial induzida pela ameaça permanente de desemprego impulsiona a taxa de lucro, num caso clássico de insegurança econômica ser funcional para o funcionamento do sistema como um todo. Com isso, mediante os efeitos lucrativos decorrentes da conservação de um setor atrasado e uma massa subempregada e sem perspectiva, o sistema do subdesenvolvimento mitiga a desvantagem comparativa em relação às economias centrais ou maduras. Ou seja, a preservação e reposição sistemáticas da desintegração social termina sendo peça-chave da modernização que liga o Brasil aos fluxos globais de capital. Singer reproduz a mesma teoria do subdesenvolvimento de Caio Prado Jr. ao tratar da economia política do lulismo, acertando o fuso horário da análise local das classes com a análise global do capitalismo.
Segundo essa lógica, o pacto entre Lula e o subproletariado estaria condenado a ser conservador, ou não existir. A sensação incontornável aqui é que Singer forjou um conceito ideológico, pois as condições de gênese do lulismo terminam por servir de justificativa para o caráter conservador do governo (Marcos Nobre, salvo engano, afirma algo parecido no apêndice de “Imobilismo em movimento”, 2013). Como se a modulação lulista funcionasse como o limite máximo permitido pela correlação estrutural das forças. Era isso ou nada, pegar ou largar. Conservador por formação histórica, outra maneira de naturalizar o conservadorismo nas raízes profundas de uma sociedade, o subproletariado deseja ordem e ordem, em idos dos anos 2000, significa a ordem neoliberal-biopolítica de que falam, descontadas as devidas diferenças e estilos, Oliveira e Arantes. A mudança camaleônica do Lula barbudo de 1989, para o Lulinha paz e amor da Carta aos Brasileiros de 2002 teria sido uma manobra estratégica necessária para contrabalançar a chantagem da desordem lançada pelos adversários, o que teria custado a Lula as três eleições anteriores. Disso decorre o projeto político explícito do governo Lula em evitar qualquer incisão mais direta na estrutura de classe, em assumir o programa de uma reforma lenta e gradual em que a agenda anticapitalista desaparece em curto ou longo prazo, e em prolongar o arcabouço macroeconômico do governo Cardoso.
Vamos por ora com Singer: a inserção econômica promovida pelo subproletariado, cada vez mais incluído nos circuitos de valorização do capitalismo, ressoa positivamente com o boom das commodities e propicia uma inédita ativação do mercado interno. Isso favoreceu a elevação do padrão de consumo dos mais pobres, turbinou o setor de serviços com a consequente geração de empregos (ainda que rotativos e de menor salário), alargou a arrecadação tributária e, portanto, a margem de manobra do orçamento sob a caneta do Executivo. Lula aproveitou a melhoria da correlação de forças, então, para retroalimentar o ciclo virtuoso de repasse dos rendimentos para o subproletariado, através de ganhos salariais consistentes e abertura de linhas de crédito popular. No embalo de uma ventania internacional favorável que perdura até 2008, o projeto lulista vai agregando cada vez mais apoios ao longo da década. Ao mesmo tempo, o presidente preocupa-se em exercer o papel arbitral de conciliador entre os vários interesses que cristalizavam na esfera federal, jogando para vários lados. Habilidoso, Lula consegue borrar contornos nítidos quanto ao viés ideológico, a fim de não comprometer o equilíbrio delicado entre as muitas forças econômicas e políticas de que o arranjo dependia no seu conjunto contraditório.
………………………………..
Onde o partido é forte, a luta é fraca
A leitura do papel do líder é francamente voluntarista. O pacto conservador do lulismo está calcado em uma agenda de longo prazo que, no frigir dos ovos, parece resultar da genialidade individual antecipadora do próprio Lula. Ele seria o responsável por tracionar as várias correntes a favor da paulatina encarnação do espírito brando e conciliatório. Seria ele também o timoneiro do governo na gradual formação da aliança com o subproletariado. Isso o próprio Singer admite, ao comparar a engenharia da relação entre o líder carismático e as massas inorgânicas do lulismo, na metade dos anos 2000; com o concerto entre Luís Bonaparte e o campesinato desorganizado, no período da restauração das jornadas de junho de 1848, na França. Assim como o sobrinho de Napoleão, Lula teria assumido o papel de enlaçar o seu projeto político a massas desorganizadas que, por essa natureza inorgânica, dependem de uma liderança para veicular e consolidar os seus interesses. Essa, ao menos, é a interpretação avançada por Singer do “18 de Brumário” (1851), de Karl Marx.
Assim como a restauração imperial na França do século XIX não tem conteúdo de classe, ao contrário, é fruto da desideologização dos conflitos durante os tumultos que se seguiram às jornadas de 1848; o pacto entre Lula e o subproletariado está calcado na despolitização, despolarização entre esquerda e direita e desmobilização do conflito de classe que animava a galáxia de novos movimentos ao redor do petismo, décadas antes. Em vez disso, o lulismo refletiria uma re-ideologização fraca e imprópria na forma populista de uma disputa entre pobres e ricos, o que favorece a substituição da análise da luta de classe por todo tipo de primarismo sociológico rotulador do que seria um substrato elitista ou popular. A repolarização decorrente se resolve nas eleições numa disputa de hegemonia entre aqueles que representariam os pobres (PT) ou a classe média (PSDB).
Em boa medida, o diagnóstico dos sentidos do lulismo converge com as interpretações de muitos críticos pela esquerda do governo Lula. É bem interessante a operação aparentemente conciliatória, que na verdade busca assimilar as oposições num painel mais ampliado que termina na mesma conclusão já mencionada do limite máximo de correlação de forças. Singer não deixa de concordar, numa dimensão relevante, com a crítica de que, desde o início, o projeto político de Lula consistia na desmobilização e despolarização. O que, evidentemente, envolve a acomodação de dissensos e a pacificação das possíveis rupturas, multiplicando instâncias negociais. Segundo essa linha de pensamento, o lulismo nunca teve caráter de classe ou anticapitalista, ao contrário, ele foi montado e acolhido como poderoso maquinário de assimilação dos conflitos no interior dos aparelhos e políticas de governo. Singer e os críticos à esquerda convergem, ainda, ao avaliar que o desejo do subproletariado não é de ruptura. No cenário desolado do capitalismo tardio, as massas desorganizadas tendem a aderir aos valores do consumismo e do espetáculo. Em consequência, nessa linha interpretativa, o padrão ampliado de consumo da classe média se torna baliza dos objetivos de inclusão almejados pelos mais pobres. O que resta para a repolarização do lulismo? Vencer a distância sociocultural, marcada pelo preconceito histórico, entre o subproletariado e a classe média.
O engenho da fome onívora de Singer é este: a mesma ambiguidade ou contradição que ele aponta no arranjo lulista poderia ser atribuída a ele mesmo, num episódio sugestivo de dialética objetiva na experiência intelectual. Às vezes parece ao leitor atento que estamos diante de mais uma crítica ao lulismo no extenso rol de descontentamentos à esquerda desde 2003, sobretudo quanto ao caráter conservador e aburguesante da política de inclusão pela via do consumo e do endividamento. Noutras vezes, a mesmíssima narrativa parece apresentar, como que por desencanto, o projeto político mais avançado possível dentro das coordenadas sociais e históricas em que se encontra o país na virada do século. As análises parecem se posicionar numa zona de indecisão em que não fica claro o que de diferente poderia ter sido feito, e onde que a história em pauta poderia ter sido substancialmente diferente do que foi.
De toda sorte, a ambiguidade se resolve na prática quando Singer passa a analisar o governo Dilma, nos textos e estudos depois compilados e revisados em seu “Lulismo em crise” (2018). Para o cientista político, primeiro nas disputas por hegemonia no interior das configurações complexas de poder do governo Lula, depois enquanto dirigente de seu próprio; Dilma representava a tendência de resolução das ambiguidades. Ao tentar eliminar as ambiguidades, trouxe a contradição do lulismo à tona e buscou resolvê-la através de um posicionamento mais rígido. As ações deliberadas de reposicionamento por parte de Dilma acabaram reduzindo o conflito que Lula havia conseguido subsumir, levando a uma repolarização noutros termos. Poder-se-ia dizer que Singer enxerga Dilma fazendo renascer a Política à esquerda, aguçando a polarização social e reideologizando a redemocratização na forma específica da luta por cima, entre coalizões produtivista e rentista. Nesse ponto de inflexão, toda a análise da anterior década lulista parece ser revista como um momento preparatório para o que seria a sua segunda fase. Nela, o espírito combativo originário, decerto redimensionado às circunstâncias, voltaria a assombrar as fileiras da esquerda no poder, o que não deixou de provocar a discreta simpatia de antigos apoiadores nostálgicos por Dilma. Para Singer, novamente na chave voluntarista de uma decisão e perfil pessoais da liderança, Dilma teve a audácia de dar um passo a mais na configuração de poder que herdou de Lula, mesmo contrariando os seus conselhos por prudência, para realizar o dito “ensaio desenvolvimentista”.
O arremedo neodesenvolvimentista consistia no seguinte: o governo acelerou a tendência intervencionista do governo Lula, por meio do alargamento do papel de gestor e direcionador de capitais do Estado, aumentando assim não só o grau quantitativo de injeção de recursos na economia, como também deliberando junto de seus principais parceiros, os campeões nacionais, pelas prioridades de longo prazo e as estratégias de internacionalização do processo. O objetivo foi redirecionar esforços empresariais que se julgavam dispersos e cada vez mais acomodados, para concentrar o investimento no setor produtivo nacional e gerador de empregos, inclusive na questão sensível do déficit em ciência e tecnologia do parque industrial pátrio. Os instrumentos de política do governo variavam desde uma avalanche de subsídios e isenções fiscais, até a generosa concessão de crédito público barato e praticamente sem critério, de longo prazo, além de ingerências diretas em setores estratégicos, como energia, petróleo e bancário. A intervenção do governo deveria ser tão mais enfática quanto piores os efeitos depressores da crise internacional do capitalismo em curso, indo na contramão da tendência global de contração. A imagem distante que servia como norte era o modelo dual chinês de socialismo de mercado e, mais em geral, o salto desenvolvimentista do capitalismo asiático, fortemente intervencionista. A vontade política e o planejamento centralizados no governo e seus parceiros, sob a mão firme da presidente, deveriam por assim dizer compensar a inércia impregnada na baixa expectativa geral do momento do capitalismo. Em bom português, o objetivo do Plano Dilma era pisar no acelerador do desenvolvimento para vencer a ladeira o mais rápido possível.
Tudo isso computado, se esperava que a longa escada do pacto conservador lulista, que gradualmente conduzia o subproletariado aos empregos mais bem pagos e mais estáveis, seria encurtada a uma velocidade rooseveltiana. O Brasil poderia voltar a formar uma classe média/trabalhadora forte em ritmo condizente ao desejo iridescente de inclusão do subproletariado, ânsia que uma vez acesa na década anterior, não poderia mais ser refreada. Evitar-se-ia, dessa maneira, a armadilha descrita por Tocqueville, segundo a qual um período de turbulência social não acontece quando os pobres suportam os efeitos de uma recessão, mas sim quando uma curva ascendente que os contempla é interrompida e eles se veem ameaçados de retornar a uma condição anterior que entendiam superada.
O que deu errado para Singer? A ideia era lógica e historicamente boa e o propósito da presidente elogiável. O primeiro problema foi que nem mesmo os empresários do setor produtivo nacional, pressupostos como principais beneficiários do redirecionamento produtivista do estado, bancaram a nova agenda a médio e longo prazo. Para Singer, mesmo sendo de seu interesse econômico participar da coalizão propugnada por Dilma, no final das contas esses empresários preferiram agir como classe (capitalista). O intervencionismo, de fato, priorizava os grandes produtores do país elevados à condição de campeão nacional, porém, os afetava na outra ponta, pois o ativismo estatal também significaria, em maior prazo, um incremento progressivo da renda salarial dos trabalhadores. Os empresários assim teriam seguido os seus instintos reacionários contra um eventual fortalecimento do poder de barganha dos empregados. Isto porque, segundo Singer, sentiram o cheiro de luta de classe nas diversas ações concatenadas do Plano Dilma. No futuro, o ativismo estatal pró-industrialização poderia até mesmo desencadear a estatização de setores econômicos inteiros e um aumento desmesurado da renda apropriada pelo salário, com inevitável compressão da taxa de lucro. A boa e velha solidariedade intercapitalista teria funcionado para reagrupar capitalistas fordista-produtivistas e financistas-rentistas, todos unidos contra um projeto político que deixou entrever as segundas intenções, sugerindo um (longínquo?) horizonte de classe inconfesso. Essa é a linha de explicação principal de Singer sobre o não engate do arremedo neodesenvolvimentista, em 2012-13: conservadorismo empresarial de fundo, conluio, sabotagem e afinal locaute do investimento, de que Dilma teria sido vítima apesar da visão de estadista.
A questão de classe que se coloca, e que não escapa a André Singer, consiste em saber para qual lado o subproletariado pendeu nesse momento decisivo? Iria se perfilar ao lado do lulismo na segunda fase acelerada por Dilma — com sua coragem pessoal em extravasar o conflito onde a esperteza política de Lula o havia sublimado — ou do lado da reação das coalizões empresariais? Ora, como o próprio Singer discute no livro anterior, a base social do governo Lula havia resultado do realinhamento com o subproletariado. Aquele encontro, desde o princípio, embutia uma agenda política de reformas graduais sob a ordem econômica de mercado e regulação neoliberal dos capitais. Enquanto o pacto lhe trouxesse ganhos reais e a inclusão social seguisse firme, não havia razão direta para realinhamentos. Ocorre que, à altura do Plano Dilma, a frenagem do crescimento econômico com distribuição de renda já se fazia sentir entre os elementos mais fragilizados, recém-incluídos. O sentimento tocquevilleano de risco de retorno à condição anterior, segundo Singer, aguçava os instintos por estabilidade e garantia da situação favorável conquistada na década anterior. Nesse cânon, o subproletariado não estava propenso a aventuras e os sinais emitidos pela nova presidente poderiam parecer-lhes incertos e inconsistentes. Em suma, somente com uma construção precisa de linha política coerente, divulgada por comunicação inequívoca, poderia predispor o subproletariado a embarcar num experimento que parecia derivar do projeto político a que havia aderido por interesse próprio. Isso não aconteceu. O desempenho do governo foi o inverso disso: planos com pouca coerência manifesta e comunicação tonitruante.
Ainda seguindo nos elementos de análise de Singer: outra possibilidade para o êxito da ambicionada Fase 2 do lulismo, seria que a massa subproletária se apresentasse na cena como portadora do sentido histórico. Os efeitos do lulismo já poderiam ter-se feito sentir, elevando o grau de integração social que pulsa no imaginário de formação nacional, desde pelo menos Caio Prado. A transição entre “em-si” e “para-si” estaria em andamento, de maneira que as ações da líder e do subproletariado entrariam em ciclo virtuoso, com o apoio social ao Plano e a conclusão do processo de autoconscientização de classe. Dentro dessa outra linha possível, a politização subproletária alteraria a correlação de forças e permitiria ao governo contrapor-se à frente capitalista que, sempre segundo Singer, sabotou o corajoso ensaio desenvolvimentista (as canetadas tresloucadas de Dilma). Portanto, toda a atenção teórico-política do esquema singeriano leva-nos a debruçarmos sobre esse momento climático de teste do lulismo. A pergunta que se impõe em toda linha de cogitação: qual será o comportamento do subproletariado quando defrontado com a oportunidade histórica? Comportar-se-ia ultimamente como classe atenta aos seus interesses estruturais, cumpriria a tarefa da aufhebung tornando-se “para-si”, autoconsciente de seu interesse superior, vindo assim a se incorporar ao chamado integrador vindo da liderança política? ou permaneceria silenciado na ante-sala da história, na condição de massa à espera da chegada das formas, seguiria desmobilizada, à deriva nas pulsões do consumo e da mídia, e dessarte norteado por valores que a colocam para gravitar ao redor do capital sociocultural da classe média subdesenvolvida, a essa altura inequívoca opositora ao governo tachado de nacional-populista?
Ainda que, no gatilho, as jornadas de 2013 se apoiaram numa constelação de grupelhos de esquerda autonomista e anarquistas; para Singer, isto não elide o fato que, logo depois, as manifestações e ocupações foram tomadas pelo crescente sentimento conservador que emanava de empresários de todas as escalas, camadas médias urbanas alinhadas ao PSDB e mesmo parte do inquieto subproletariado. Apesar das cândidas intenções de seus deflagradores, quando o movimento massificou, ele libertou-se das pautas de esquerda e assumiu seu caráter francamente conservador. O argumento repete a explicação de por que o lulismo teria de ser conservador: como a sociedade brasileira é conservadora (por culpa da herança colonial…), protestos sociais massivos também serão conservadores. Só não seriam se se espelhassem na Classe Trabalhadora Tradicional, essa sim!, fonte de organização e mobilização à esquerda. De todo modo, a multidão nas ruas teve por resultado prático alavancar e engrossar o coro anti-Dilma, preparando o terreno para o impeachment, três anos depois. Com as manifestações de 2013, as velhas elites capitalistas improdutivas sentadas sobre a lucratividade parasitária dos juros teriam enxergado e sabido aproveitar um campo para levar a sua reação ao plano da mobilização social. Rompido o consenso lulista de gestão despolarizada e despolitizada, a caixa de pandora vazava de protagonistas que trataram de repolitizar contra aquele consenso: rentistas, justicialistas, evangélicos, intervencionistas, pequeno-burgueses cafonas, direitas alternativas, ultraliberais e protofascistas, isto é, o espetáculo do cambalache à brasileira. Dilma não teria a chance de recuar à Fase 1 do lulismo em paz.
A resposta singeriana à hora do subproletariado é desalentadora: “As camadas populares não se mexeram para defender o lulismo — resultado lógico da despolitização e desmobilização a que foram submetidas” (p. 31). O autor lamenta que o vínculo do ensaio com o subproletariado jamais aconteceu. Se, anteriormente, Lula teve a habilidade bonapartista de cimentar o pacto entre o subproletariado e a sua agenda política pró-integração e inclusão, Dilma foi inábil para dirigir esse pacto a um novo patamar. Além de ter falhado na condução do lulismo, terminou comprometendo o pacto original que dotava o governo da correlação de força para usar a margem de verbas públicas. Singer lamenta ainda que, apesar da melhoria das condições de vida, o próprio subproletariado nem sequer esboçou a passagem para a situação de classe trabalhadora organizada, que no Brasil teria se formado durante o ciclo desenvolvimentista entre 1930-80. Com isso, o confronto desenhado pelo “ensaio desenvolvimentista” em acelerar o lulismo simplesmente não aconteceu e nem poderia acontecer. A reação conservadora comandada pela aliança intercapitalista desbaratou as condições políticas de sustentação do governo sem maiores percalços, levando à vitória do impeachment praticamente pela força de um teorema.
Contudo, nas leituras e releituras que fez de Junho, André Singer não pôde deixar de constatar que “algo” aconteceu: “algo nas entranhas da sociedade (…) algo que podia sair do controle (…) o problema é que nunca ficou claro que algo era esse” (p. 102). Explicitado o incontornável espanto diante da novidade, ele na sequência propõe a hipótese dos “algos” contraditórios, em meio à maionese de ideologias misturadas e classes entrecruzadas. Às vezes, a sua explicação dos desdobramentos de Junho resvala para a repisada dicotomia que, tendo iniciado com nobres e jovens propósitos militantes da esquerda autonomista e anarquista, essa nunca deixou de ser uma tendência minoritária e, no fundo, míope quanto aos efeitos que poderia desencadear naquela específica conjuntura histórica. Em pouco tempo, as bandeiras pretas cedem o passo às amarelas e os protestos de 2013 são hegemonizados pelas correntes e forças organizadas da direita que, àquela altura do embate sobre o arremedo neodesenvolvimentista, já buscavam se congregar para a reação política contra o governo. É sintomático como Singer aqui não desenvolva uma análise sobre a repressão de Junho e seus efeitos, nem sobre quais atores tomaram a decisão estratégica e ponderada de dela participar.
……………………..
A insistência do acontecimento
Pois bem. Para responder sobre o que era esse “algo” que iniludivelmente acontecera em junho de 2013, Alexandre Mendes dedica páginas valiosas para revisar as análises sobre o lulismo e apresentar outro ponto de vista. Levando adiante a sensação de enigma manifestada por Singer, a reprogramação da discussão por Alexandre implica reconhecer a nova percepção que ali emerge e insiste. O acontecimento é ocasião em que, instalando-se dentro de suas disposições perceptivas, chega o momento dos explicadores serem explicados.
O nosso autor recusa duas ciladas que consistiriam em converter Junho em fundamento histórico para o exercício do juízo. Duas maneiras de engessar a percepção em coordenadas históricas que terminam por pesar sobre nossas cabeças como réguas de ferro. A primeira cilada consiste em assumir o que aconteceu depois, no futuro, como tribunal para o julgamento do que veio antes. A consequência sobredetermina a causa. Essa operação não só elimina o que poderia ter sido diferente, fechando a explicação numa corrente de determinismo causal em que a realidade vai coincidir com a sua própria racionalidade eficiente; como também desativa os traços do acontecimento que ainda seguem operando, para que a diferença continue operativa no presente. O acontecimento é assim morto nas duas pontas, primeiro como matriz de possibilidades reais adormecidas, e segundo como imagem virtual (quase-causa) que pode cristalizar em percepções atuais incandescentes, mudando assim o curso pré-determinado das cadeias de causas e efeitos. A segunda cilada é congelar o acontecimento ele próprio numa imagem judicativa própria, que passa então a julgar o futuro como um metro que descarta ou anuncia a parúsia de sua repetição gloriosa. Nesta lógica, o acontecimento não só é morto, como é erigido um culto em louvor da morte do acontecimento, que passa a cantar-lhe na forma de um além-real salvacionista.
Alexandre assinala como a formulação da mecânica da luta de classe por Singer se dá por cima, guiada pela coalizão produtivista formada pela aliança entre o giro desenvolvimentista de Dilma e o interesse do alto empresariado nacional em internalizar centros decisórios sobre o investimento. Ao subproletariado caberia decodificar o seu interesse implícito de longa duração e aderir ao projeto político, mesmo que isto implicasse danos no curto prazo (inflação, instabilidade). O corolário do mecanicismo é que a vanguarda das classes na condição periférica será sempre a classe trabalhadora organizada tradicional, que deve conscientizar as frações inorgânicas e ajudá-las a organizarem-se à semelhança da organicidade da primeira. Na circunstância concreta histórica, o xis da equação singeriana consistiu, como vimos, em como a massa subproletária se comportaria diante dos embates desencadeados pela liderança política da presidente. Noutras palavras: para que lado pende o subproletariado?
Alexandre identifica e desentranha as contradições do lulismo, tal qual formulado por seu cientista político. Em primeiro lugar, o subproletariado é inorgânico, depende da ação virtuosa um sujeito político do alto; contudo, se depende da liderança bonapartista para acionar as alavancas do estado a seu favor, como poderia começar a agir autonomamente como classe e tomar a iniciativa ele próprio em travar o combate por baixo? O modo de funcionamento não incentivaria a dinâmica de classe a subordinar-se à dependência do líder por cima? Em segundo lugar, como o subproletariado existe apenas “em-si” e nunca “para-si” (autorrefletido), por que teria interesse em integrar um projeto eminentemente industrial e industrializante? Mais direto é o interesse no controle da inflação, que deve necessariamente deixar de ser prioridade num cenário de expansão fiscal e monetária. A solução singeriana confere à classe trabalhadora organizada, devidamente vertebrada pela estrutura sindical e partidária, a função de conscientizar os subproletários. Por meio de trabalho de base e comunicação militante, moldariam a massa à sua semelhança, esclarecendo-a quanto a seu verdadeiro interesse e papel enquanto fração do proletariado e agente histórico da mudança. Aqui, Alexandre não poderia se espantar mais. O autor de “Lulismo em crise” está afirmando nada menos nada mais que a sociedade continua conservadora porque os pobres são conservadores, enquanto classe que não assume o seu lugar histórico. O subproletariado não é somente a base do lulismo, como o principal obstáculo para qualquer agenda de emancipação. O projeto político de Lula, esse sim, soa como um trovão no céu azul. Somente poderia ter sido viabilizado nessas circunstâncias históricas desfavoráveis — herança colonial + avanço do neoliberalismo — graças ao gênio negocial, ao carisma interclassista e à intuição política do líder.
O problema, como constata Alexandre, é que o subproletariado está sendo construído como o negativo da classe trabalhadora tradicional. A sua antimatéria organizativa. A percepção fordista-keynesiana embutida nessa interpretação salta aos olhos, ao ponderarmos como a massa subproletária parece ser situada num atoleiro histórico de onde só pode sair com a mão companheira dos já conscientes, que vêm para salvá-los de sua prisão subconsciente. Nessa missão evangelista, o drama do militante de esquerda é enfrentar a sedução ideológica exercida pela sociedade de consumo e do espetáculo, que se infiltra continuamente na massa subproletária, aparelhando-a com os valores e os desejos pequeno-burgueses. Seria preciso desviar o olhar subproletário dos valores e padrões da classe média já integrada ao capitalismo contemporâneo, ao mesmo passo em que o subproletariado é integrado nesse mesmo mundo. A premissa metodológica dessas operações embute a perspectiva diacrônica que, primeiro, surge um substrato sociológico e, a seguir, num segundo momento ele é colocado em disputa pelas forças em cena, ora fazendo-o pender para a ideologia liberal da classe média, ora para a posição de classe encarnada simbolicamente pelas esquerdas militantes.
Simplificando muito: as análises de Singer e as demais leituras objetivantes do lulismo têm muita classe e pouca luta. A luta de classe termina sendo confundida como uma classe que luta, em vez de ser a luta que forma a classe em seu próprio processo subjetivo antagonista. Quer dizer, a constituição da classe no interior das lutas, sincronicamente ao horizonte de ações e desejos. A pesquisa da luta é simplesmente ignorada em prol das análises de uma política entendida como esfera autônoma. Quando a análise se debruça às classes, o faz de maneira subordinada aos pactos políticos e lideranças voluntaristas, ou reconduz as classes a categorias sociológicas que perdem de vista o movimento real de constituição. Há problemas de interpretação inclusive na recepção que Singer faz do Marx no “18 de Brumário”. Singer deixa de lado, por exemplo, que, em 1851, o diagnóstico da aliança entre Luís Bonaparte e a massa do campesinato desorganizado tem como premissa fundante a supressão da classe, que se deu por meio da violenta repressão das jornadas de junho. O massacre daquelas jornadas havia legado um vazio empírico na conjuntura de forças que, como uma potência noturna, continuou provocando efeitos na forma de sua ausência. Marx desenvolve nessa análise uma filosofia da história que determina diferentes alturas, entre a farsa e a tragédia, em função da ligação das conjunturas políticas com o estado geral da luta de classe. A complexa descrição da sucessão dos acontecimentos por Marx mantém uma segunda linha contrapontística, às costas do presente, com outra trajetória mais estrutural que define o significado maior dos eventos. É assim, filtrando os eventos pelo prisma de um precursor sombrio, que o filósofo alemão reconstrói a história dos vaivéns da ascensão e queda do Partido da Ordem, então formado como uma coalizão ecumênica de burgueses, aristocratas, liberais, intelectuais, republicanos, monarquistas, industriais, financistas, imprensa, reunidos pela solidariedade intercapitalista e o medo diante da possibilidade dos proletários retomarem o ânimo de 1848.
Como escrevi noutro lugar, “uma vez destruída por completo a insurreição, o monolítico bloco ad hoc da ordem se decompõe sucessivamente em facções concorrentes, os democratas, os republicanos radicais, os conservadores, que desabam uns após os outros numa implosão em ritmo constante, como uma dança das cadeiras em que a cada rodada decresce o número de concorrentes. O saldo final do esfacelamento do Partido da Ordem se resolve na caminhada triunfante até o centro da trama de Luís Bonaparte. Segundo Marx, o golpista toma o poder amparado por uma nova composição de forças baseada no lumpemproletariado da cidade e nas massas inorgânicas do campo fragmentado em pequenos lotes, um arranjo socialmente desestruturado a que o ditador confere um sentido conservador.” (“O 18 de brumário brasileiro”, 2017). Ou seja, se seguirmos a letra marxiana, quem conferiu objetivamente um sentido conservador ao desfecho do golpe de 1851 não foi o conservadorismo de fundo dos lúmpen- ou sub- proletários, mas a contrarrevolução, realizada à maestria pelo Partido da Ordem. Este suprimiu a força motriz da história, que não é classe em si nenhuma, mas a luta de classe, classe em processo de autoconstituição antagonista. Não importa que, do alto, houvesse diferentes coalizões e tipos de dirigentes com suas respectivas bandeiras, fraseologias e simbolismos, se todos eles compartilhavam da mesma ausência de ligação com a força que poderia subjetivar a abertura histórica, a única que poderia ter determinado um sentido diferente.
Quando no mesmo ensaio citado, descrevi a sucessão de causalidades que levaram ao impeachment de 2016, critiquei-o antes pelo estatuto dramático que lhe tentavam impingir, sejam os apoiadores, sejam os detratores. Tendo sido suprimida a força da mudança, cujo epônimo foi a tragédia de Junho de 2013, os protagonistas da cena nos anos seguintes passaram a se digladiar com barulho e fúria, mas era uma farsa. Fora da lógica do acontecimento, a altura histórica das conjunturas é rebaixada para a farsa. Encenava-se não uma reedição da luta entre povo e elites ou, com ainda menor razão, entre esquerda e direita, mas uma comédia ideológica (ainda que encenada com grandiosa seriedade). O que estava em jogo no impeachment de coalizão de 2016 não passava de uma rinha interna corporis entre facções partidárias, até pouco tempo atrás, aninhadas nas fileiras do mesmo Partido da Ordem. Na realidade, em última instância, a contenda se resumia à disputa por salvação entre a cabeça e o vice da mesmíssima chapa presidencial, diante de um sistema político que parecia ruir. Daí que, em vez das narrativas em tons épicos, recheadas de atos heroicos e gestos grandiloquentes, nas quais seus protagonistas tentavam se convencer estarem participando de um momento decisivo; com o Marx do “18 de Brumário”, não era caso de ser contra ou a favor do impeachment como não faz sentido ser a favor ou contra uma piada. Foi um episódio nacional rigorosamente ridículo de uma década com momentos bem mais altos.
Para ser justo com as antecipações teóricas, mesmo que tenham se cumprido por razões diferentes e caminhos outros do que os imaginados, a inviabilidade do lulismo para a luta de classe já estava vaticinada por intérpretes como Francisco de Oliveira ou Rui Braga. Desde o começo do primeiro mandato de Lula, enxergavam-no como um elaborado instrumento para a assimilação das indignações e pacificação dos antagonismos. O acolhimento do governo Lula no quadro do neoliberalismo dependia de sua capacidade de manter todos em compromisso com a ordem, que, segundo Singer, o subproletariado precondicionava à sua adesão ao projeto em primeiro lugar. Ora, como poderia um projeto político cimentado no compromisso com o amortecimento dos descontentes e a desmobilização diligente depender das próprias mobilizações que tão bem sabe desmobilizar, para dar um passo adiante? O passo adiante estaria frustrado ab initio, por força da estrutura primária de sustentação do arranjo político. Desse ponto de vista, na repressão de Junho de 2013, não é que a esquerda lulista não tenha compreendido Junho, por desatualização teórica sobre a literatura pós-estruturalista. Essa visão esposada pelos reformadores da esquerda pela saída da micropolítica, que Alexandre ironiza como da “angélica incompreensão”, é ela própria desinformada. O lulismo nasceu e se manteve exatamente com a missão de reprimir/cooptar/assimilar levantes como o ocorrido em junho de 2013. A brecha aberta durou o tempo necessário para a governamentalidade neoliberal-biopolítica ser capaz de ajustar-se às condições difusas de luta que o acontecimento indiciava. Então, na verdade, Dilma, Lula e a esquerda lulista entenderam muito bem o que significava Junho e, por isso mesmo, decidiram acabar com ele. Estavam na hora e no lugar certos para tal. A oportunidade histórica ímpar para transformer l’essai.
Então, voltando com o Alexandre de “Vertigens de junho”, aquele “algo” enigmático não pode ser entendido como um teste para o subproletariado, sobre se ele estaria em condições históricas de pender na direção do projeto político dilmista. Mas sim um teste do próprio lulismo diante da emergência inédita de classe nas lutas. E portanto, precisamos admitir que o lulismo passou no teste. A esquerda dilmista/lulista venceu no plano dos fatos. Suprimiu Junho, em nome da reposição ainda mais consensual da paz perpétua do neoliberalismo biopolítico (“Depois de junho a paz será total”, Arantes, 2014). Graças à vitória, reelegeu Dilma em outubro de 2014, quando se consumou o golpe em várias etapas contra Junho. Mas, como já estávamos na farsa, no âmbito de um Partido da Ordem despojado de ligação com o acontecimento, aquela foi uma vitória de Pirro. A crise política que se seguiu provocou sintomas mórbidos que significaram o sucessivo colapso de vários arranjos autossalvacionistas, a partir de 2015: a guinada com a nomeação de Levy, as manobras palacianas do impeachment, o período da tentativa de estabilização com Temer, até chegar no parto do mostrengo barroco, filho da cobra d´água com o jacaré, que é a atual lógica desconcertante de governo.
Seguindo a toada arantiana do diagnóstico do fim do fim, as coisas pioraram e portanto precisaríamos dar mais uma volta no nosso pessimismo de combate. Numa passagem ultracitada de sua entrevista a Claire Parnet (“O abecedário Deleuze”), o filósofo comenta como não existe governo de esquerda. É uma contradição em termos, pois ser de gauche, para Deleuze, implica derivar o corpo continuamente numa percepção que muda, enquanto o governo por definição é o modelo majoritário das percepções, com os seus mecanismos de reprodução e conservação do sensível. Depois de Junho, mesmo depois do estelionato eleitoral de 2015, as esquerdas lulistas/dilmistas seguiram se empenhando em dissociar-se da onda de revoltas que seguiu pela brecha aberta. Ao mesmo tempo em que dinamitavam pontes com as mobilizações reais, elas próprias se colocavam como fiadoras da tentativa impossível de reconstrução do consenso lulista. Esse esforço gigantesco de engajamento não passou do efeito simbólico, à moda de uma reordenação dos signos soltos em narrativas falsas. A já conhecida indústria de marketing eleitoral de fake news do governismo e a produção intelectual nas redes se tornaram indistinguíveis, sendo difícil até diferenciar entre robôs geradores de discurso, e militantes perfeitamente conscientes de estarem fabricando uma guerra cultural de símbolos, sob o argumento reconfortador da malícia dialética. Colocaram o seu tijolo particular para a subida do muro da restauração em relação à lógica do acontecimento, que seguiu por outras linhas mais flexíveis de subjetivação. Fica a inquietação preocupante. Seria o caso, no horizonte sem horizonte da pós-política, que não exista mais Política de esquerda? Que a cultura de esquerda tenha virado sinônimo de Polícia?
É neste ponto, mais uma vez, que Alexandre desvia das rotas existentes no mapa dos debates sobre Junho, ao falar em insistência de uma nova percepção. A paz não foi total depois de Junho, apesar da dificuldade em constelar movimentos tão díspares quanto as passeatas lavajatistas, as ocupações secundaristas, a greve dos caminhoneiros e correntes de Whatsapp que transbordaram das indústrias de fake news eleitorais. A supressão empírica de Junho não implicou o seu apagamento total. Formou-se uma imagem virtual, seguidamente reatualizada na medida em que forças da conjuntura se coloquem à altura e coalesçam com ela. Sempre em novos termos, por novos meios. O acontecimento mantém acesa a chama da abertura histórica sem, necessariamente, desdobrar-se em sujeitos e atores delineáveis pelas percepções atuais de conjuntura. O acontecimento persiste em sua incandescência inconjuntural, que tensiona as diversas cadeias de causalidades. Perseguir-lhe os traços e nuanças sem perder de vista os jogos de causa e efeito é o desafio de um pensamento que recusa a compulsão ao presente.……………….
……………………..
………………………

