Contingência, tempo e conhecimento
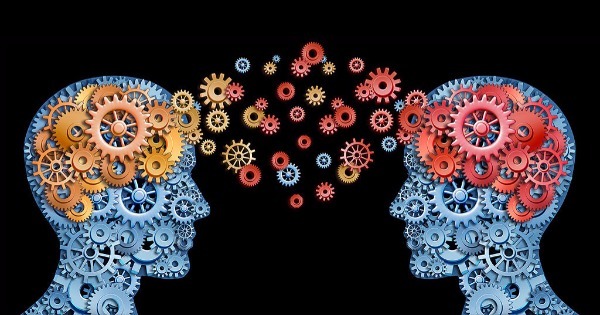
por Desidério Murcho
Imagine-se que alguém defendia que todo o conhecimento humano é ilusório, a menos que tenha por objecto um mundo imutável; por outras palavras, que o conhecimento da geometria pura, por exemplo, não é ilusório porque tem por objecto entidades imutáveis — triângulos e círculos abstractos no sentido platónico —, mas que o conhecimento das realidades quotidianas mais comezinhas, mas também da biologia e da física, ou da história e da arqueologia, não passa de ilusão precisamente devido à contingência dos seus objectos. Como reagiria o leitor a este desaforo?
Talvez pensasse que uma posição tão estranha só prova a desfaçatez da própria filosofia, que acaba assim por se tornar um importante obstáculo epistémico: um instrumento ao serviço do obscurantismo, que nega o conhecimento óbvio que temos na física e na arqueologia com palavreado de aspecto profundo. É uma pena que a filosofia seja tantas vezes vítima da falácia das más companhias, ao mesmo tempo que se tem correctamente a medicina científica em grande conta, distinguindo-a cuidadosamente de todas as tolices médicas que persistiram até ao século XX e que foram responsáveis pela morte de tantas pessoas. Em todas as áreas há tolices humanas valentes, e a filosofia não é aqui excepção; mas isso não prova seja o que for porque nada nos diz do melhor que os melhores filósofos fazem. Contudo, é um importante obstáculo epistémico se nenhuma contribuição positiva se der para explicar o erro e evitá-lo de futuro. Os erros são instrumentos poderosíssimos para o progresso da compreensão humana das coisas, se os usarmos para traçar diagnósticos que os expliquem e nos permitam evitá-los. E isso é precisamente o que se pretende fazer aqui.
É uma boa ideia começar por uma ponta onde grassa uma confusão que manifesta um antropocentrismo infelizmente entranhado e difícil de erradicar: o próprio conceito de conhecimento. Uma vez que os seres humanos não são omniscientes, é evidente que, em muitos casos em que consideram que sabem, afinal não sabem pois estão enganados. Esta banalidade é violada sempre que se confunde conhecimento com a convicção de que se conhece, para se defender então triunfalmente que o que antes era conhecimento depois deixou de sê-lo. Se basta pensar que se conhece para conhecer, então não se pode pensar erradamente que se conhece. E nesse caso não se consegue explicar o fenómeno banal de mudar de ideias: se basta pensar que se sabe para saber, a que propósito haveria alguém de mudar de ideias e dizer que afinal pensava que sabia, mas não sabia?
Porém, antes de explicar melhor o que é o conhecimento, e para tornar o discurso mais simples, é uma boa ideia explicar já o que se entende em filosofia por “crença”. Há várias atitudes cognitivas: crença, certeza, convicção, opinião, dúvida e tantas outras. Usa-se o termo “crença” em filosofia como a mais elementar, simples ou abrangente dessas atitudes; não se quer falar apenas das crenças religiosas, políticas ou outras, mas antes de toda e qualquer representação discursiva que alguém faz das coisas. Uma opinião, por exemplo, é uma crença com outros elementos — acredita-se que o Sol é feito de hélio, mas isso não conta geralmente como uma opinião. Algumas crenças são convicções muito fortes, outras são muito banais e estamos dispostos a abandoná-las facilmente na presença de informações mínimas que as refutem.
Uma característica crucial das crenças, e que será capital para compreender o conhecimento, é que não são por si factivas. O conceito de factividade é tomado de empréstimo da linguística: alguns verbos, como “ver”, são factivos, e outros não. Aquele verbo é factivo porque, se alguém realmente vê o seu amigo a atravessar a rua, o seu amigo está realmente a atravessar a rua. Caso se tenha enganado e não seja afinal o seu amigo, é óbvio que não o viu: apenas acreditou, erradamente, que o viu. A factividade aplica-se não apenas a verbos, mas também a advérbios, operadores de frases e conceitos. O conceito de crença, e o verbo “acreditar”, não é factivo: acreditar em algo não implica esse algo. Se a crença fosse factiva, seríamos omniscientes. Quando uma pessoa acredita que o Sol é feito de gemas de ovo — ou que é uma entidade sobrenatural, como acreditavam os gregos e os egípcios da antiguidade —, isso não implica que é realmente feito de gemas de ovo, porque a pessoa talvez esteja enganada. Mas quando uma pessoa realmente vê a hortaliça a cantar o fado, a hortaliça está realmente a cantar o fado — a menos que a pessoa se tenha enganado quando pensa que viu tal coisa, e afinal não a tenha visto.
Um das diferenças cruciais entre o conhecimento e a mera crença é precisamente que o primeiro é factivo e a segunda não. E é a factividade do conhecimento um dos elementos que provoca confusões. Dizer que o conhecimento é factivo não é evidentemente dizer que sempre que alguém acredita que sabe, o sabe realmente. Pelo contrário: é precisamente porque há uma marcada diferença entre saber realmente e acreditar que se sabe que o conhecimento é factivo. Veja-se como é perfeitamente razoável dizer a alguém “Acreditas que sabes que o Sol é feito de gemas de ovo, mas de facto não sabes”; e compare-se com a tolice que seria dizer “Acreditas que o Sol é feito de gemas de ovo, mas de facto não acreditas”. Não é comum não acreditar numa coisa e pensar erradamente que se acredita (há casos bizarros desses, mas não são comuns), mas é corriqueiro não saber algo que se acredita saber.
Um segundo factor de confusão é a qualidade interna da força da crença, que é quase sistematicamente tomada como prova de conhecimento. Isto é falso. As convicções mais fortes revelam-se muitas vezes falsas, e nas áreas onde a triste irracionalidade humana mais se manifesta — religião e política — há o vício epistémico comum de cultivar a convicção mais profunda na presença das provas mais superficiais, ou até sem quaisquer provas minimamente adequadas. É preciso compreender que não há marcas na qualidade interna das crenças que provem inequivocamente a sua verdade: por mais que uma pessoa sinta certeza ou forte convicção ou algo assim, isso é compatível com a falsidade da crença. Não há maneiras puramente internas e, sobretudo, estáticas de os seres humanos se aproximarem da verdade. As únicas vias que levam a mais acertos e a menos erros são dinâmicas: desenvolvem-se ao longo do tempo e consistem em coligir e examinar cuidadosa e sistematicamente provas e raciocínios, procurar mais dados, expor as crenças cuidadosamente formadas às críticas mais severas, e fazer continuamente uma triangulação entre os diversos dados dos sentidos, os raciocínios cuidadosos e outras crenças previamente aceites como provavelmente verdadeiras. Estes processos dinâmicos permitem rever crenças, fortalecer algumas e abandonar ou enfraquecer outras. Os seres humanos não são almas do mundo atemporal platónico, em contemplação estática de verdades eternas, mas antes organismos temporais que recolhem informação e raciocinam num mundo espácio-temporal.
O conhecimento não é mera crença, porque esta não é factiva e aquele é; sem crença verdadeira, não há conhecimento. Isto introduz uma nova fonte de confusão: o conceito de verdade. O erro comum é confundir a verdade com a crença de que é verdadeiro — o que uma vez mais é incompatível com a falibilidade humana. Se fosse realmente verdadeiro tudo o que se acredita que é verdadeiro, não seríamos falíveis. Crer que é verdadeiro é muito diferente de ser verdadeiro. E, do mesmo modo que não há qualquer aspecto na qualidade interna das crenças que garanta a sua verdade, também nada há na qualidade apreendida das frases que revele inequivocamente se são verdadeiras ou falsas: por mais que uma frase pareça verdadeira, não só não é isso que é responsável pela sua verdade, como é completamente irrelevante para a sua verdade. A frase “É o flogisto que explica o fogo”, por mais que tenha parecido verdadeira a muitos cientistas, é falsa se não existir flogisto ou se não explicar o fogo. Só a realidade é responsável pela verdade das frases; nem as crenças humanas nem as provas ou verificações são responsáveis pela sua verdade. Provas e verificações são as maneiras humanas de tentar eliminar crenças falsas e de tentar chegar às verdadeiras.
A factividade do conhecimento exprime-se muito simplesmente na frase seguinte: “Se alguém sabe que p, então p”. No lugar da letra pê ponha-se entre aspas uma frase qualquer com valor de verdade, como “A Terra é plana”. O que aquela formulação quer dizer resume bem a ideia de factividade do conhecimento; não significa que se sabe se a Terra é plana ou não, mas apenas que por análise conceptual elementar se conclui razoavelmente que se alguém souber que é plana, então é realmente plana. E, claro, como neste caso há boas razões para pensar que a Terra não é plana, isso quer dizer que nenhuma pessoa soube alguma vez na história da humanidade que é plana — ainda que tenha tido a convicção de que o sabia.
Considere-se agora o conceito de contingência alética, em contraste com a contingência temporal. Esta última não é denominada “contingência” na filosofia contemporânea para não fazer confusões escusadas. A contingência temporal é apenas a mudança ao longo do tempo, e isto é muito diferente da contingência no sentido alético mais robusto da metafísica contemporânea. (“Alético” quer dizer “referente à verdade”.) É banal que as pessoas podem ser montes de ossos inanimados, usando o sentido temporal de “pode”: as pessoas transformam-se num monte de ossos uns anos depois de morrer. E uma semente de nada transforma-se num carvalho imponente ao fim de décadas. Esta mutabilidade temporal, a transformação ou mudança, é muitíssimo diferente da contingência alética porque é trivial que umas coisas se transformam noutras, ou sofrem diferentes mudanças, mas não é trivial que Sócrates pudesse ser, no sentido alético, um monte de ossos inanimados. Quando os filósofos contemporâneos defendem que Sócrates era necessariamente humano, ao invés de o ser contingentemente, não querem dizer que ele não se transformou noutra coisa que não um ser humano — como um monte de ossos inanimados — mas antes que enquanto não se transformou noutra coisa era necessariamente humano.
Compare-se com a contingência aparente de ter nascido na Grécia. Se os pais de Sócrates tivessem viajado para o Egipto uns meses antes de ele ter nascido, ele teria nascido no Egipto. Não se trata de dizer que Sócrates, que nasceu na Grécia, se transforma noutra coisa e nasce no Egipto; trata-se de falar do mesmíssimo Sócrates que de facto nasceu na Grécia, e trata-se de dizer que essa entidade, sem se transformar noutra coisa, poderia ter nascido no Egipto. É este o sentido alético de contingência que urge não confundir com o temporal. Pois é perfeitamente razoável rejeitar a ideia de que Sócrates poderia, no sentido alético, ter sido um monte de ossos inanimados, e ao mesmo tempo aceitar a banalidade de que ele poderia sê-lo no sentido temporal.
Posto isto, pense-se agora numa frase qualquer p, sem pressupor que é verdadeira nem falsa. Dada a factividade do conhecimento, se alguém sabe que p, então p. Mas considere-se agora que p é contingente. Será que nesse caso alguém pode saber que p? O argumento de inspiração platónica é que não, precisamente porque o conhecimento é factivo e isso parece superficialmente exigir algo como uma estabilidade da verdade. Se p é agora verdadeira mas depois falsa, e dada a factividade do conhecimento, então não se pode realmente saber que p — porque quando se sabe que p, esta é verdadeira.
Esta é a confusão de sabor platónico. Como explicar o que está errado aqui? Claro que no tempo de Platão, em que praticamente nada se sabia de sistemático e profundo sobre o mundo empírico — a física e a biologia, e a engenharia e a química estavam a séculos de distância — a ideia não era tão obviamente tola como hoje. Prevê-se com precisão e explica-se com rigor o movimento dos planetas, manipula-se as reacções químicas e cura-se doenças como o sarampo — e tudo isto é conhecimento não de entidades platónicas fora do tempo e do espaço, mas antes de factos dinâmicos e pelo menos alguns deles talvez contingentes, seja no sentido alético seja no temporal.
Para os gregos era mais difícil descalçar esta bota devido a uma peculiaridade no entendimento do conteúdo mais profundo das frases, o que só se tornou completamente claro com os desenvolvimentos lógicos que se devem aos estóicos. Estes explicitaram a ideia desastrosa de que a mesmíssima frase “Está chovendo” (ou proposição, lekta) era verdadeira quando estava chovendo e depois falsa quando parava de chover no dia seguinte. Curiosamente, mesmo que as coisas fossem assim, o argumento de inspiração platónica contra o conhecimento das contingências seria inadequado, como se verá. O mais importante, porém, é que esta noção de frase, ou proposição, promove confusões desnecessárias porque não atende ao aspecto indexical, contextual, da linguagem.
Quando Yourcenar diz “eu” quer falar dela, mas quando Virginia Wolf diz “eu” quer falar de outra pessoa. Isto é óbvio porque termos como “eu”, “hoje”, “aqui” e quejandos são muito obviamente contextuais: o seu significado completo é dado pelo contexto de uso. O termo “eu” refere seja quem for que profere ou escreve o termo, e por isso refere diferentes pessoas em diferentes contextos. Só que o mesmo acontece com quase toda a linguagem: é muitíssimo sensível ao contexto. Quando alguém chega a casa vindo do supermercado e diz “Acabou-se o leite”, não quer dizer que se acabou o leite na sua cidade, no seu país, no planeta, na galáxia e no universo inteiro, mas antes e tão-só no modesto supermercado do seu bairro. Do mesmo modo, quando alguém diz “Está chovendo” quer apenas dizer que está chovendo naquele local e naquele momento e não em todo o universo e em todo o tempo. De modo que quando a mesma pessoa, no mesmo lugar, diz no dia seguinte “Não está chovendo” não há aqui qualquer contradição. Explicitando as coisas, a pessoa quer dizer “Está chovendo na Serra da Estrela às 15 horas do dia 5 de Novembro de 2018”, e no dia seguinte é outra frase que ela tem em mente.
Quando não se dá atenção a isto, já se vê como se cai na ideia esdrúxula de que não se sabe coisa alguma de contingente: uma vez que a mesma frase é ora verdadeira ora falsa, e uma vez que não se sabe senão verdades, nenhuma frase contingente é conhecida. Mas isto é um erro porque mesmo entendendo as frases deste modo inadequado, quando alguém sabe num dado momento e num dado local que está chovendo, é isso que ela sabe e não que está chovendo noutro local e noutro momento. Ela não sabe realmente, nem pode saber, que está chovendo no dia 6 se nesse dia não estiver chovendo, mas isso não a impede de saber que no dia 5 está chovendo se estiver chovendo nesse dia. Saber no dia 5 que está chovendo no dia 5 não é saber no dia 5 que está chovendo no dia 6, nem é saber no dia 6 que está chovendo no dia 6; não é saber coisa alguma quanto ao dia 6. Além disso, nada impede quem sabe no dia 5 que está chovendo nesse dia de saber no dia 6 que não está chovendo nesse dia.
Em suma, a suposta dificuldade epistémica de conhecer contingências é uma mera confusão — mesmo que se trate de contingências no sentido temporal e não alético. Mas no sentido alético é ainda mais evidente que a contingência não levanta qualquer dificuldade epistémica. Pois imagine-se de novo a pessoa que naquele chuvoso dia 5 sabe que está chovendo nesse dia. E imagine-se, o que é razoável, que poderia não estar chovendo nesse dia. Seria um erro dizer que ela não sabe que está chovendo no dia 5 só porque poderia não estar chovendo; o que é correcto dizer é que, na circunstância alternativa em que não está chovendo nesse dia, ela não sabe que está chovendo nesse dia. Mas quando alguém sabe no dia 5, e tal como as coisas são, que está chovendo, o que ela sabe não é que está chovendo em todas as circunstâncias alternativas, mas apenas naquela em que se encontra. No jargão da filosofia contemporânea, saber no momento t que chove em t no mundo actual não é saber em t que chove em t noutro mundo possível qualquer. Consequentemente, a contingência, seja ela no sentido propriamente alético, seja no sentido temporal, não é uma ameaça ao conhecimento, apesar de este ser factivo. E este é um dos muitos casos que ilustram o progresso impressionante da filosofia contemporânea e que, é de crer, teria maravilhado o próprio Platão.
Visite o site Crítica Na Rede


