Uma ortodoxia dialética?
..
Uma ortodoxia dialética?
Comentários sobre o livro História da liberdade religiosa, de Humberto Schubert Coelho
..
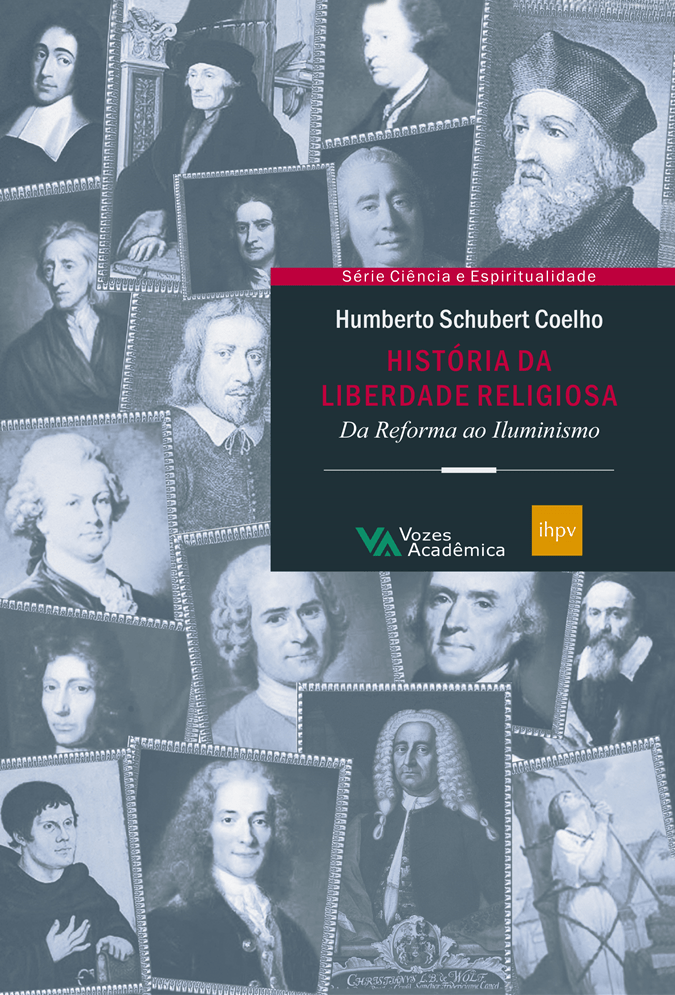
..
por Arthur Grupillo
..
A maior parte dos filósofos parece defender a liberdade religiosa despotencializando a religião. Não faz sentido brigar por qual marca de cerveja é a melhor, a não ser que alguém esteja perigosamente bêbado. Eles dizem “não briguem por religião, afinal de contas ela não é nada tão importante”. Mas, além de fácil, esse tipo de argumento parece um tanto quanto inútil. Por outro lado, bem diferente é quando alguém defende a liberdade de pensamento, opinião e publicação, um procedimento que boa parte dos filósofos, talvez a mesma parte que não dá muita importância à religião, acredita ser essencial à verdade científica ou filosófica. Neste caso, a liberdade não está fundada na (em última análise) irrelevância da coisa sobre a qual se exige liberdade; pelo contrário, está fundada na sua extrema relevância. Nenhuma contribuição razoável deve ser aqui desconsiderada. Mas, por que este modo de colocar a questão não é aplicado à liberdade religiosa? Por que não dizer “não briguem por religião” pois “precisamos que muitas vozes colaborem na empreitada humana de compreender pra valer a si mesma”, em vez de “não briguem por religião” simplesmente porque “isso não importa mesmo”?
Nesse sentido, o recém-publicado livro de Humberto Schubert Coelho, História da liberdade religiosa: Da Reforma ao Iluminismo (Vozes, 2022) é avis rara. É certamente um livro sobre liberdade religiosa que não repete aquela atitude de defender que as pessoas sejam livres para expressar sua religião ao mesmo tempo em que pede a elas para não se levarem muito a sério. Essa atitude, que teve seu auge no século XVIII, já se tornou inclusive até um tanto enfadonha, nas variadas conversas que temos ou livros que lemos por aí. Alguns se espantam que “em pleno século XXI” (e que temerária expressão!) ainda existam pessoas religiosas. Mais espantoso me parece que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas que pensam que não deveriam existir pessoas religiosas. Mas é notável, pelo estilo e pelos típicos problemas que coloca, que Schubert Coelho tem uma profunda sensibilidade religiosa, eu diria até “espiritual”. Ele é o tipo de escritor que resolve escrever um livro sobre liberdade religiosa não porque secretamente a religião não seja para ele lá muito importante, ou até porque pensasse abertamente, como fazem alguns, que seria melhor um mundo sem religião, mas exatamente pelo motivo contrário.
O livro é difícil de classificar. Sem dúvida é um livro de história, embora não de historiografia apenas. Em algum momento se torna quase um livro de introdução à história da filosofia, sobre o que falarei mais adiante. Mas também é um livro que às vezes ensaia, embora instigue e frustre um pouco o leitor toda vez que o faz, um questionamento tipicamente teo-filosófico sobre a natureza da “verdade” ou da “objetividade” em matéria de religião. Se ele não pensa que a religião é uma terra de ninguém, uma questão de gosto, onde a liberdade deve vigorar porque afinal a questão não é lá muito importante, então é porque ele pensa que algum tipo de cerne, de núcleo essencial, deveria ser resguardado. Mas o que é este núcleo? É muito provável que o livro deixe no leitor a impressão de ser um crítico da ideia de ortodoxia, isto é, de que uma determinada doutrina seja capaz de encerrar de maneira exclusiva a verdade religiosa. Por outro lado, é pouco provável que o livro seja uma apologia de heresias. Seria este núcleo um tipo de visão mística negativa, onde o divino certamente reside, mas sem que tenhamos o direito de devassá-lo e traduzi-lo em palavras e doutrinas exclusivas? Este é um problema complicado demais, então o livro às vezes prudentemente recua diante dele. Mas é absolutamente certo que, qualquer que seja a resposta a essa questão, o livro é um crítico da ideia de que o silenciamento, a perseguição e a violência sejam ferramentas justificáveis para lidar com ela. É triste reconhecer que seja necessário, mas dizer isto também não é uma coisa particularmente difícil.
Assim, o leitor encontrará ali um vasto apanhado de casos, episódios, teorias e personagens emblemáticos da história da liberdade religiosa. Encontrará, por exemplo, os casos de Francisco de Assis e Dante Alighieri, que o autor chama de “críticos gentis” da Igreja, e que com sua força moral abriram caminho à crítica da hipocrisia, tão central nos chamados pré-reformadores. Esta, segundo Coelho, deve ser diferenciada da crítica que tem maiores implicações doutrinárias. Mas ele adverte sobre os perigos que Francisco teria corrido, por exemplo, caso formulasse mais claramente certas ideias em outro contexto, como o da Reforma. Entretanto, essa diferença entre a crítica da hipocrisia e a crítica teológica parece ser apenas instrumental. Quando os reformadores questionavam a teologia da autoridade, alegando que um governante que contraria a Deus não poderia ter poder sobre um cidadão justo, pois isso equivaleria a dizer que o diabo tem direitos sobre Deus, estavam mais uma vez unificando dois lados de uma mesma crítica. Se pensamos, por exemplo, em uma parte do evangelicalismo contemporâneo, fica mais evidente que os fundamentos morais da Reforma parecem ter se perdido, restando apenas, e olhe lá, os motivos teológicos. Mas é claro que a Reforma tinha duas motivações, a moral e a doutrinária, e uma estava a serviço da outra.
O livro dá detalhes do processo de condenação e morte de Jan Huss, por exemplo, até a cena tenebrosa da incineração de suas últimas vísceras. Relata com cuidado o modo como muitas dissidências da Igreja romana se tornaram, elas mesmas, ortodoxias protestantes, e até teocracias conduzidas com mão de ferro, como na Genebra de Calvino e possivelmente na Zurique de Zwinglio. Tudo isso compassado entre comentários iluminadores sobre a natureza do problema que dá sentido à obra, como nesta passagem: “Não é possível negar, contudo, que as questões centrais da liberdade de crença e consciência, e de como as igrejas não sabiam lidar com ela na prática, ainda que a reconhecessem na teoria, perpassam todos os movimentos históricos elencados neste livro, e eram uma preocupação consciente de todas as suas personagens” (p.70).
O autor também dedica várias páginas às diversas guerras religiosas, como a Guerra dos Trinta Anos e a Guerra Civil Inglesa, e suas repercussões ou correspondências na França e em outras partes da Europa. Não deixa de dar a devida importância a processos paradigmáticos como o de Giordano Bruno e tem um capítulo bastante interessante sobre as ideias religiosas de Fénelon e Pierre Bayle. O leitor vai se surpreender com a origem da palavra “Pennsylvania”, que dá nome a um importante estado norte-americano, e como está ligada à presença do jovem quaker William Penn nos Estados Unidos. Entre as ideias religiosas, e não tanto os acontecimentos, o livro tem a particular sensibilidade de dar um justo espaço a Jacob Böhme, o místico sapateiro alemão que alimentaria o puritanismo e o pietismo, marcando de maneira decisiva a cena cultural e filosófica germânica, uma influência muitas vezes menosprezada por historiadores da filosofia. Ouso dizer que a presença de Böhme é como um espectro que ronda o livro e faz aparições repentinas aqui e ali, por exemplo, num capítulo sobre Isaac Newton.
Em algum momento, contudo, o livro se torna uma introdução à história da filosofia. Isso não é exatamente um demérito, mas talvez ajude a lançar luz sobre um problema em geral pouco enfatizado, isto é, como a liberdade religiosa, uma questão social dramaticamente onipresente no mundo moderno, pauta, motiva e configura a própria filosofia. Este é um dos objetivos da narrativa de Schubert Coelho, explícito em frases como “os manuais de história da filosofia hipervalorizam o surgimento da ciência” ou “a Reforma e as guerras religiosas são outros fatores impossíveis de se ignorar, mas frequentemente olvidados em favor de uma leitura mais linear, simplista e centrada no conhecimento” (p.157). É nesse sentido, então, que seu livro também pode ser lido, como uma história alternativa da filosofia, na qual a religião, em suas faces políticas e metafísicas, continua sendo uma questão humana central como sempre foi, e na qual figuras como Erasmo de Roterdã, Jacob Böhme e Emanuel Swedenborg podem ser tão importantes quanto Bacon, Descartes e Hume. Esta sem dúvida não é uma tese qualquer.
E, no entanto, estão lá Bacon, Descartes, Hume, Voltaire, Rousseau e outros tantos nomes canônicos ao lado de alguns nem tanto, sempre se mantendo a perspectiva da contribuição de cada um desses “episódios”, e não só ideias, para uma história de liberdade religiosa. É verdade que muitas vezes o episódio vai para segundo plano, e as ideias assumem a dianteira. De certa forma, o livro só é uma história da liberdade religiosa, estritamente falando, principalmente quando trata do movimento reformador, que não foi só um movimento de intelectuais, mas também um movimento popular e de complicadas marcações políticas. O mesmo se pode dizer do capítulo dedicado à “mudança geral de mentalidades”, de breves incursões pela história russa e portuguesa, e do capítulo sobre a Revolução Americana. Mas também é preciso reconhecer que a criação de dissidências, heresias e inovações teológicas é muito frequentemente um produto de mentes pensantes, mais que de fígados convictos ou corações ambiciosos, por isso essa história se converte, em determinado momento da obra, em uma história da filosofia.
A liberdade é aqui menos liberdade de culto do que liberdade de pensamento. Podemos dizer que a maioria das heresias são filosofias. A grande exceção talvez seja a Reforma, que foi mais um apelo à liberdade de interpretação e culto do que à liberdade filosófica de conceber a divindade. Isso torna, inclusive, questionável se ela merece o nome de uma heresia ou se, pelo contrário, em muitos momentos reivindicou uma ortodoxia que projetava sobre a própria Igreja romana a imagem da heresia, o que explica também, em parte, porque foi um movimento amplamente bem-sucedido, em comparação com outros. A Reforma não era uma filosofia, como o espinosismo ou o deísmo. Certamente essa tese pode ser problematizada, uma vez que, na ausência de uma teologia oficial, o protestantismo ficava, a cada vez, dependente de uma determinada filosofia para elaboração da sua teologia, uma questão posteriormente levantada pelo jovem Heidegger. Depois da Reforma, contudo, a liberdade passa a ser mais enfaticamente liberdade de pensamento, e nesse sentido confunde-se com a filosofia ela mesma.
Mas tudo isso compõe, por assim dizer, o explícito do livro. Sobre tudo isso o livro é diverso, rico em exemplos históricos e doutrinários de todo tipo e de grande valia para uma narrativa de como esses casos ajudaram a formar o mundo de relativa liberdade que temos hoje, com todas as ressalvas possíveis e imagináveis a essa afirmação. Mas não é meu objetivo aqui fazer uma possível resenha, e sim colocar questões para um possível debate, e elas incidem precisamente sobre a parte implícita do livro, sobre aquilo que eu suponho ser o motivo secreto e inconfesso da obra. Se eu estiver errado, pelo menos terei provocado o autor, se ele quiser, a tocar na ferida teórica mais difícil de sarar.
O livro parece atingir certa culminância quando passa em revista brevemente a correspondência entre Leibniz e Samuel Clarke, este último um autêntico filósofo da moral ainda por ser descoberto. Provavelmente, Clarke – aqui supostamente defendendo uma metafísica com a qual Newton concordaria – indignava-se com as críticas de Leibniz, as quais sugeriam que o pensamento dos dois ingleses era materialista e espinosista e, do ponto de vista religioso, herético, arianista ou socianista. Para os próprios Clarke e Newton, isso não procedia – Newton repudiou a associação do seu pensamento com o arianismo –, pois o conceito de força atrativa apontava para um aspecto não mecanicista, e sim metafísico, do mundo físico. Clarke e Newton tomavam como absurdas as críticas de Leibniz porque acreditavam estar formulando uma metafísica de acordo com as Escrituras e sem intenções heréticas, embora dificilmente conformista. Schubert Coelho formula, então, uma passagem digna de nota, que reproduzo aqui integralmente:
“Apesar de entenderem os ataques como ofensivos, no entanto, Newton e Clarke, como o próprio Leibniz, estavam muito à frente do comprometimento passional com que quase qualquer pessoa de sua época ou épocas anteriores discutiam assuntos de fé e os conceitos filosóficos que os embasavam. Eram já homens de ciência entretidos em uma acirrada disputa sem que nenhum deles imaginasse que as posições do outro deveriam ser silenciadas. Chegar a esse ponto foi a conquista de todos os autores que os precederam, e dos quais vimos algumas contribuições. Estranho quanto possa parecer ao leitor contemporâneo, ambos os grupos envolvidos na controvérsia acreditavam estar defendendo o sistema cosmológico e metafísico correto, o único harmônico com as Sagradas Escrituras e diante do qual todo o leitor entendedor deveria ao final exclamar “aleluia e amém”.” (p.197-8).
Ora, nesta passagem encontra-se in nuce tudo o que me parece da maior importância na questão toda, isto é, saber se podemos transpor não exatamente os procedimentos, mas a disposição de ânimo dialógica e dialética, típica do homem de ciência, para a religião. Isso é algo que merece a mais cuidadosa reflexão, e já insisti sobre o assunto em outros textos, como quando sugeri que atualmente vivemos em circunstâncias “pós-filosóficas” ou quando defendi que um ortodoxo como Chesterton tinha, diante do seu objeto, a mesma humildade de um homem de ciência como Darwin. A passagem destacada indica, parece-me, que o problema central da liberdade religiosa não está na mera ideia de ortodoxia ou de que haja, em geral, alguma ortodoxia, mas sim em uma espécie de disposição psicológica, que pode ser, por exemplo, o medo ou o ódio. E o mais importante: nenhuma disposição psicológica deriva imediatamente de uma ideia ou de uma concepção filosófica. Nenhum afeto pertence essencialmente a um conceito. Alguém pode defender uma visão pós-moderna e relativista do mundo mais ferozmente do que outro faria com uma metafísica realista, e este é o ponto que me parece crucial.
O próprio Schubert Coelho o reconhece quando, comentando o Terror em que a Revolução Francesa se meteu, destaca como filósofos e filósofas, a exemplo de Madame de Staël, mudam de percepção sobre os progressos do movimento. Ele lembra bem como “Benjamin Constant, E. Burke e W. von Humboldt não deixavam de pasmar com o fato de que ideias tão boas poderiam ter estimulado tamanhas atrocidades” (p.323). O autor não permite passar despercebido o fato de que, uma vez que a religião estava associada ao Antigo Regime, a revolução inspirada radicalmente por ideias antirreligiosas matou em poucos anos mais pessoas “do que em 300 anos de Inquisição Espanhola” (p.318). Qual seria, portanto, de fato o cerne da questão?
Ao tratar da controvérsia entre Agostinho e Pelágio, por exemplo, Schubert Coelho parece tão preocupado em assinalar os perigos envolvidos na ideia de ortodoxia quanto em mostrar o que a própria ortodoxia perde, quando um zelo excessivo produz uma imagem hipertrofiada de uma determinada visão doutrinária que, vista mais de perto, poderia ser considerada mais uma questão de ênfase, no fundo perfeitamente ortodoxa. O autor está convencido de que os opositores de Pelágio hiperdimensionaram o que seria uma produtiva disputa teológica, transformaram um ajuste enfático em um “grave erro doutrinal”, tornando-se assim míopes para o que de fato se estava dizendo, o que poderia ser de valor para a própria ortodoxia. Em exemplos como este, não é própria ideia de ortodoxia que parece incomodar, mas antes os dispositivos de poder que estão sempre à espreita na sua aplicação. Isso empobrece a própria Igreja. Neste caso, parece-me que o autor quase sugere uma concepção dialógica ou dialética de ortodoxia, em vez de simplesmente repudiá-la. Mas pode ser também que eu esteja mirando um espelho.
Por excesso de zelo em se apontar o que seria um grave erro, pequenos erros são sobrevalorizados e outras formulações, que nem sequer seriam erros, são vistas como tais. Com isso uma parte importante da verdade se perde. Além disso, a instalação de uma ortodoxia exige frequentemente uma “condenação” e tem até o poder de converter-se no seu contrário, como quando os professores alemães repudiam as teses de Jan Huss de maneira ilógica e indiscriminada, abdicando de discutir se eram realmente ortodoxas ou heréticas. Em outras palavras, o problema poderia estar menos no próprio conceito do que no seu uso como selo, como estigma, o que poderia inclusive infringir o próprio sentido do conceito.
Só a Providência pode explicar porque Francisco de Assis não foi condenado como herege quando enfrentou o conservadorismo monástico e lembrou que os frades deviam andar no meio do povo, ou quando Tomás de Aquino sugeriu que a teologia cristã mais se beneficiava da filosofia de Aristóteles, naquele momento lido pelos árabes, do que da de Platão. Ambos estavam ajustando a rota da teologia cristã em poucos centímetros, o que não significa que Agostinho fosse pura e simplesmente um herege – e lavo a boca com sabão só de mencionar uma coisa dessas –, mas sim que de fato havia ali um pequeno ajuste a ser feito. Isso talvez indique que o conceito de ortodoxia seja mais comparativo que superlativo. Que não podemos dizer, a rigor, e de uma vez por todas, o que é a ortodoxia, mas certamente podemos dizer que uma formulação é mais ortodoxa do que outras. Isso ajuda muito a redefinir as coisas. Pelágio poderia deixar de ser um herege para ser um teólogo menos ortodoxo do que Agostinho, como este é menos ortodoxo do que Tomás. Mas isso não significa que gnosticismo e maniqueísmo deixariam de ser heresias por um passe de mágica.
Mas e quanto aos perigos da própria ideia de que haja uma ortodoxia? Sobre isso vale a pena aludir a alguns casos. No movimento de interpretar livremente as Escrituras, iniciado por Ockham e que explode com Wycliffe e Huss, observa o autor, “o que está em jogo é o retorno ao que é dito (…) e, principalmente, a introdução de uma noção filosófica de liberdade de juízo, compreensão e interpretação” (p.42). Isso configura uma dialética realmente produtiva. Não se trata da liberdade pura e simples, da diversidade pela diversidade, mas da liberdade de ser ortodoxo quando a própria teologia oficial se torna herética. É um movimento da teologia contra a política! E não é esta a essência do profetismo, tanto judaico quanto cristão? O processo da maioria dos reformadores mostra o quanto eles estavam convencidos de estar na verdade, uma verdade independente de si próprios; não podiam negá-la sem “mentir perante Deus”. A mesma disposição, parece-me, anima igualmente Clarke, Newton e Leibniz. O verdadeiro problema parece estar em alguma outra parte.
O controverso processo de Joana D’Arc, que o autor descreve, termina com sua reabilitação pela Igreja, “que nela não viu nenhuma heresia e tomou o julgamento por politicamente motivado” (p.48). Quantos casos não poderiam ser reconsiderados assim? Quantos processos, perseguições e condenações contêm a religião apenas como o seu invólucro, mas no cerne são acontecimentos da história política? O que eu quero dizer, obviamente, não é que as guerras religiosas, por exemplo, não foram religiosamente motivadas. Certamente foram! Seria temerário e errôneo dizer o contrário. O que eu me pergunto é se a disposição para silenciar, perseguir e assassinar segue-se imediatamente de uma ideia religiosa ou se, em grande medida, é a ânsia do poder secular que está sempre disposta a instrumentalizar as ideias religiosas. Não acho, sinceramente, que seja uma questão fácil, mas é pelo menos uma questão legítima.
Ortodoxia e heresia compõem um par conceitual poderoso, essencial em assuntos teológicos, mas que se torna perigoso precisamente num contexto de promiscuidade entre Igreja e os poderes mundanos. É um par conceitual sobre o qual os olhos crescem, presente inclusive em muitos movimentos seculares, como o marxismo ou a psicanálise. É razoável para qualquer pessoa interessada seriamente na vida esperar que um movimento baseado em ideias, ao qual venha eventualmente a se associar, requeira uma determinação plausível do seu centro e dos seus limites, o que é completamente diferente de procurar na política a força de sua imposição. Não por acaso, Schubert Coelho, na esteira do brilhante historiador americano Brad Gregory, reconhece que a secularização só alterou os motivos dos conflitos entre grupos religiosos, que hoje entram em choque não mais por questões doutrinárias, mas sim por questões essencialmente políticas, externas à religião. Eu acrescentaria que membros de um mesmo grupo religioso estão hoje brigando por esses mesmos motivos. As últimas eleições dividiram irmãos na fé de uma mesmíssima igreja.
Desde que Walter Bauer publicou o seu clássico “Ortodoxia e heresia no cristianismo mais antigo” (Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Chistentum), de 1934, o debate sobre este par de conceitos tornou-se enevoado. A tese segundo a qual a “ortodoxia” nada mais é do que uma heresia que venceu e suprimiu rivais contém duas implicações aparentemente incompatíveis. De um lado, o par não é abandonado, mas apenas invertido. Então ele de certa forma permanece. A heresia suprimida era a ortodoxia. E, por outro lado, suscita desconfianças e um clima de conspiração, na medida em que faz tudo recair sobre questões de poder. Disso o cinema, a literatura popular de curiosidade e mais recentemente a internet estão repletos.
Schubert Coelho é cuidadoso ao afirmar, logo de início, que “é importante não confundir a constatação de que houve supressão de doutrinas por parte de um partido que se assume como ortodoxia com uma tese conspiratória sobre a “verdade oculta”” (p.22). Ele reconhece que se trata de um processo universal e inevitável, mas enfatiza o caráter “relativamente autoritário de todos os processos de estabelecimento de ortodoxias”. Embora isso seja verdade em muitos casos, sobretudo para o recorte do livro (Da Reforma ao Iluminismo), é possível que o problema seja bem mais complicado na história antiga.
O renovado interesse pelo tema das ortodoxias e heresias, provavelmente estimulado por uma cultura antiautoritária mas também pelo ambiente de desconfiança e conspiração criado por tendências filosóficas desconstrucionista empenhadas em “desmascarar” verdades em último caso instaladas por mecanismos de poder, tem produzido, por outro lado, uma pesquisa mais recente bastante perturbadora – posso mencionar aqui pelo menos o interessante texto do teólogo galês Rowan Williams intitulado “Faz sentido falar de ortodoxia pré-nicena?” (Does it make sense to speak of pre-Nicene orthodoxy?). Para essa pesquisa mais recente, a diversidade não emergiu repentinamente do enfrentamento a uma ortodoxia poderosa, mas esteve presente desde o início. Temos de lembrar – o que muitas vezes é esquecido – que o cristianismo primitivo era marginal, destituído de poder e influência, mas que suas diversas comunidades espalhadas lutaram pela unidade visitando-se frequentemente e mantendo regular correspondência epistolar. Assim, temos o exemplo do estabelecimento de uma ortodoxia que não encaixa no modelo rígido de vencedores poderosos contra perdedores silenciados, mas que se parece a uma busca mais ou menos dispersa, porém esforçada, de autenticidade.
Isto porque essa busca visava dar uma formulação conceitual mais ou menos sólida a um “saber de fé” ou experiência anterior mais básica, isto é, o cristianismo como forma de vida. Nesse sentido, as formulações conceituais nem sempre estavam à altura do esplendor daquela experiência e maravilhamento iniciais. Neste caso, o teólogo contemporâneo – assim como o cristão contemporâneo – surpreende-se reencontrando o filósofo no seu “amor à verdade”, mais do que possuindo essa verdade. Até mesmo um teólogo como Tomás nos adverte, logo nos começos da Summa, ao tratar da questão sobre se a vontade é um poder superior ao intelecto, que isso depende do objeto considerado. Assim, quando o objeto da vontade é menos nobre do que a alma, então neste caso o intelecto é superior à vontade, mas quando o objeto da vontade é mais nobre do que a própria alma, então neste caso a vontade é superior ao intelecto. Donde se segue que o conhecimento das coisas corpóreas é superior ao amor por elas, mas, em sentido contrário, “o amor de Deus é melhor do que o conhecimento de Deus”.
Ora, o cristão contemporâneo tem tudo para estar mais ciente das suas limitações e dos riscos que corre. Possui uma imensidade de casos na história com os quais pode aprender, a fim de não se enganar sobre as aproximações diabólicas com o poder. Mas o seu amor não se tornou menor. Ele não abdicou ainda de dar uma formulação conceitual àquilo em que verdadeiramente acredita. Se colocada desta maneira, a partir de um estado de ânimo amoroso, a ideia de ortodoxia sobrevive, mas se afasta sabiamente dos mecanismos de poder com os quais, é bem verdade, andou demasiadas vezes de mãos dadas, mãos nas quais havia muitos desastres.
..

..
..

